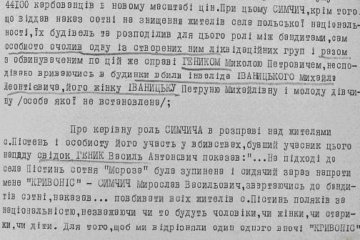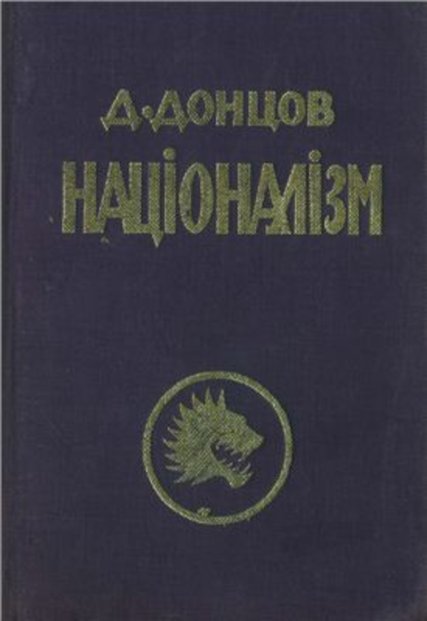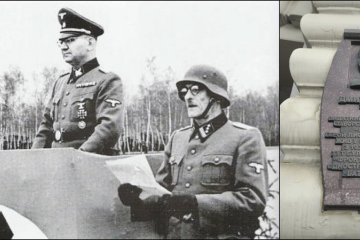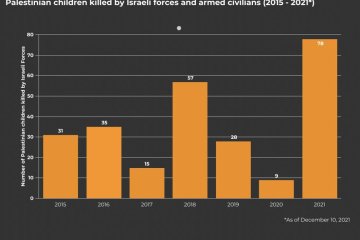Em numerosos comentários e opiniões que proliferam a propósito da situação actual nos territórios da Palestina conhecidos como Israel, sobretudo depois das grandes manifestações em curso contra o governo, existe a convicção de que o problema único é o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Isto é, uma vez que este se demita ou seja demitido, a crise ficará resolvida e tudo regressará à paz do senhor com a continuação da metódica limpeza étnica dos palestinianos.
Puro engano, piedosa ilusão. Nada voltará a ser como dantes no chamado «Estado judeu».
A dedução é objectiva e resulta da inevitável realidade que um dia teria de chegar: a terrível batalha existencial ideológica e religiosa que se trava no interior do sionismo – a doutrina racista e supremacista em que assenta o Estado de Israel – entre os sectores seculares e os religiosos fundamentalistas; ou «entre a lei do povo» e a «lei de Deus», nas palavras significativas, embora simplistas, de uma participante numa das recentes gigantescas manifestações em Telavive.
A «lei do povo» é a falácia em que tem assentado historicamente o Estado de Israel, desde a sua fundação como colónia ocidental na Palestina para garantir o controlo imperial em todo o Médio Oriente. Uma falácia em que propagandisticamente viveu o próprio sionismo na fase inicial após o nascimento, no final do século XIX e início do século XX, quando o fundador oficial da doutrina, o judeu austríaco e asquenaze Theodor Herzl, a proclamou como um sistema secular e de inspiração política europeia (a que hoje se chama liberal); e que tinha como tarefas mobilizadoras «o regresso (dos judeus) à Terra Prometida» porque a Palestina mais não era do que «uma terra sem povo para um povo sem terra».
Esta é, desde o início, a contradição fatal do sionismo: entre a propaganda secular que prevaleceu mitologicamente como única até 1925; e a essência autêntica e, de facto, original da doutrina expansionista, o seu cariz religioso e fundamentalista exposto pelo conceito bíblico de «Terra Prometida» e consequente ocupação de uma «terra sem povo» ou, em termos quantitativamente mais objectivos, um território abusivamente povoado por bárbaros e incivilizados. Em boa verdade, o sionismo nasceu desde logo contaminado pela inevitabilidade religiosa, apenas tacticamente escondida.
Todos os primeiros chefes do governo desde a fundação do Estado de Israel incarnaram esta dualidade inconsistente dizendo-se seculares em política e religiosos na vida pessoal, ambiguidade indispensável para garantir a fachada de respeito pelas normas das democracias ocidentais, como por exemplo a separação entre a Igreja e o Estado, imprescindível para a tentativa de credibilizar a já tão estafada proclamação como «única democracia no Médio Oriente». Ou, como garante hoje o primeiro-ministro Netanyahu, enquanto procede à sangrenta solução final dos palestinianos, para assegurar «a defesa da civilização ocidental» na região.
«Em boa verdade, o sionismo nasceu desde logo contaminado pela inevitabilidade religiosa, apenas tacticamente escondida.»
Merece uma curta reflexão o facto de esses dirigentes políticos israelitas, esmagadoramente asquenazes e colonos, por serem de origem europeia, terem o cuidado de se declarar religiosos. Esta é a única premissa que assegura indubitavelmente o seu judaísmo, porque o semitismo de muitos desses europeus provavelmente é residual ou nulo. Caso contrário, se desdenhassem o factor religioso pessoal, estaríamos então perante mais um traço da caricatura de antissemitismo imposta como versão oficial e que serve a Israel para acusar todo o resto do mundo de ser antissemita. Assim sendo, os próprios pais fundadores não seriam semitas nem religiosos, falsificando à partida o cariz judaico do novo Estado e denunciando à vista desarmada o seu papel exclusivo e artificial de colónia dos poderes ocidentais no Médio Oriente.
Início do fim do «sionismo secular»
A falácia fundadora do sionismo sobreviveu muitas décadas desde a instauração do Estado, enquanto se desenvolvia a continuada colonização dos territórios árabes, um processo ilegal só possível graças à tolerância e cumplicidade da ONU, dos Estados Unidos e dos países envolvidos na integração europeia: primeiro nos territórios atribuídos à população árabe através do acordo de partilha aprovado em 1948 pelas Nações Unidas; a partir de 1967 e da chamada Guerra dos Seis Dias, nas regiões palestinianas de Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Leste ocupadas nessa altura, permitindo a instalação de colonatos em vastas áreas roubadas pelo regime sionista à população original. Nas quais habitam agora quase 700 mil judeus fundamentalistas fanáticos oriundos de todo o mundo, a esmagadora maioria sem quaisquer raízes étnicas na Palestina.
Esta brutal e massiva violentação demográfica, desde sempre com o cariz de uma limpeza étnica, como estava escrito, feriu de morte a falácia do sionismo secular. O sionismo real, fascista, ferozmente racista e segregacionista, que tem no horizonte a expulsão de todos os palestinianos, tomou o poder ao longo das décadas mais recentes e aí pretende ficar eternamente «por vontade de Deus», respeitada e cumprida por intermédio de «profetas» autodidactas e terroristas que se consideram por ele mandatados para garantirem o seu papel justiceiro na Terra aplicando à letra a mitologia aterradora do Velho Testamento.
É longo o desfile dos «heróis nacionais» ucranianos proclamados pelos dirigentes do actual regime e que, directamente ou como colaboracionistas, fizeram parte do aparelho nazi de extermínio. O maior cego é aquele que não quer ver Em Outubro do ano passado, o Parlamento e o presidente da Ucrânia proclamaram como «herói nacional» ucraniano um indivíduo de nome Miroslav Simchich, que completou 100 anos neste mês de Janeiro1. Simchich, que morreu no passado dia 18, é uma personagem de culto do regime de Kiev e foi agraciado como figura militar e pública pelos «seus méritos na formação do Estado ucraniano e pelos muitos anos de actividade política e social frutuosos». Miroslav Simchich (Krivonis) é um nazi, um criminoso de guerra. Foi destacado dirigente da entidade terrorista designada Organização dos Nacionalistas Ucranianos, mais conhecida por OUN, e do seu braço armado, o Exército Insurgente da Ucrânia (UPA). Estes grupos tiveram como um dos fundadores e figura de referência o conhecido colaboracionista nazi Stepan Bandera, nome identificado como um dos principais dirigentes e proselitista do chamado «nacionalismo integral» ucraniano, inspiração ideológica dos grupos terroristas de inspiração nazi que enquadram os actuais governo e Estado ucranianos. O objectivo contido na palavra de ordem institucional proclamada pela UPA, associado à doutrinação do nacionalismo integral, era «um Estado ucraniano etnicamente puro ou morte». No período a seguir à Segunda Guerra Mundial, Bandera instalou-se na Alemanha ao serviço do MI6 e da CIA, respectivamente serviços secretos britânicos e norte-americanos. A reciclagem «democrática» de bandidos nazis foi um método utilizado pelos Estados Unidos, potências ocidentais2 e, posteriormente, pela NATO, de uma maneira sistemática e sustentada. Bandera é, como não podia deixar de ser, «herói nacional» da Ucrânia: estátuas distribuídas por todo o país, marchas anuais em sua honra, sobretudo em Lviv, romagens oficiais ao seu túmulo; recentemente, a principal avenida de Kiev foi rebaptizada com o seu nome. Para os nazis de hoje na Ucrânia, uma das referências míticas é a Divisão Galícia3, unidade da UPA associada de maneira lendária ao culto actual de Bandera4 que a partir de 19435 lutou ao lado das tropas hitlerianas ocupantes da União Soviética6. Estudar a biografia do criminoso de guerra e novo «herói nacional» da Ucrânia Miroslav Simchich não é uma tarefa linear, sobretudo através da internet, porque numerosos sites sobre o assunto, especialmente os relacionados com os massacres de polacos, judeus, resistentes ucranianos, russos e soviéticos em geral, cometidos entre 1941 e 1945, estão censurados sob mensagens advertindo que se trata de «páginas de conteúdo perigoso». Investigar a história, conhecer mais sobre os pesadelos que encerra pode, ao que parece, fazer mal aos cidadãos. Abundam, pelo contrário, as informações sobre as actividades «heróicas» de Simchich contra o Estado soviético e lamentos sobre os longos anos que passou, por conta delas, «nos campos de trabalho bolcheviques». Há teses e investigações, porém, que escapam à malha censória, sobretudo os trabalhos que foram executados por alguns professores norte-americanos de universidades elitistas da Ivy League, como a de Yale. O professor Keith A. Darden, precisamente de Yale, conversou com Simchich e ouviu-o proclamar que «os objectivos nacionais justificavam as formas mais extremas de violência e considerável sacrifício»7. Entre a Primavera de 1941 e o Verão de 1943, a OUN (B), organização comandada por Stefan Bandera depois de uma cisão com a facção Melnik, considerada «moderada», e a UPA dedicaram-se a uma metódica limpeza étnica dos polacos das regiões da Volínia e da Galícia Oriental8. Tratava-se de «purificar», na perspectiva ucraniana, os territórios soviéticos então sob ocupação alemã e que, de acordo com as suas previsões e desejos, seriam integrados numa Ucrânia independente com a vitória da Alemanha Nazi. No primeiro ano da presença alemã no território ucraniano soviético a OUN exortou os seus membros a participarem no extermínio de pelo menos 200 mil judeus na região da Volínia. Além disso, criou a Milícia Popular Ucraniana, que realizou pogroms por sua própria iniciativa e colaborou com os invasores alemães a prender e executar cidadãos polacos, judeus, comunistas, soviéticos e resistentes em geral9 Ainda antes do início da Grande Guerra, os nacionalistas integrais da Ucrânia realizaram frequentes pogroms durante os quais assassinaram dezenas de milhares de compatriotas com origem judaica. Simchich explicou que os participantes nas chacinas não manifestavam quaisquer remorsos pelos seus actos, apesar de as vítimas serem quase exclusivamente civis – homens, mulheres e crianças, tanto fazia. Cumpriam, disse, a divisa da OUN segundo a qual «a nossa única diplomacia é a arma automática»10. Como se percebe, olhando para o que se passa hoje, há coisas que nunca mudam para as cliques ucranianas nacionalistas/nazis. Os terroristas da OUN(B)/UPA guiavam-se pelo decálogo da organização, bastante elucidativo em termos programáticos. O sétimo mandamento reza assim: «Não hesitar em cometer o maior crime se o bem da causa assim o exigir». O oitavo mandamento recomenda que se olhem «os inimigos com ódio e perfídia»; e o décimo estipula que os ucranianos devem «aspirar a expandir a força, a riqueza e dimensão do Estado ucraniano mesmo através de meios que transformem os estrangeiros em escravos». Transcorreram oitenta anos, mas o tempo não passou por sucessivas gerações de nacionalistas integrais ucranianos até à actual. Consultemos a lei dos povos indígenas promulgada há um ano pelo presidente Volodymyr Zelensky, herói de todo o Ocidente, e ali se inscreve a discriminação e a recusa de direitos aos não-ucranianos, como por exemplo o ensino e o uso das línguas pátrias e a proibição de meios de comunicação nesses idiomas. Nos termos da mesma lei, só os cidadãos considerados ucranianos «têm o direito de desfrutar plenamente de todos os direitos humanos e de todas as liberdades fundamentais».11 As crianças são formadas, desde tenra idade, no espírito segregacionista e xenófobo dessa lei; nos livros escolares oficiais ensina-se, por exemplo, que «os russos são sub-humanos». Miroslav Simchich [Krivonis], orgulha-se de ter sido pessoa destacada nos massacres de 1941 a 1943, comandando as unidades que dizimaram as aldeias polacas de Pistyn e Troitsa12 13 e ordenando pessoalmente o assassínio de mais de cem pessoas entre polacos, judeus e ucranianos. O cariz da OUN(B)/UPA, organização da qual se consideram herdeiros os vários grupos nazis que controlam o actual governo de Kiev, pode avaliar-se também pelo facto de entre os ucranianos dizimados estarem não apenas resistentes ao nazismo, mas também membros da facção dissidente de Melnik, OUN(M), mais inclinada para negociações e alinhada ideologicamente com o fascismo italiano. Mais de cem mil polacos da Volínia, Galícia Ocidental e até de Kiev foram chacinados entre 1941 e 1944 em consequência da colaboração íntima operacional entre as tropas de assalto nazis envolvidas na invasão da União Soviética e as organizações de inspiração banderista/nacionalismo integral. Com eles foram assassinados ainda dezenas de milhares de judeus, resistentes ucranianos, cidadãos soviéticos, húngaros, romenos, ciganos, checos e de outras nacionalidades que manchavam a «pureza» nacional ucraniana. No «domingo sangrento», 11 de Junho de 1941, unidades da OUN arrasaram cerca de 100 aldeias polacas da Volínia, incendiaram as casas e assassinaram pelo menos oito mil pessoas – homens, mulheres e crianças. Os ocupantes alemães receberam ordens para não intervir; porém, oficiais e soldados das tropas nazis forneceram armas e outros instrumentos para o massacre em troca da partilha do saque. Outro dos acontecimentos mais sangrentos desta limpeza étnica foi o massacre de Babi Yar, em 29 e 30 de Setembro de 1941, no qual mais de 30 mil judeus, prisioneiros de guerra e resistentes soviéticos foram fuzilados num desfiladeiro então nos arredores de Kiev por acção conjunta das Waffen SS e de grupos nazis/nacionalistas que afirmavam defender a independência do seu país. Duzentos mil polacos fugiram para regiões mais a Ocidente logo no início das matanças; oitocentos mil seguiram posteriormente o mesmo caminho, aterrorizados pela cadência e a crueldade das operações, na sequência das quais nada restava dos agregados populacionais invadidos, incendiados e saqueados. O número de cem mil mortos é calculado pelo Instituto de Memória Nacional da Polónia, ciente de que a organização de Bandera decidiu, em Fevereiro de 1943, expulsar todos os polacos da Volínia para obter «um território absolutamente puro». Pelo que o colaboracionismo absoluto da Polónia de hoje com um regime que tem as suas raízes nestas práticas genocidas é um insulto à memória de todos os cidadãos polacos e de outras nacionalidades vítimas desta limpeza étnica. Escrevem autores norte-americanos com investigações dedicadas a estes acontecimentos que a partir de Março de 1943 «unidades da UPA montaram um esforço concertado para aniquilar as populações polacas da Volínia e depois da Galícia Oriental». Nessa vertigem de morte nem os cidadãos polacos que pretendiam negociar foram poupados, logo assassinados a sangue-frio. A UPA foi oficialmente fundada em 14 de Outubro de 1942. Muito significativamente, 14 de Outubro tornou-se o dia das Forças Armadas na actual Ucrânia «democrática». Perguntaram ao «herói nacional» da Ucrânia Miroslav Simchich quantos russos matou ao longo da vida, ao que ele respondeu: «tantos quanto o tempo que tive para isso». Hoje, aquele que ficou conhecido como «o maior carrasco de polacos vivo», é «cidadão honorário» de Lviv e de Kolomyia, a terra da sua naturalidade, onde tem uma estátua com três metros de altura. Em 2009, o regime de Kiev, ainda mesmo antes do golpe de Maidan, dedicou-lhe o filme «heróico-patriótico» intitulado A Guerra de Miroslav Simchich. Note-se que os Estados Unidos e a Alemanha Federal recorreram no pós-guerra à experiência de Bandera e dos seus sequazes para efeitos de guerra fria. O habitual. O escritor e crítico literário Dmytro Dontsov14 é considerado o pai do nacionalismo integral «de características ucranianas», aparentado – mas único – com o movimento integralista que percorreu a Europa a partir da segunda década do século XX. Conviveu com o francês Charles Maurras, que terá figurado entre os inspiradores do ditador Oliveira Salazar, seguindo depois cada um o seu caminho embora coincidindo ideologicamente no essencial: Maurras identificou-se com o colaboracionismo hitleriano do governo pétainista de Vichy e Dontsov instalou-se temporariamente na Alemanha de Hitler: o ovo do nacionalismo integral ucraniano desenvolveu-se na serpente do nazismo, complementaridade que se tornou marcante até hoje. Grupos que controlam o actual governo da Ucrânia, como o Azov, o Aidar, o C-14, Svoboda, Sector de Direita e outros, com as respectivas milícias paramilitares e unidades integradas nas Forças Armadas regulares do país, consideram-se herdeiros da linha ideológica fundamentalista traçada por Dontsov e Bandera, miscigenando o nacionalismo integral com o nazismo, circunstância que se tornou operacional através das chacinas étnicas em território polaco-ucraniano a partir do início da invasão da União Soviética pelas tropas hitlerianas. A ambição de uma Ucrânia com uma população «pura» e «homogénea» não se extinguiu nos dias de hoje, como é patente pelas operações de limpeza étnica e genocídio da minoria russa da região do Donbass desencadeada após a chamada «revolução de Maidan» em 2014; a qual, segundo o chefe do grupo C-14, Yehven Karas, não teria passado «de uma parada gay» se não fosse o envolvimento das organizações de inspiração nazi como a sua. Uma carnificina afinal contra um povo «não-indígena» – respeitando a terminologia da legislação de Zelensky – que só foi travada com a intervenção das forças militares da Federação Russa a partir de 24 de Fevereiro de 2022. Citando o vice-primeiro-ministro ucraniano Alexey Reznikov, «povos indígenas e minorias nacionais não são a mesma coisa». Dito de outra maneira: nos termos da lei, perante qualquer tribunal, os não-ucranianos não podem invocar «o direito de usufruir plenamente de todos os direitos humanos e todas as liberdades fundamentais». Em resumo, racismo, apartheid institucionalizado no regime mais querido dos Estados Unidos e dos governos e instituições autocráticas da União Europeia. Exceptuando talvez Israel onde – sem ser coincidência – o apartheid também floresce. Dontsov tinha um ódio obsessivo por judeus e ciganos e fez com que essa tendência marcasse a fundação da OUN, que resultou da fusão dos grupos nacionalistas integrais de Stepan Bandera com a União dos Fascistas Ucranianos. A corrente nacionalista integral ucraniana baseava-se, como algumas outras, na deificação da nação, no tridente hierarquia, sangue e disciplina e na estratificação horizontal da sociedade entre nativos e não-nativos. Onde teria ido Volodymir Zelensky definir os parâmetros da sua actualíssima lei dos povos indígenas? Tal como hoje se aprende nas escolas do regime de Kiev, Dontsov ensinou no seu livro Nacionalismo, de 1926, que «os russos não pertencem à espécie de Homo Sapiens». Dmytro Dontsov foi buscar as suas teses sobre as origens do povo ucraniano «puro» à entrada dos varegues, um povo viking então oriundo da Suécia, nos territórios das actuais Ucrânia, Rússia e Bielorrússia no fim do século IX. Deslocaram-se através dos rios da Europa Oriental, fundaram a cidade de Novgorod – na Rússia – e depois o Reino de Kiev. Os verdadeiros ucranianos teriam assim uma origem nórdica e não eslava. O povo varegue era conhecido também como rus, termo que terá dado origem às palavras russo e Rússia. Rus vem, ao que parece, de linguagens nórdicas antigas e ainda hoje significa «Suécia» em alguns países da região como Estónia e Finlândia. Na sua obra, Dontsov associa a «pureza» ucraniana aos nórdicos e protogermânicos e à sua suposta superioridade rácica sobre os eslavos, sobretudo os eslavos orientais ou «pretos da neve», em linguagem pejorativa – os russos. Combater a Rússia, segundo o pai do nacionalismo integral ucraniano, «é um papel histórico que estamos destinados a desempenhar». Ideia que pormenorizou em 1961 quando, exilado no Canadá, publicou a sua obra O Espírito da Rússia: «O Ocidente, tanto nas Primeira e Segunda Guerras Mundiais, como hoje, não percebeu realmente o que é a Rússia como império, os venenos, destruição moral e cultural que carrega». Seis anos depois envolveu a ideia num espírito místico-religioso ao escrever que «os ucranianos são criados do barro com que o Senhor cria os povos escolhidos». Fervor que levou a actual deputada Irina Farion, do partido do presidente Zelensky, a declarar que «viemos a este mundo para destruir Moscovo». À direita da deputada oradora pode ver-se o assumido nazi Oleh Tyahnybok. Repare-se que, afinal, o problema não é Putin ou o regime político em Moscovo, qualquer que ele seja; o problema é a existência da Rússia e dos russos. O que deixa o Ocidente envolvido numa cruzada étnica, o que aliás é coerente com a sua História. De acordo com a teorização de Dontsov, no ocaso da dinastia de Rurique, monarca varegue que fundou o Reino de Kiev, o povo de origem nórdica foi escravizado pelos russos. De onde poderá deduzir-se que, para os nacionalistas integrais ucranianos, há uma necessidade de vingança contra a Rússia que atravessou séculos de história e está em curso, por exemplo, com a tentativa de limpeza étnica no Donbass. «Há uma ligação ideológica directa entre o regime do III Reich, as organizações e os dirigentes ucranianos que se inseriram ou colaboraram com ele e os comportamentos e actividades actuais dos grupos que se dizem herdeiros daqueles que há oitenta anos foram instrumentos das forças hitlerianas» Para Dontsov o combate à Rússia é o «Ideal Nacional», terminologia adoptada pela rede de grupos nazis que controla o aparelho de Estado. Utilizam o símbolo nazi Wolfsangel de forma invertida, explicam, porque essa posição expressa visualmente as letras I e N de «Ideal Nacional». O facto de a simbologia dos grupos ucranianos coincidir com a nazi tem essencialmente a ver, na sua argumentação, com o facto de ambas as partes terem recorrido a imagens de vigor, valentia e identidade, originariamente nórdicas e vikings. A guerra contra os russos vivendo no território ucraniano, principalmente no Donbass, iniciada em termos militares em 2014, será, portanto, uma expressão do «Ideal Nacional» que tem a sua génese na afirmação da superioridade dos autóctones nórdicos sobre os «ocupantes internos» eslavos, sobretudo orientais – «sub-humanos». A utilização do termo nazi para os grupos nacionalistas integrais ucranianos que sustentam o regime de Kiev parece bastante mais apropriada às circunstâncias do que o de neonazi15. Há uma ligação ideológica directa entre o regime do III Reich, as organizações e os dirigentes ucranianos que se inseriram ou colaboraram com ele e os comportamentos e actividades actuais dos grupos que se dizem herdeiros daqueles que há oitenta anos foram instrumentos das forças hitlerianas. Existe uma herança em linha recta: não há inovação, há continuidade. Então no que diz respeito à «pureza da raça» a sobreposição é absoluta, os conceitos do regime de Kiev, expressos claramente na lei dos povos indígenas de Zelensky, nada trazem de novo ao nazismo. Em Berlim, Dmytro Dontsov ganhou proximidade com o número três do Reich, Reinhard Heydrich, chefe das SS e da Gestapo. Tornou-se então administrador do Instituto Imperial para a Investigação Científica em Praga quando este dignitário nazi assumiu o cargo de «protector da Boémia e da Morávia».16 Estes factos são confirmados por uma investigação conduzida pelo professor Trevor Erlacher, da universidade norte-americana da Carolina do Norte. Reinhard Heydrich, responsável pelo todo poderoso Gabinete Central de segurança do Reich, que superintendia o aparelho repressivo nazi, foi o principal organizador da Conferência de Wansee, em 20 de Janeiro de 1942, durante a qual as mais elevadas estruturas do Reich planearam a «solução final», o extermínio dos judeus. Em 30 de Junho de 1941, sob a cobertura das tropas nazis que ocupavam Lviv, a OUN proclamou na varanda do n.º 10 da Praça Rynek, nesta cidade, a criação do de um Estado ucraniano independente. De acordo com as orientações de Stepan Bandera, o Estado assim fundado assentava no conceito de nacionalismo integral, numa população etnicamente pura, numa língua única, na glorificação da violência e da luta armada. A estrutura orgânica previa o totalitarismo, o partido único e um funcionamento ditatorial. Como presidente do «Conselho de Estado», cargo equivalente ao de primeiro-ministro, foi designado Yaroslav Stetsko, então o chefe operacional da OUN. Stetsko era um nazi e, segundo a ordem natural das coisas, é hoje «herói nacional» da Ucrânia. Se dúvidas houvesse quanto à sua obediência ideológica, no «Acto de Proclamação do Estado Ucrânia» Stetsko declarou solenemente que a nova entidade «cooperará intimamente com a Grande Alemanha Nacional-Socialista sob o comando de Adolph Hitler, que está a criar uma nova ordem na Europa e no Mundo». Uma das primeiras iniciativas do primeiro primeiro-ministro ucraniano foi o envio de uma carta a Hitler, em 3 de Julho de 1941, expressando a sua «gratidão e admiração» pelo início da ofensiva alemã contra a União Soviética. Pouco depois, em Agosto do mesmo ano, enviou uma espécie de «currículo» às autoridades alemãs elogiando o antissemitismo, apoiando o extermínio dos judeus e a «racionalidade» dos métodos de extermínio contraposta à assimilação17. A Academia das Ciências da Ucrânia revela que Stetsko e outros chefes da OUN prepararam acções de sabotagem contra a União Soviética juntamente com os chefes da espionagem alemã, receberam pelo menos 2,5 milhões de marcos para esse efeito e utilizaram aviões do Reich para o desenvolvimento das operações de que foram encarregados pelos nazis. Stetsko tornou-se mais tarde um activo da CIA e até 1986, ano da sua morte, chefiou o Bloco das Nações Anti Bolcheviques, depois Organização Anticomunista Mundial. Para o regime actual de Kiev, a «restauração» do Estado ucraniano, 50 anos depois, só foi tornada possível devido à proclamação de Lviv e a respectiva «ordem nacional» por ela estabelecida. Yaroslav Stetsko é autor do livro Duas Revoluções, o referencial ideológico do partido Svoboda e de outras organizações de inspiração nazi que dominam a estrutura estatal nominalmente chefiada por Zelensky. «Para a autocracia europeia o baptismo das principais ruas das cidades ucranianas com os nomes de criminosos de guerra como Bandera, Stetsko e Shukhevych, a proliferação de estátuas em sua honra são situações banais que casam muito bem com a democracia e a civilização ocidental» O primeiro primeiro-ministro ucraniano tem hoje uma placa de homenagem numa praça de Munique, inaugurada pelo presidente ucraniano «pró-europeu» Viktor Yushenko. Antes disso, em 6 de Maio de 1995, o primeiro presidente da Ucrânia actual, Leonid Kuchma, homenageou o colaboracionista nazi em Munique e deslocou-se às instalações da CIA nesta cidade – onde Stepan Bandera trabalhou durante a década de cinquenta – para visitar a viúva de Yaroslav Stetsko, Slava Stetsko. Foi um encontro de cortesia e de trabalho: traduziu-se na integração na Constituição ucraniana de uma formulação racista de índole nazi – artigo 16.º – segundo a qual «preservar o património genético do povo ucraniano é da responsabilidade do Estado». Data dessa ocasião, e também por iniciativa da viúva de Stetsko, a recuperação e institucionalização nacional do grito «Slava Ukraina, Geroiam Slava», o mesmo que era usado pelas organizações de Bandera. Slava Stetsko foi convidada para proferir os discursos de abertura dos trabalhos do Parlamento Ucraniano (Rada) nas sessões de 1998 e 2002. Como se percebe, isto aconteceu ainda muito antes da «revolução de Maidan», o que revela a profundidade das raízes do nacionalismo integral/nazismo no moderno Estado ucraniano. É longo o desfile dos «heróis nacionais» ucranianos proclamados pelos dirigentes do actual regime e que, directamente ou como colaboracionistas, fizeram parte do aparelho nazi de extermínio, sobretudo desde o início da Operação Barbarossa das tropas hitlerianas contra a União Soviética. Nem sempre as cliques dirigentes ocidentais e a própria oligocracia europeia aceitaram com bonomia estas promoções de exterminadores a «heróis» promovidas por uma «democracia» com a qual a NATO afirma ter «valores comuns». Quando o presidente Yushenko declarou Stepan Bandera como «herói nacional», em 22 de Junho de 2010, o Parlamento Europeu insurgiu-se. Parecia excessivo agraciar o inspirador da Divisão Galícia18, parte das forças armadas hitlerianas responsável por extermínios em massa; não parecia de bom tom endeusar alguém que assassinou em nome da «pureza da raça» e dedicou anos da sua vida a «expurgar» o território da pátria de «todos os não-ucranianos» e judeus. Não, isso não poderia o Parlamento Europeu sancionar. Mas tudo acabou por passar sem que nada de palpável acontecesse. Os deputados das maiorias socialistas e das direitas festejaram depois o golpe da Praça Maidan, encaram tranquilamente as marchas anuais em Lviv e outras cidades celebrando o aniversário de Bandera, aceitam como «resistentes patrióticos» os bandidos nazis, por exemplo o Batalhão Azov, que sequestram populações civis como escudos humanos, que fuzilam soldados ucranianos ambicionando salvar a vida perante a superioridade militar russa, que veneram Stepan Bandera e se orgulham de ter no terrorismo da OUN e da UPA as suas fontes de inspiração. Para a autocracia europeia o baptismo das principais ruas das cidades ucranianas com os nomes de criminosos de guerra como Bandera, Stetsko e Shukhevych, a proliferação de estátuas em sua honra são situações banais que casam muito bem com a democracia e a civilização ocidental. Citando de novo a NATO: «A Ucrânia é uma grande democracia». José Goulão, exclusivo AbrilAbril Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença.Opinião|
O nazismo ucraniano, ontem e hoje – uma trilogia (I)

1. O decálogo assassino e a «grande democracia»
(sabedoria popular)Biografia sangrenta de Simchich
O ovo da serpente
A «pureza», segundo Dontsov
O primeiro «governo ucraniano» e o actual
Desfile de «heróis nacionais» nazis
Contribui para uma boa ideia
Netanyahu é somente mais um pião deste processo de transformação do carácter do Estado, mesmo que o papel de chefe do governo desempenhado quase em exclusivo durante os últimos 30 anos lhe tenha dado um natural relevo, porém sobreavaliado em relação ao seu peso real na envolvente fundamentalista religiosa que hoje gere Israel. Herdou a missão do pai, Benzion Netanyahu, por sua vez secretário pessoal e um dos principais discípulos ideológicos de Volodymyr Jabotinsky, o ucraniano que foi colaborador de Mussolini e em 1925 provocara o grande cisma entre o sionismo secular oportunisticamente proclamado à nascença e o designado «sionismo revisionista» por ele fundado. Esta variante do colonialismo extremista sob cobertura «hebraica» inspira o fanatismo político-religioso que prevalece no actual governo e tem como objectivo criar uma teocracia – o primado da «Lei de Deus». Mantendo, naturalmente, a missão de defender a civilização ocidental no Médio Oriente. Não é de somenos o facto de esta tendência fanática ter enorme representatividade no interior do Congresso Mundial Judaico e ser apoiada sem restrições práticas pelo regime dos Estados Unidos e os organismos não democráticos que definem as políticas da União Europeia.
Vozes que antevêem a catástrofe
Ehud Barak, um dos mais experientes políticos israelitas, primeiro- ministro de um governo do início do século que praticou uma repressão selvática sobre o chamado Segundo Intifada palestiniano e foi o último chefe do Partido Trabalhista como organização política influente, tem uma opinião relevante sobre os acontecimentos em curso. «Sob o manto da guerra», diz, «está a decorrer um golpe governamental e constitucional sem que um tiro seja disparado; se o golpe não for interrompido transformará Israel numa ditadura dentro de semanas – Netanyahu e o seu governo estão a assassinar a democracia». O caminho proposto pelo agora dirigente «centrista» é «fechar o país por meio da desobediência civil em grande escala 24 horas por dia e sete dias por semana».
Opinião bem mais contundente e avançada, e também alarmante, tem o general Moshe Ya'alon, ex-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e ex-ministro da Defesa:
«Um culto escatológico e raivoso está a ditar a lei em Telavive, o quartel-general da construção genocida e colonial da comunidade dos colonos; este processo é completado com uma enorme milícia vigilante, ou milícias interligadas de centenas de milhares de colonos armados até aos dentes, incontroláveis e preparados para qualquer coisa, até atacar os militares e o Estado».
Um «ex-director do Mossad» citado pelo jornal Haaretz põe mesmo em causa o futuro do chamado «Estado judaico» dizendo que se ganhar a forma de «um Estado racista e violento não poderá sobreviver; e provavelmente já é tarde demais».
«Um Mein Kampf ao contrário»
Ao acompanhar a rede mediática globalista dir-se-á que o actual governo israelita é composto apenas pelo primeiro-ministro Netanyahu e pelos ministros das Finanças, Bezalel Smotrich, e o ministro da Segurança, Itamar Ben-Gvir, estes dois considerados benevolamente como «de extrema-direita», quando na prática, mais não são do que terroristas nazis.
Smotrich é um colono chefe do Partido Nacional Religioso que nega a existência do povo palestiniano, «constituído por sub-humanos». No cadastro tem várias acusações de atentados terroristas, inclusive contra as autoridades sionistas.
Itamar Ben-Gvir é filho de uma judia curda iraquiana que integrou o grupo terrorista Irgun, braço fundador do exército de Israel nascido nas fileiras de Mussolini e historicamente dirigido pelo ex-primeiro-ministro Menahem Begin. Chefia a organização Otzmar Yehdiut, igualmente de «extrema-direita» e herdeira do movimento proibido Kach do ícone fascista Meir Kahane, um terrorista norte-americano nascido em Nova York, onde cometeu vários atentados pelos quais foi condenado a um ano de prisão, cumprido num hotel. Instalou-se depois em Israel para lutar pela expulsão de todos os palestinianos da Palestina, foi preso pelo menos 60 vezes por atentados terroristas e eleito membro do Knesset (Parlamento).
Os projectos para a consumação da limpeza étnica da Faixa de Gaza já em andamento traduzem a maneira de pensar e de viver o sionismo tal como é praticado em Israel, posicionando-se acima da lei como um dom natural. «Vai ser uma guerra terrível. Então, se quisermos continuar vivos teremos de matar, matar, matar e matar – durante todo o dia, todos os dias» (Prof. Arnon Soffer, demógrafo sionista, conselheiro governamental, ícone das elites académicas de Israel) A primeira opção está em andamento; a segunda não pode ser descartada enquanto a ameaça de um ministro de Netanyahu sobre o lançamento de uma bomba nuclear em Gaza não for convincentemente desmentida e afastada. O comportamento do primeiro-ministro depois das palavras do seu ministro da Herança de Israel, Amichai Eliahu, não foi dissuasor, principalmente sabendo nós que está em campo uma horda de sociopatas que têm pela vida dos não-sionistas um olímpico desprezo. Não se pense, porém, que a hipotética queda do governo de Netanyahu, tão apregoada e aparentemente tão desejada, no exterior, mas longe de consumada – provavelmente amanhã não será a véspera desse dia – iria resolver o problema e pacificar a região ou, pelo menos, tolerar um cessar-fogo em Gaza. O que concluiremos se consultarmos um artigo do experiente Thomas Friedman no New York Times. Citando um «alto funcionário dos Estados Unidos», o subscritor do texto garante «que os líderes militares israelitas são agora, na verdade, mais agressivos do que o primeiro-ministro; estão vermelhos de raiva e determinados a dar um golpe no Hamas que toda a vizinhança nunca esquecerá». Tenhamos em conta, olhando para o que se passa em Gaza, o que os chefes militares sionistas entendem por «golpe no Hamas», que afinal se transformou numa catástrofe para centenas de milhar de civis. Se recuarmos um pouco no tempo, ao primeiro lustre deste século, encontraremos congeminações sobre a «solução final» para Gaza que nos aproximam da realidade em que vivemos. O prof. Arnon Soffer, um ícone da elite académica sionista, fundador da Universidade de Haifa, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, geógrafo, especialista em «ciências ambientais» e demógrafo, actuou como conselheiro do primeiro-ministro Ariel Sharon nos primeiros anos do século. Soffer foi um dos autores e defensores da política adoptada pelo governo sionista a partir de 2007: retirada dos colonos, cerco e bloqueio da Faixa de Gaza. «O Prof. Soffer deixa escancarada a opção da limpeza étnica; mas não exclui o extermínio, no que não difere do actual ministro da Herança de Israel, quanto à "finalidade", podendo eventualmente a metodologia ser diferente, mas ambas convergentes na via da "solução final"» Os seus escritos de 2004, transcritos na imprensa israelita da época, são proféticos em relação aos dias de hoje e contêm implicitamente a necessidade de extermínio ou de limpeza étnica, tal como a que está em curso, para travar «um banho de sangue perpétuo». Escreveu o emérito prof. Arnon Soffer: «Quando 2,5 milhões vivem numa Gaza fechada» – uma ideia do próprio, como já vimos – «será uma catástrofe humana. Essas pessoas tornar-se-ão animais mais do que já são hoje. A pressão na fronteira será terrível. Vai ser uma guerra terrível. Então, se quisermos continuar vivos, teremos de matar, matar, matar e matar – durante todo o dia, todos os dias. A única coisa que me preocupa é como garantir que os meninos e homens que terão de fazer a matança possam voltar a casa, para as suas famílias, e serem seres humanos normais». Assim foi a dissertação de um ilustre membro da academia sionista, conselheiro de primeiros-ministros, um qualificado demógrafo – é impossível pôr em dúvida a qualidade do seu saber na matéria – e, naturalmente, professor da Escola de Defesa Nacional. O Prof. Soffer deixa escancarada a opção da limpeza étnica; mas não exclui o extermínio, no que não difere do actual ministro da Herança de Israel, quanto à «finalidade», podendo eventualmente a metodologia ser diferente, mas ambas convergentes na via da «solução final». Estaremos perante casos isolados, sociopatas incuráveis que atingiram aleatoriamente lugares de topo e decisão no regime sionista, ou serão fruto de uma mentalidade doentia decorrente do elitismo, do pendor racista e supremacista inerentes ao próprio sionismo, sobretudo à medida que vai abandonando as ficções «seculares» para se fixar no carácter fundamentalista religioso e messiânico? Uma mentalidade transtornada dando origem a comportamentos inerentes a um regime confessional e de apartheid, considerando como animais todas as pessoas que estejam no exterior desta casta de eleitos ou, na melhor das hipóteses, seres humanos de segunda? Não se trata de casos isolados. Imediatamente antes do início da invasão de Gaza, os altos comandos militares sionistas escolheram um idoso militar, Ezra Yachin, para proferir uma alocução mobilizadora das tropas prestes a entrar em acção. Yachin, com 95 anos, foi membro do grupo terrorista Lehi que, por exemplo, em 9 de Abril de 1948 executou a tristemente célebre chacina da aldeia palestiniana de Deir Yassin, nos arredores de Jerusalém, da qual restou um monte de escombros. Mais de cem pessoas, sobretudo mulheres e crianças, foram exterminadas. Diz-se que a história não se repete, mas Israel é uma entidade com grandes poderes, inesgotáveis capacidades e insanidade de sobra para desmentir o aforismo: Deir Yassin e umas centenas de outras aldeias e cidades em 1948/49; Sabra e Chatila em Beirute em 1982; Gaza em 2023 são exemplos uma sucessão, uma extensa cronologia criminosa de mais de 75 anos onde o agente comum é o terrorismo de Estado sionista. «Estaremos perante casos isolados, sociopatas incuráveis que atingiram aleatoriamente lugares de topo e decisão no regime sionista, ou serão fruto de uma mentalidade doentia decorrente do elitismo, do pendor racista e supremacista inerentes ao próprio sionismo (...)?» Ezra Yachin não desmereceu do seu passado e da sua fama. Na exortação às tropas incitou: «sejam vencedores, acabem com eles, não deixem ninguém para trás. Apaguem a sua memória, apaguem-nos a eles, às suas famílias, mães e filhos. Esses animais não podem continuar a viver. Todos os judeus deveriam empunhar uma arma e matá-los. Se têm um vizinho árabe não esperem, vão até casa dele e disparem.» Em boa verdade, esta linguagem é uma escola. Netanyahu disse mais ou menos o mesmo, embora escondido na simbologia dos ditos atribuídos ao profeta Samuel. Na lógica da mentalidade de eliminar todo e qualquer não-judeu da Palestina têm surgido planos concretos e estruturados sugerindo as modalidades e as metodologias para realização da limpeza étnica em Gaza. Os princípios básicos neles contidos, porém, são válidos para a Cisjordânia. São planos e programas emanados de entidades e pessoas da área governamental, revelando-nos que pelo menos a primeira fase da operação já está em curso, sob os olhares benevolentes – logo cúmplices – do «mundo ocidental». Benevolência que encontramos, por exemplo, no ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, que, perante o assassínio em Gaza de três cidadãos luso-palestinianos, dois dos quais crianças, se limitou a manifestar o seu «desgosto» às autoridades israelitas. Só lhe faltou pedir desculpa pelo incómodo. «Alternativa para uma Directiva Política destinada à população civil em Gaza» é o título de um plano de limpeza étnica elaborado pelo Ministério da Inteligência de Israel. Propõe três alternativas num processo que permita ao Estado sionista «precaver-se através de uma mudança significativa da realidade civil». Duas delas, a A e a B, são liminarmente descartadas. Previam a «extensão da governança da Autoridade Palestiniana (‘Malévola para Israel’) a Gaza», medida recentemente defendida pelo presidente dos Estados Unidos mas para a qual Netanyahu e o seu governo têm orelhas moucas; ou «fomentar a governança árabe local». Nenhuma delas, segundo os autores, «garante a segurança de Israel», não são dissuasoras para o Hezbollah libanês e, sobretudo, representam uma «perda estratégica para Israel», porque a divisão entre Gaza e a Cisjordânia – razão pela qual o regime sionista apoiou a criação do Hamas – «é um dos principais entraves ao estabelecimento de um Estado Palestiniano». As hipóteses consideradas liminarmente sem viabilidade foram expostas para deixar a sensação de que os autores do documento reflectiram sobre outras perspectivas de «solução» além da limpeza étnica. Em relação à hipótese A, extensão do governo da Autoridade Palestiniana a Gaza, os autores do plano consideram-na «a mais arriscada» porque «seria uma vitória sem precedentes do movimento nacional palestiniano». A alternativa C propõe «a evacuação da população civil de Gaza para o Sinai». É a que «produz resultados estratégicos positivos e de longo prazo», exigindo, no entanto, «determinação diante da pressão internacional, com ênfase na importância de reunir apoio dos Estados Unidos e outros países pró-Israel». «Na lógica da mentalidade de eliminar todo e qualquer não-judeu da Palestina têm surgido planos concretos e estruturados sugerindo as modalidades e as metodologias para realização da limpeza étnica em Gaza. Os princípios básicos neles contidos, porém, são válidos para a Cisjordânia.» Sugere o Ministério da Inteligência que sejam erguidas «cidades de tendas» numa «área de reassentamento no Norte do Sinai». Também nessa fase deverá ser criado «um corredor humanitário» para «ajudar a população civil de Gaza» a chegar o destino traçado pelo terrorismo de Estado israelita. O processo prevê uma «zona de terra de ninguém» de vários quilómetros no interior do território do Egipto, de modo a que «a actividade e a residência perto da fronteira israelita (Gaza sob ocupação sionista) não sejam permitidas». No interior do «nosso território» (Gaza) «deverá ser estabelecido um perímetro de segurança». A primeira fase do «desenvolvimento operacional» da «opção C» do documento estabelece o «apelo à retirada da população» da zona de combate» entre Israel e o Hamas, reforçado com «operações aéreas focadas no Norte de Gaza de modo a permitir a manobra terrestre na zona evacuada sem obrigar a combates em zonas civis densamente povoadas». A semelhança desta recomendação com a realidade de hoje não é, portanto, uma coincidência. Na fase seguinte acontecerá a «ocupação total» do território, ao mesmo tempo que os bunkers e túneis «são limpos de combatentes do Hamas». «É importante», acrescenta-se no documento, que «sejam desobstruídas as rotas de transporte para sul, de modo a permitir a evacuação». Analisando este programa, deduz-se então que o primeiro passo da limpeza étnica já está em prática. A pressão terrorista e propagandística do sistema político-militar sionista tem como objectivo assumido a transferência das populações do Norte de Gaza para o Sul, onde ficam muito mais perto da passagem para o Egipto, no posto de Rafah. O que o documento não assume, no seu criminoso e asséptico cinismo, é que as pessoas em êxodo para o Sul continuam a ser bombardeadas como se estivessem ainda no Norte. Sob estas práticas assassinas, muitos milhares de pessoas nem sequer chegarão ao Sinai. Cerca de 46% das vítimas mortais registam-se entre deslocados em movimento para o Sul, ou mesmo já nesta região. Segundo os serviços da ONU, o número total de desalojados e deslocados ultrapassa já o milhão e meio de pessoas, entre 2,3 milhões de habitantes, cerca de 65% da população do território, isto é, aproximadamente dois terços. Reconhecem os autores do plano que esta operação de limpeza étnica «pode ser complexa em termos de legitimidade internacional», o que, ensina-nos a história, não constitui qualquer problema para o Estado sionista, desde a sua fundação. Existe mesmo uma «unidade encarregada de estudar como contornar o direito internacional». O chefe da entidade, David Reisner, explica que «estamos a ser testemunhas de uma revisão do direito internacional: se fizermos uma coisa durante o tempo suficiente, o mundo aceitá-la-á». E cita como exemplo o ataque terrorista cometido pela aviação israelita em 1981 contra o reactor nuclear de Osirak, no Iraque: «Então a atmosfera era a de que Israel tinha cometido um crime; hoje diz-se que foi um acto legítimo de defesa preventiva. O direito internacional progride através de violações», conclui. Embora não fosse essa a intenção, Reisner fez uma das melhores definições da «ordem internacional baseada em regras» pela qual se rege o chamado «mundo ocidental» e «civilizado». «Reconhecem os autores do plano que esta operação de limpeza étnica «pode ser complexa em termos de legitimidade internacional», o que, ensina-nos a história, não constitui qualquer problema para o Estado sionista, desde a sua fundação.» O Ministério da Inteligência propõe então que a transferência da população de Gaza seja apresentada como uma «migração em massa», tal como as que decorreram e continuam, por exemplo, nas guerras da Síria e do Afeganistão. Nessa perspectiva, «são um resultado natural e necessário, dados os riscos associados à permanência numa zona de guerra». São, igualmente, «um método aceite para salvar vidas». Estas migrações relacionadas com outros conflitos, porém, não eliminaram o direito dos refugiados ao regresso, quando existirem condições para isso; o que não acontece aos palestinianos: Israel proíbe-os de voltarem às suas terras de origem, violando o direito internacional, o que, como acabámos de ver, não é problema. Os autores do plano olham ainda para mais longe. Se os países citados no «Anexo A» do documento aceitarem os «refugiados» palestinianos de Gaza, a operação pode «ganhar maior legitimidade» porque passará a haver «uma população integrada em quadros estatais e com nova cidadania». A principal «vantagem», desde sempre pretendida por Israel, não a encontramos exposta no documento: a da esperança de que a nova cidadania de cada «deslocado» elimine a sua condição de «palestiniano». Assim, deixa de haver palestinianos na Palestina e também nos países do mundo onde forem recebidos e integrados. Fim da história para o problema israelo-palestiniano. O plano parece ter imensas «vantagens estratégicas»: uma «dissuasão significativa em toda a região», uma «forte mensagem ao Hezbollah», o «apoio dos países do Golfo» uma vez liquidado o Hamas, «um golpe significativo e inequívoco na Irmandade Muçulmana» e mais um piscar de olhos ao Cairo: fortalecerá «o domínio egípcio no Norte do Sinai» – o que parece um contra-senso, quando o que está em causa é o acolhimento de toda uma população estrangeira chegada de um outro território. Eis o «novo Médio Oriente» de que fala Benjamin Netanyahu ao transformar Gaza «numa ilha deserta». A chamada «comunidade internacional» parece disposta a continuar a assistir à Nakba até à extinção do último palestiniano, triunfo supremo do terrorismo militar, político, diplomático e mediático. O que está em curso há mais de setenta anos contra o povo palestiniano é um genocídio. Bárbaro. Impune. Ignorado. Branqueado por uma «comunidade internacional» que repudia o próprio direito pelo qual deveria guiar-se; e por uma comunicação social absorvente e totalitária que tomou conscientemente o partido dos genocidas, pelo que chega ao comportamento perverso de acusar as vítimas de práticas terroristas. Os acontecimentos sucedem-se e atropelam-se em contínuo, muitos denunciados pelas próprias vítimas ou por aqueles que, desafiando as altas probabilidades de virem a ser acusados de antissemitismo ou de serem autores de execráveis delitos de opinião, não calam os crimes tornados banais e, sempre que possível, silenciados ou mistificados pelo sistema de censura mainstream. Há um sentido único na barbárie desde que, há 71 anos, foi proclamado o Estado de Israel como fruto de imigração em massa de populações oriundas de vários países, sobretudo da Europa e da América do Norte, muitas fugidas de um outro genocídio, o Holocausto, a generalidade invocando preceitos e direitos de índole antropológica, histórica e religiosa que não cabem na teia de normas e leis pelas quais seria suposto regerem-se os Estados, as nações e os povos. 8 milhões de palestinianos recenseados, dos quais apenas 3 milhões vivem na Palestina Um genocídio – o Holocausto – acabou por servir de pretexto a outro – a Nakba, a «catástrofe», em árabe – por via dos que, invocando as vítimas do primeiro, se transformaram em algozes do segundo. Uma mistificação gigantesca de consequências arrasadores para os direitos humanos, com a particularidade perversa de se consumar em nome dos direitos humanos, da democracia, da liberdade e da civilização. A relação de causa e efeito entre o Holocausto e a Nakba não era automática, mas o primeiro ministro de Israel em funções, Benjamin Netanyahu, acabou por estabelecê-la, tornando-a oficial para os escritores da História na perspectiva dos vencedores. Foi ele quem afirmou que Hitler originalmente não defendia a «solução final» para os judeus, mas foi convencido a consumá-la pelo Grande Mufti de Jerusalém, a autoridade religiosa da comunidade muçulmana da Palestina. Moral da história: os palestinianos muçulmanos incentivaram a matança dos judeus pelo que é justo serem castigados. «O crime vai-se consumando. Dos cerca de oito milhões de palestinianos recenseados são menos de três milhões os que vivem na Palestina: dois milhões no imenso campo de concentração a céu aberto em Gaza; cerca de 800 mil em guetos e sob ocupação na Cisjordânia, incluindo os que vivem na zona de "autonomia" formal» O genocídio do povo palestiniano é praticado ao compasso de mistificações em cadeia aliando a política, a diplomacia, as próprias história e geografia, num discurso de propaganda como que hipnotizando a chamada «comunidade internacional». A qual, com uma espécie de consciência de culpa do Holocausto, permite que esta tragédia seja manipulada com múltiplos objectivos coloniais, mesmo os mais perversos e desumanos. A operação de genocídio é sistemática e decorre de maneira impune. Desde a mistificação básica do sionismo, «um povo sem terra para uma terra sem povo» – a Palestina, uma entidade com uma história longa e rica de quatro mil anos – que a limpeza étnica dos palestinianos é executada em contínuo por duas vias: em vagas, criando ou aproveitando oportunidades históricas; e passo-a-passo, dia-a-dia, através de uma teia elaborada de pretextos e medidas arbitrárias travestidas de leis que o sionismo internacional e o seu ramo que gere o Estado de Israel puseram em funcionamento à margem e contra o direito internacional. A primeira vaga aconteceu há 71 anos, quando as organizações terroristas das comunidades imigrantes derrotaram os exércitos árabes na Palestina e proclamaram o Estado de Israel. Mais de 700 mil palestinianos foram chacinados e expulsos de Israel, enquanto as suas comunidades funcionando em aldeias, vilas e cidades foram arrasadas, apagadas do mapa. Este massacre é assinalado como o início da Nakba. Com essa ofensiva terrorista, os dirigentes sionistas impuseram a primeira grande derrota às Nações Unidas na questão da Palestina, sabotando desde logo o «plano de partilha» de 1947, que previa a divisão do território em duas áreas étnicas – de maioria hebraica e de maioria árabe – ocupando Israel uma superfície da Palestina bastante superior à prevista no documento da ONU. Na guerra de 1967, ou dos «Seis Dias», Israel expulsou as administrações egípcia e jordana de Gaza, da Margem Ocidental do Jordão e de Jerusalém Leste, ocupando esses territórios; a própria guerra e as pressões terroristas provocaram um novo êxodo de populações palestinianas para os países vizinhos. «Os instrumentos de genocídio estão afiados e operacionais como nunca: anexação, colonização, guerra, terrorismo, segregação e isolamento, fome e sede, supressão de direitos, prisões e campo de concentração – 50 mil crianças presas por Israel desde 1967 – assassínios organizados e aleatórios, devastações de campos de refugiados» Israel deu então verdadeiramente início a um novo processo de anexação de territórios e de limpeza étnica sistemática, o da construção de colónias nos territórios ocupados. Com ela incentivou novas vagas de imigração hebraica, nas quais as correntes ortodoxas e fundamentalistas religiosas foram dominantes. As consequências da estratégia são cada vez mais visíveis nos dias de hoje pela maneira como essas correntes dominam a gestão sionista em Israel – não hesitando, sequer, em assumir constitucionalmente um regime de apartheid étnico e religioso. A colonização, conjugada com o carácter militar e terrorista da ocupação e com os meios de segregação físicos – o muro de Jerusalém e da Cisjordânia e a cerca de Gaza – está na origem de uma balcanização dos territórios ocupados e do êxodo constante de palestinianos. Expulsões, prisões, destruição de casas de habitação, check-points militares e outros entraves à circulação, devastação de colheitas e propriedades agrícolas, confisco arbitrário de recursos hídricos são formas comuns de terrorismo quotidiano que tornam praticamente inviável uma vida digna e com um mínimo de qualidade. A transformação do Processo de Paz iniciado com as negociações de Oslo de 1993 num «processo de paz» eterno e de imposição da rendição da principal força nacionalista da resistência palestiniana, a Fatah, tornou ainda mais débil e menos organizada a oposição dos palestinianos à limpeza étnica. A partilha das funções administrativas da chamada «autonomia» palestiniana entre a Fatah e o Hamas, grupo que tem na sua génese histórica o veneno do patrocínio israelita para dividir os movimentos de resistência cívica (Intifadas), foi um golpe profundo assestado pelo sionismo em comunhão com o establishment norte-americano e beneficiando da cumplicidade da chamada «comunidade internacional» – neste caso actuando como um todo através de uma entidade farsante, o «Quarteto para a Paz no Médio Oriente», nova e flagrante derrota das Nações Unidas. A limpeza étnica da Palestina não se resume à substituição da população autóctone por contingentes imigrados. Tem uma componente menos abordada e que reforça a oposição ao retorno dos refugiados, um direito estabelecido nas normas da ONU: devastar comunidades de palestinianos nos países vizinhos. Não se trata de eliminá-las pura e simplesmente, mas de manter sobre elas a pressão terrorista e de instilar a convicção de que o regresso será impossível, por isso mais vale desistir e deixarem-se assimilar pelos países de acolhimento – tornando eternos os campos de refugiados. As invasões israelitas do Líbano desde o início dos anos oitenta do século passado visaram permanentemente as zonas habitadas por palestinianos – e dessa sanha ficou como símbolo o massacre de civis, sobretudo idosos e crianças, nos campos de refugiados de Sabra e Chatila, nos subúrbios de Beirute, em Setembro de 1982. O jornalista suiço Pierre-Pascal Rossi (1943-2016) teve a coragem de se comover em frente às câmaras, antes de conduzir os espectadores, durante dois longos e dolorosos minutos, pelo inferno dos massacres realizados em Sabra e Chatila pelas milícias fascistas (falangistas) aliadas de Israel, com a cumplicidade do exército israelita. «Expulsões, prisões, destruição de casas de habitação, check-points militares e outros entraves à circulação, devastação de colheitas e propriedades agrícolas, confisco arbitrário de recursos hídricos são formas comuns de terrorismo quotidiano que tornam praticamente inviável uma vida digna e com um mínimo de qualidade» O novo modelo colonial instaurado pelos Estados Unidos no Médio Oriente, através das guerras iniciadas por George W. Bush, contém perseguições organizadas e chacinas em zonas de refugiados palestinianos tanto no Iraque como na Síria. Tratam-se de acções cometidas por interpostas entidades, grupos terroristas como o Estado Islâmico e a al-Qaida, apesar de serem «sunitas» como a maioria originária da Palestina. Já deixou de ser novidade a cooperação existente entre Israel e grupos terroristas islâmicos, sobretudo na guerra da Síria, pelo que é óbvia a definição do palestiniano como um inimigo comum. Ao reforço das correntes fundamentalistas religiosas e segregacionistas na gestão do sionismo correspondem passos ainda mais largos para a consumação do genocídio, da limpeza étnica da Palestina. Assim que Benjamin Netanyahu concluir a formação de um novo/velho governo está no horizonte o início da anexação progressiva da Cisjordânia, através da integração dos colonatos na estrutura administrativa de Israel. O reconhecimento pela administração Trump da anexação de Jerusalém Leste por Israel foi um balão de ensaio bem sucedido, uma tomada de pulso à «comunidade internacional» que, como é norma, permitiu que se atropelasse mais uma vez o direito internacional. Nem o eng. António Guterres acreditará na sua frase feita para a ocasião, segundo a qual «nada muda» no estatuto oficial de Jerusalém; como no dos Montes Golã; como dos colonatos a anexar. A velha política dos factos consumados a funcionar, como tem acontecido ao longo da limpeza étnica da Palestina. O crime vai-se consumando. Dos cerca de oito milhões de palestinianos recenseados são menos de três milhões os que vivem na Palestina: dois milhões no imenso campo de concentração a céu aberto em Gaza; cerca de 800 mil em guetos e sob ocupação na Cisjordânia, incluindo os que vivem na zona de «autonomia» formal. Os instrumentos de genocídio estão afiados e operacionais como nunca: anexação, colonização, guerra, terrorismo, segregação e isolamento, fome e sede, supressão de direitos, prisões e campo de concentração – 50 mil crianças presas por Israel desde 1967 – assassínios organizados e aleatórios, devastações de campos de refugiados. A chamada «comunidade internacional» parece disposta a continuar a assistir à Nakba até à extinção do último palestiniano, triunfo supremo do terrorismo militar, político, diplomático e mediático. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. O «Anexo A» do plano de limpeza étnica de Gaza idealizado pelo Ministério israelita de Inteligência designa os países com os quais o regime sionista «deve trabalhar», porque estarão «dispostos a ajudar a população deslocada e capazes de a aceitar como migrantes». Estados Unidos, Canadá, Espanha, Grécia (como se não lhe bastassem os refugiados da Síria nas suas ilhas), Arábia Saudita, Marrocos, Tunísia, Líbia (pessoas expulsas de Gaza seriam condenadas a hospedar-se num território que a NATO deixou em escombros) são os países citados no documento. Caso a Arábia Saudita levante dificuldades para «desenvolver esforços» no sentido de proporcionar a «transferência de migrantes para vários países», ou se recuse a «financiar a campanha que exponha os danos causados pelo Hamas», os Estados Unidos poderão agir através de pressões, designadamente «jogando com o guarda-chuva de defesa dos grupos de combate estacionados na área para ameaçar o Irão». Essa «pressão» norte-americana deverá também ser requerida, segundo os autores, contra os países europeus «para que assumam as suas responsabilidades na abertura da fronteira de Rafah», permitindo «a fuga para o Egipto»; e também para que «prestem assistência financeira à actual crise económica egípcia». O plano sugere que as campanhas de propaganda sobre os benefícios da «transferência» sejam entregues a agências de publicidade transnacionais, a exemplo do que tem feito o regime nazi de Kiev, para que «promovam a operação no mundo ocidental» e «o esforço para resolver a crise sem insultar nem vilipendiar Israel». A parte da campanha virada para «o mundo não pró-Israel» deve focar a necessidade de «ajudar os irmãos palestinianos e a sua recuperação», mesmo ao preço de «condenações e até ofensas contra Israel», de modo a que os objectivos da operação «consigam chegar a populações incapazes de aceitar uma mensagem diferente». «O plano sugere que as campanhas de propaganda sobre os benefícios da "transferência" sejam entregues a agências de publicidade transnacionais, a exemplo do que tem feito o regime nazi de Kiev, para que "promovam a operação no mundo ocidental"» Quanto à população de Gaza, a campanha para «a incentivar a aceitar o plano» deve sublinhar que «não há esperança de retorno ao Estado de Israel, que em breve ocupará o território (seja verdade ou não)». A mensagem que os autores sugerem é a de que «Alá decidiu que vocês perderam esta terra por causa da liderança do Hamas e a única opção é mudarem-se para outro lugar com a ajuda dos vossos irmãos muçulmanos». Por muito cínico, racista e sociopata que todo este articulado pareça, ele não é um delírio. É obra da nata de operacionais do ministério que tutela as políticas de espionagem do sionismo. Os autores levam-no a sério. E a chamada comunidade internacional deveria preparar-se para lidar com esse projecto de crime de guerra apresentado como programa para «salvar vidas», resolver um problema regional, solucionar crises económicas de países e comunidades e proporcionar novas e melhores condições de vida a pessoas que vivem que vivem sob «opressão terrorista». Outro dos projectos para consumar a limpeza étnica de Gaza que saiu dos bastidores governamentais sionistas, provavelmente muito mais um balão de ensaio para preparar a opinião pública do que uma fuga de informação, é o «Livro Branco» do Instituto de Segurança Nacional e Estratégia Sionista. O seu autor é Amir Weitman, chefe da bancada parlamentar «libertária» do Likud, o partido de Netanyahu, e professor da Escola de Defesa Nacional. Designou o trabalho como «plano para a recolocação e reabilitação definitiva no Egipto de toda a população de Gaza». Trata-se, segundo Weitman, de «um plano sustentável que se alinha com os interesses económicos e geopolíticos de Israel, Egipto, Estados Unidos e Arábia Saudita». Não é uma guerra, é um massacre de uma das partes; e o único cessar-fogo possível para a situação é o reconhecimento dos direitos do povo palestiniano estabelecidos nas leis internacionais. Enquanto o regime israelita continua a chacinar paulatinamente a população indefesa do campo de concentração em que transformou Gaza multiplicam-se os apelos ao «cessar-fogo» nesta suposta «guerra entre o Hamas e Israel», como afirma a comunicação social corporativa. É o habitual jogo de enganos que visa partilhar equitativamente responsabilidades numa situação de incomensurável desequilíbrio de forças e que pretende colocar no mesmo plano os criminosos e as vítimas. O que está a acontecer não é uma guerra, é um massacre de uma das partes; e o único cessar-fogo possível para a situação é o reconhecimento dos direitos do povo palestiniano estabelecidos nas leis internacionais. Tudo o resto significa o arrastamento da situação e o extermínio de um povo. «A colonização conduz, ninguém o duvide, à criação de uma situação no terreno que inviabiliza totalmente a criação do Estado Palestiniano, porque deixa de haver território para isso; entretanto, os bem-intencionados deste mundo, como os chefes da União Europeia, forçados a dizer qualquer coisa quando as imagens de extermínio não podem ser escondidas, continuam a falar em “solução de dois Estados para a Palestina”» O chefe do governo de Portugal, a exemplo de outros colegas europeus, diz que é necessária a paragem dos ataques de Israel. Belas palavras. E depois? «Para que possamos regressar a um ponto onde o caminho para a paz seja possível», assegura Costa. Palavras muito bem-intencionadas também, reproduzidas de um texto da agência Lusa onde se lê que «existe uma escalada de violência entre israelitas e palestinianos». Qual «caminho para a paz»? O conduzido pelo «Quarteto» chefiado pelo aldrabão profissional Anthony Blair e de que fazem parte a Rússia – manietada pelo veto norte-americano no Conselho de Segurança e por muitas e evidentes cumplicidades com Israel – a complacente União Europeia, o seu aliado norte-americano, cúmplice objectivo do crime no mínimo através do Conselho de Segurança, e também a ONU, entidade que, a reboque de Washington, cultiva a guerra para que dela floresça a paz? Ora este «caminho para a paz», quase sempre «arbitrado» pelos Estados Unidos, aliado da parte agressora, está barrado há muito por acção de Israel, que acusa o lado palestiniano de não ceder às suas exigências de rendição total. Enquanto continua a falar-se de «processo de paz» para que nada de pacífico aconteça, Israel tem recorrido a todos os métodos para inviabilizar uma solução compatível com o direito internacional, isto é, através da criação de um Estado Palestiniano viável, soberano e pleno. O mecanismo mais utilizado e mais eficaz – porque pode ser aplicado sem operações militares que dêem muito nas vistas, sob o silêncio da comunicação social dominante – é o da colonização dos territórios palestinianos ocupados através de uma gradual limpeza étnica com expulsão das populações, destruição de casas, roubo de terrenos, edificação de muros e até prosaicos actos de banditismo como a destruição de colheitas agrícolas. Enfim, a institucionalização de um sistema de apartheid. «Quando um dirigente político, seja ele qual for, fala em necessidade de “cessar-fogo” para regresso ao “caminho da paz” e não formula mecanismos e medidas que permitam à chamada comunidade internacional impor efectivamente a solução de dois Estados, está a ser cúmplice do comportamento criminoso do Estado de Israel. E a participar, no mínimo por omissão, num processo genocida» A colonização conduz, ninguém o duvide, à criação de uma situação no terreno que inviabiliza totalmente a criação do Estado Palestiniano, porque deixa de haver território para isso; entretanto, os bem-intencionados deste mundo, como os chefes da União Europeia, forçados a dizer qualquer coisa quando as imagens de extermínio não podem ser escondidas, continuam a falar em «solução de dois Estados para a Palestina» sabendo perfeitamente – como não pode deixar de ser – que está a ser percorrido não «um caminho para a paz» mas uma via para liquidar o objectivo inscrito no próprio «processo de paz». A guerra que existe é verdadeiramente esta: a do regime sionista contra o povo palestiniano pela liquidação total dos seus direitos, se necessário através do extermínio físico. Quando um dirigente político, seja ele qual for, fala em necessidade de «cessar-fogo» para regresso ao «caminho da paz» e não formula mecanismos e medidas que permitam à chamada comunidade internacional impor efectivamente a solução de dois Estados, está a ser cúmplice do comportamento criminoso do Estado de Israel. E a participar, no mínimo por omissão, num processo genocida. Num caso destes até o silêncio seria mais honesto. Acompanhando os ecos da comunicação corporativa sobre «a guerra entre o Hamas e Israel» ou a «escalada de violência entre israelitas e palestinianos» percebe-se que o conceito de «cessar-fogo» implícito é o da paragem dos bombardeamentos contra Gaza e também do lançamento de foguetes a partir da faixa cercada. Foguetes esses que são, na verdade, os únicos instrumentos através dos quais – perante a imobilidade internacional – sectores palestinianos fazem sentir a Israel que, apesar de tudo, não está completamente impune. Fisgas contra tanques ou foguetes contra tecnologia de guerra de última geração: estamos perante afirmações possíveis de existência e de resistência; nada que se pareça com um confronto entre dois exércitos. Sendo certo que cada vida perdida é uma vítima inútil de uma situação que as forças dominantes teimam em não resolver, a não ser através da aniquilação da outra parte, o cenário mediaticamente instituído de um falso equilíbrio permite-nos perceber até que ponto a comunicação social corporativa se deixou contaminar pelo conceito xenófobo cultivado pelo sionismo quanto à diferença de valor entre as vidas de cidadãos israelitas e árabes. «Se, por exemplo, os dirigentes da União Europeia – ainda que incomodando a administração Biden – experimentassem suspender as relações económicas e militares com Israel até que este país abrisse comprovadamente as portas à solução de dois Estados, talvez o cenário se alterasse. Afinal, suspender relações económicas e impor sanções a países terceiros já não constitui qualquer novidade para a União Europeia, predisposta assim a sofrer as respectivas consequências» A guerra de Israel contra os palestinianos iniciou-se muito antes desta nova fase da barbárie contra Gaza, há mais de setenta anos, e irá prosseguir se o «cessar-fogo» determinar apenas que se calem agora as armas e não for além disso, impondo a Israel medidas completas para que se cumpra de uma forma viável e com um conteúdo plenamente soberano a solução de dois Estados na Palestina. Caso contrário, o fim da actual ofensiva contra Gaza significará a continuação da colonização, do cerco contra a pequena e sobrelotada faixa, da limpeza étnica, das expulsões em Sheik Jarrah e, uma após outra, em todas as comunidades palestinianas de Jerusalém ou da Cisjordânia. Até ao próximo ataque contra Gaza se os palestinianos ousarem exercer activamente o seu direito à existência e à resistência. Um exemplo de como Israel é completamente imune às palavras inconsequentes dos seus amigos e aliados sempre que as imagens da chacina tornam impossível o silêncio é a demolição premeditada do edifício da agência Associated Press (AP) em Gaza. A Israel não será difícil responder a Biden, forçado a perguntar sobre os motivos de tal atitude: o edifício daria acesso aos «túneis do Hamas» ou serviria até de «escudo humano» para o grupo fundamentalista islâmico palestiniano. Uma organização que ganhou vida – é oportuno recordá-lo – com apoio sionista quando se tornou importante dividir o movimento do primeiro Intifada, em finais dos anos oitenta, iniciado precisamente em Gaza. As forças armadas sionistas que participam em exercícios atlantistas são as mesmas que fazem jorrar o sangue de civis indefesos na Palestina, impedidos de escapar às suas bombas. Israel está a cometer mais um acto de apogeu da chacina a que tem vindo a submeter impunemente a população da Faixa de Gaza – e da Palestina em geral – durante as últimas décadas. Os alvos não são «os túneis do Hamas», como informa o regime sionista, mas dois milhões de pessoas que vivem enclausuradas num imenso campo de concentração do qual não podem escapar. Não se trata de um «confronto»: é uma barbárie. Algumas notas sobre o que está a passar-se. A Faixa de Gaza e a respectiva população são um alvo que Israel tem sempre à mão quando necessita de recorrer a manobras de diversão por causa da degradação política interna, como acontece no momento actual, em que se misturam a prolongada indefinição governativa, a corrupção a alto nível do regime e a polémica gestão da pandemia – por sinal, insolitamente elogiada no plano internacional. «A Faixa de Gaza e a respectiva população são um alvo que Israel tem sempre à mão quando necessita de recorrer a manobras de diversão por causa da degradação política interna, como acontece no momento actual» Os dirigentes sionistas não duvidam, nem por um instante, de que podem utilizar o instrumento da guerra contra Gaza porque sabem que a chamada comunidade internacional o permite. As instâncias internacionais, com a ONU à cabeça, e as grandes potências, com destaque para os Estados Unidos e a União Europeia, permitem tudo a Israel sem assumir uma única medida para conter a barbárie. Há mais de 70 anos que a comunidade internacional se vem dotando de instrumentos legais para fazer respeitar os direitos inalienáveis do povo palestiniano e há mais de 70 anos que eles são interpretados como letra morta. Este comportamento é um incentivo à discricionariedade de Israel; e Israel aproveita-o consoante as suas conveniências sabendo que nada de mal lhe acontecerá e nenhuma reacção irá além do apelo à «moderação» e a um «cessar-cessar entre as partes». Isto é, entre uma «parte» que pode tudo e uma «parte» que sofre tudo. Os foguetes do Hamas são irrelevantes quando comparados com o aparelho de guerra usado pelo regime sionista. A actuação da comunidade internacional na questão israelo-palestiniana é o exemplo mais flagrante da sua permanente utilização do sistema de pesos e medidas variáveis. Isolada pela comunidade internacional em geral, a Palestina conta cada vez menos com a solidariedade do chamado mundo árabe. Sob a égide da administração Trump nos Estados Unidos, países árabes como os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein juntaram-se recentemente ao Egipto na normalização das relações com Israel, o que significa abandonar a defesa dos direitos dos palestinianos. Acresce que existem, de facto, relações diplomáticas entre o Estado sionista e a Arábia Saudita, encimadas pela amizade e afinidades entre o primeiro-ministro Netanyahu e o herdeiro do trono wahabita, Mohammed Bin Salman. Uma aliança sobre os escombros da Palestina. «Há mais de 70 anos que a comunidade internacional se vem dotando de instrumentos legais para fazer respeitar os direitos inalienáveis do povo palestiniano e há mais de 70 anos que eles são interpretados como letra morta. Este comportamento é um incentivo à discricionariedade de Israel» Na prática, a solidariedade árabe nunca desempenhou um papel que permitisse a criação de um Estado palestiniano, como determinam as normas e a doutrina estabelecidas pela comunidade internacional. O reconhecimento de Israel por cada vez mais países árabes, porém, reforça a ideia de que o problema palestiniano poderá ter outras «soluções» que não sejam a criação de um Estado palestiniano independente, viável e plenamente soberano. Por outro lado, as relações entre países árabes e Israel transformam cada vez mais o Estado sionista numa entidade plenamente integrada no Médio Oriente, dando assim forma ao arranjo pretendido pelos Estados Unidos de uma região com duas potências dominantes – Israel e Arábia Saudita –, ambas viradas contra o Irão. O novo pico de guerra de Israel contra Gaza não pode desligar-se dos permanentes esforços de Israel para tentar provocar uma guerra directa contra o Irão – à qual as administrações norte-americanas ainda têm resistido. A ofensiva supostamente «contra o Hamas» – grupo que Israel liga a Teerão apesar de ser sunita e não xiita – acontece no preciso momento em que a administração Biden ainda não definiu se regressa ou não ao acordo nuclear 5+1 com o Irão. A mensagem israelita é directa: apoiando grupos activos no Médio Oriente, como o Hezbollah no Líbano e na Síria e o Hamas na Palestina, o Irão terá de ser desencorajado de o fazer. E os acordos com Teerão têm de ser invalidados. Por muito que possam vir a proclamar verbalmente o contrário, os Estados Unidos e a União Europeia estão por detrás de mais esta chacina israelita em Gaza. Se em relação a Washington não existe qualquer dúvida, tanto mais que o aparelho do Partido Democrata no poder é o que está mais sintonizado com os interesses dominantes do sionismo, poderão levantar-se reticências em relação ao papel da União Europeia. «a prática de Bruxelas e dos 27 é objectivamente favorável às atitudes assumidas por Israel, sejam elas quais forem: nada fazem para que seja concretizada a solução de dois Estados na Palestina, mantêm relações económicas e políticas preferenciais com Israel e não assumem nas instâncias internacionais qualquer posição contra as atitudes militares extremas do sionismo» O que não tem qualquer razão de ser. Apesar de algumas declarações de distanciamento, como foi o caso por ocasião da transferência da embaixada norte-americana para Jerusalém, a prática de Bruxelas e dos 27 é objectivamente favorável às atitudes assumidas por Israel, sejam elas quais forem: nada fazem para que seja concretizada a solução de dois Estados na Palestina, mantêm relações económicas e políticas preferenciais com Israel e não assumem nas instâncias internacionais qualquer posição contra as atitudes militares extremas do sionismo. Antes pelo contrário: Israel é um parceiro activo da NATO – que rege a União Europeia do ponto de vista militar – e está mesmo envolvido nos exercícios em curso na Grécia e no Mar Egeu no quadro dos jogos de guerra «Defender Europe». Isto é, as forças armadas sionistas que participam em exercícios atlantistas são as mesmas que fazem jorrar o sangue de civis indefesos na Palestina, impedidos de escapar às suas bombas. Uma aliança que dizima vidas e direitos humanos. A mensagem de Israel com esta nova operação de barbárie é directa: nada fará parar o sionismo no seu objectivo de limpar e submeter etnicamente a Palestina e de impedir qualquer tentativa, por débil que seja, de implementar a solução de dois Estados. O instrumento para concretizar esse objectivo é a colonização ininterrupta dos territórios da Cisjordânia – a par do cerco férreo a Gaza – de maneira a estender a ocupação, inviabilizar as possibilidades territoriais de instaurar um Estado e quebrar a resistência nacional palestiniana. «a operação militar sionista assumiu as já conhecidas proporções de punição colectiva. Contando, para isso, com a habitual impunidade que lhe é assegurada pelas instâncias internacionais. De facto, Israel usa o terrorismo para impor a lei do mais forte sabendo que encontrará pouca oposição e condenação nenhuma» Nas últimas semanas o regime sionista expulsou mais famílias e arrasou as suas habitações no bairro de Sheik Jarrah, em Jerusalém Leste, no quadro da «limpeza» de todos os palestinianos da cidade. Acontece que a ofensiva encontrou forte resistência da população atingida, sinal de que, apesar de isolados internacionalmente, os palestinianos não estão dispostos a abdicar dos seus direitos. Uma vez que Gaza respondeu à agressão e da Faixa de Gaza foram disparados foguetes contra território israelita, a operação militar sionista assumiu as já conhecidas proporções de punição colectiva. Contando, para isso, com a habitual impunidade que lhe é assegurada pelas instâncias internacionais. De facto, Israel usa o terrorismo para impor a lei do mais forte sabendo que encontrará pouca oposição e condenação nenhuma. A nova fase da chacina contra Gaza e da limpeza étnica da Cisjordânia é, afinal, mais um passo no sentido de um desfecho que inviabilize de vez a solução de dois Estados na Palestina. Ao mesmo tempo que este princípio vai sendo invocado como um mantra cada vez mais vazio de significado pelos que insistem em dizer-se defensores das leis internacionais e dos direitos humanos. Enquanto isto, continuam a morrer inocentes indefesos e a Nakba, o holocausto palestiniano, prossegue, dia após dia, sob os olhos e a passividade do mundo. Até ao último dos palestinianos. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Israel poderá ainda dizer que não fez nada que a NATO não tenha executado por exemplo em Belgrado, em 1999, quando bombardeou e destruiu o edifício da televisão jugoslava. É certo que a AP tem prestado permanentes e bons serviços ao regime sionista, tal como as outras principais agências internacionais de informação. E não será este aparentemente inusitado bombardeamento que irá interromper a sua fidelidade para com Israel. O governo israelita está seguro disso – é a ordem natural das coisas. Para interrompê-la de maneira favorável ao reconhecimento dos direitos dos palestinianos seria necessário muito mais do que as rotineiras palavras de inquietação e um «cessar-fogo» transitório. Nem tanto. Se, por exemplo, os dirigentes da União Europeia – ainda que incomodando a administração Biden – experimentassem suspender as relações económicas e militares com Israel até que este país abrisse comprovadamente as portas à solução de dois Estados, talvez o cenário se alterasse. Afinal, suspender relações económicas e impor sanções a países terceiros já não constitui qualquer novidade para a União Europeia, predisposta assim a sofrer as respectivas consequências. De um ponto de vista objectivo, não haverá país tão merecedor de tais medidas como Israel, pelo menos tendo em conta palavras proferidas de quando em vez por alguns dirigentes europeus. Fazer sentir aos chefes sionistas que a barbárie tem um preço a pagar seria a maneira de lhes proporcionar um inesperado encontro com uma nova realidade e as consequências dos seus comportamentos cruéis. E seria, sobretudo, um caminho para o fim de uma tragédia humana, não apenas em Gaza mas também na Cisjordânia e até em Israel, onde os dirigentes se debatem com uma interminável crise governativa e mesmo – eles o dizem – com os riscos de «uma guerra civil». José Goulão, exclusivo O Lado Oculto/AbrilAbril Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Tal como o projecto do Ministério da Inteligência, este documento é igualmente um concentrado de «vantagens» distribuídas em muitas direcções. Parte do princípio de que no Egipto «há dez milhões de unidades habitacionais desocupadas… que poderiam ser imediatamente preenchidas com palestinianos». Para que isso possa acontecer, Israel deveria comprar essas propriedades por um preço total entre cinco mil e oito mil milhões de dólares norte-americanos, quantia equivalente a uma percentagem do PIB israelita entre 1 e 1,5%. Diz Weitman: isto equivaleria a «comprar a Faixa de Gaza», «um investimento muito valioso». Apresentado também como «um gestor de investimentos e investigador», o autor explica que «investir milhares de milhões de dólares para resolver tão difícil questão é uma solução inovadora, barata e sustentável». Poderá atenuar ou até solucionar o problema da falta de habitação em Israel; para o Egipto será «um estímulo imediato» e representará «um benefício tremendo e imediato» para a região do Sinai. Além disso, o impacto demográfico no Egipto não será significativo, garante. Os habitantes de Gaza «constituem menos de dois por cento da população egípcia total, que hoje já inclui nove milhões de refugiados. Uma gota no oceano». Portanto, enquanto alguns responsáveis israelitas antevêem, numa primeira fase, transferir a população de Gaza para «cidades de tendas» no Sinai, a «solução» do Dr. Weitman garante, desde logo, a utilização de casas de habitação. Sublinha o autor que a Alemanha e a França, «os principais credores do Cairo», não deixarão de concordar com este processo, uma vez que «a economia egípcia será revitalizada» graças ao «investimento israelita». Também os países da Europa Ocidental «aceitarão a transferência de toda a população de Gaza para o Egipto» porque «reduzirá significativamente o risco de imigração ilegal…, uma tremenda vantagem». Neste aspecto, os planos do Ministério da Inteligência e do professor Amir Weitman parecem dissonantes, uma vez que o primeiro encara os países europeus como acolhedores de palestinianos; o segundo aposta firmemente no Egipto, o que, a acreditar nas sucessivas declarações do presidente Al-Sisi de que não abrirá a fronteira para permitir a limpeza étnica, pode deixar o projecto sem plano B. No entanto, como a actual fase do processo é ainda a chacina generalizada da população de Gaza, que os Estados Unidos e os seus satélites continuam a permitir recusando a imposição de um cessar-fogo, pode dizer-se que haverá tempo para acertar e fazer coincidir os mecanismos do projectado crime de guerra. «Será que o mundo assim ameaçado por "centenas de ogivas atómicas" (Sharon dixit) ainda não entendeu o significado e os perigos do que está a acontecer no pequeno território da Faixa de Gaza?» O Dr. Weitman continua a distribuir «vantagens» associadas ao seu programa. «A evacuação da Faixa de Gaza significa a eliminação de um aliado significativo do Irão»; o encerramento da questão de Gaza garantirá, por outro lado, «o fornecimento estável e crescente de gás israelita ao Egipto» – roubado nas águas palestinianas – «e a sua liquefacção». Por fim chega a «vantagem dos palestinianos»: «deixam de viver na pobreza sob o domínio do Hamas». Isto é, enquanto continuam a ser massacrados pelas tropas sionistas, afinal têm à sua frente um futuro risonho. O Dr. Weitman deixa um conselho: não há tempo a perder. «Não há dúvida de que para que este plano se concretize há muitas condições que devem ser reunidas simultaneamente. Actualmente essas condições estão reunidas e não está claro quando uma oportunidade destas voltará a surgir, se é que alguma vez surgirá. Este é o momento de agir». O jornalista israelita Gideon Levy, que escreve no diário Haaretz, costuma dizer que «o sionismo confunde o judaísmo com o mundo», no fundo uma expressão do racismo e dos atributos mitológicos, messiânicos, inerentes a esta doutrina. Os projectos para a consumação da limpeza étnica da Faixa de Gaza já em andamento traduzem essa maneira de pensar e de viver o sionismo tal como é praticado em Israel, pondo e dispondo do mundo, posicionando-se acima da lei como um dom natural, uma escolha divina, recorrendo a todos os meios possíveis e impossíveis para afirmar a sua superioridade, que considera inquestionável. Ou, como em tempos disse o criminoso de guerra Ariel Sharon, «temos a capacidade de destruir o mundo e garanto-vos que isso acontecerá antes de Israel se afundar». Será que o mundo assim ameaçado por «centenas de ogivas atómicas» (Sharon dixit) ainda não entendeu o significado e os perigos do que está a acontecer no pequeno território da Faixa de Gaza? Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença.Opinião|
Uma limpeza étnica sob os nossos olhos – 3

«Matar, matar, matar e matar»
Limpeza étnica ou extermínio colectivo?
«Esses animais não podem continuar a viver»
Como fintar o direito internacional
Opinião|
Até ao último dos palestinianos

Cadeia de mistificações
Colonização igual a anexação
A punição dos refugiados
Anexação da Cisjordânia
Contribui para uma boa ideia
Limpeza étnica «barata e sustentável»
Opinião|
A matança, o cessar-fogo e a solução de dois estados

Da colonização ao extermínio
Contaminação xenófoba
Por que não carregar onde dói?
Opinião|
Gaza, notas sobre uma chacina

1) O principal responsável pelo massacre não é Israel: é a chamada comunidade internacional
2) O mundo árabe isola cada vez mais a Palestina
3. Um massacre com o Irão na mira
4. O papel dos Estados Unidos, União Europeia e NATO
5. A causa próxima: colonização e limpeza étnica
Contribui para uma boa ideia
Impossível?
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Smotrich e Ben-Gvir não integram o Conselho de Guerra, chefiado igualmente por Netanyahu, mas conseguem intervir no seu funcionamento com uma influência que já provocou a demissão de «moderados», como o ex-primeiro-ministro Benny Gantz.
O triunvirato governamental informal tem como mentor o rabino David Liar, chefe de um movimento «clandestino» judaico que defende a construção do Terceiro Templo na Esplanada das Mesquitas (Monte do Templo para os sionistas) depois de arrasar a mesquita de Al-Aqsa e a mesquita da Cúpula do Rochedo de onde, segundo a tradição, o Profeta Maomé subiu aos céus. Este espaço religioso situado no centro da Cidade Velha de Jerusalém é o terceiro lugar sagrado do Islão, a seguir a Meca e Medina. O rabino Liar pretende igualmente incendiar todos os autocarros de Jerusalém. De acordo com a sua estratégia, o objectivo é instaurar um clima de terror susceptível de provocar a «Última Guerra», o conceito bíblico do Armagedão. Um louco inspirando ministros loucos. Para o primeiro-ministro Netanyahu, porém, o rabino David Liar é «a unidade de elite que lidera Israel».
Diz o general Moshe Ya'alon: «Tudo isto corresponde ao conceito de supremacia judaica, um Mein Kampf ao contrário, e tem influência no processo de decisão do actual governo de Israel». O ex-chefe do Estado Maior qualifica este quadro como uma manifestação de «demência cósmica do projecto sionista» e que vai «muito além do facto de o Estado ter perdido o controlo da extrema-direita», ao ponto de ser governado por ela.
Esta facção do sionismo é preponderante na acção da AIPAC, o principal lobby israelita nos Estados Unidos, com um poder que elege presidentes; o que explica o facto de Netanyahu ter sido aplaudido 58 vezes por congressistas de todas as tendências durante o recente discurso feito no Congresso de Washington e no qual proferiu pérolas oratórias como «não há lugar para a violência política nas democracias».
A situação crítica a que chegou o Estado de Israel, que colocou meios de destruição massiva nas mãos de dementes sem um pingo de racionalidade, para quem o Armagedão ou Juízo Final é um determinismo bíblico no qual o «povo eleito», o hebraico, sobreviverá, assenta num compromisso político entre o Likud de Netanyahu e os partidos terroristas de Smotrich e Ben-Gvir. O acordo de governo prevê a criação de uma força militarizada autónoma, tudo indica que de colonos, na Cisjordânia ocupada; e de uma Guarda Nacional, além do reforço das tropas no policiamento das fronteiras. Este novo aparelho militarizado estará globalmente sob a responsabilidade de Ben-Gvir, o que implica uma substituição da tutela que, por norma, pertence ao Ministério da Defesa.
Ao abandonar o Conselho de Guerra, Benny Gantz denunciou que «as forças de Ben-Gvir passam a constituir um exército privado que conta com a lealdade de centenas de milhares de colonos vigilantes controlados pelo rabino David Liar e influenciados pela figura de Jabotinsky; por isso lhe chamam "o exército Jabotinsky"».
«A situação crítica a que chegou o Estado de Israel, que colocou meios de destruição massiva nas mãos de dementes sem um pingo de racionalidade, para quem o Armagedão ou Juízo Final é um determinismo bíblico no qual o "povo eleito", o hebraico, sobreviverá, assenta num compromisso político entre o Likud de Netanyahu e os partidos terroristas de Smotrich e Ben-Gvir.»
Não é difícil prever que uma guerra civil fatal para o próprio Estado pode estar no horizonte no caso de a limpeza étnica dos palestinianos ser suspensa por uma hipotética e remota ressurreição da «solução de dois Estados», ainda que seja invocada como um inócuo pretexto para uma não menos hipotética, e presentemente irrealista, declaração de cessar-fogo em Gaza levada a sério pela parte israelita. Cobrindo todas as hipóteses, no caso de, ainda assim, o «processo de paz» continuar presente no cínico vernáculo diplomático, o terrorismo dos colonos já pôs a Cisjordânia a ferro e fogo, acelerando a limpeza étnica.
Os Estados Unidos e a União Europeia, no entanto, insistem na defesa meramente verbal da «solução de dois Estados» sabendo com toda a certeza que não poderá ser aplicada, a não ser que eles próprios acabem com a tolerância e a cumplicidade para com as práticas israelitas, válidas e activas até quando estas são conduzidas, como agora, pela demência religiosa do sionismo «revisionista», aplicando à letra as tenebrosas ficções bíblicas do Antigo Testamento. Os Estados Unidos e União Europeia fazem, sem dúvida, o jogo do nazismo sionista tal como acontece com o nazismo-banderismo ucraniano – em ambos os casos em nome da «democracia» e para salvaguardar a existência «da civilização ocidental».
Por isso, quando o lusitano Paulo Rangel, cônsul de turno do Departamento de Estado norte-americano em Lisboa, afirma que Portugal só reconhecerá o Estado Palestiniano quando a União Europeia o reconhecer em bloco, mais não faz do que falar de política externa para imbecis de igual calibre. Por todas as razões e mais uma: Rangel sabe muito bem que não terá de se confrontar com essa decisão – para ele contranatura – porque os 27 jamais conseguirão a unanimidade sobre esse assunto, ainda que algum dia, improvavelmente, cheguem a abordá-lo a sério.
No rasto da «opção Sansão»
Há exactamente 30 anos, no auge do «processo de paz» e nos dias em que Yasser Arafat visitava os territórios palestinianos, incluindo a cidade de Jericó e Gaza, assisti em Jerusalém Oeste a uma manifestação de colonos contra qualquer hipótese de paz e de instauração de um Estado Palestiniano. Era ainda, e tão só, uma ocasional manifestação de força global dirigida contra o primeiro-ministro Isaac Rabin e encabeçada por Benjamin Netanyahu e outro criminoso de guerra, Ariel Sharon, o carniceiro do Líbano.
Observando o ódio e, sobretudo, a expressão de uma violência capaz de tudo manifestada pelos colonos que nesse dia fizeram transbordar a grande avenida, que significativamente tem o nome de Jabotinsky, fiquei com a certeza de que a colonização e a insistência no seu desenvolvimento eram as principais armas para mudar a relação de forças política no sentido do extremismo sionista – e assim bloquear o «processo de paz». Menos de um ano depois, demonstrando que essa vertente sionista não olha a meios, os colonos e o terrorismo religioso assassinaram o primeiro-ministro Rabin e franquearam as portas do governo a Netanyahu e Sharon, situação que dura até hoje sob a chefia do primeiro. Iniciou-se aí, é possível deduzir actualmente, o «golpe governamental e constitucional» de que fala o general Moshe Ya'alon. E o «processo de paz», insuficiente desde o início, transformou-se num nado-morto.
O sionismo assumiu abusivamente o monopólio do «semitismo», de maneira que qualquer crítica ou acusação à teoria e práticas do regime de Israel e da doutrina em que se baseia seja considerada uma manifestação de antissemitismo. «A transferência obrigatória (dos palestinianos) permitir-nos-á tomar posse de uma imensa região; e não vejo na transferência obrigatória nada de imoral» (David Ben-Gurion, fundador e primeiro chefe de governo do Estado de Israel) O sionismo, como doutrina teocrática fundamentalista, é uma fonte inesgotável de metáforas inspiradas nas velhas Escrituras em versões com estilo e léxico renovados para se adaptarem aos tempos de hoje e penetrarem mais profundamente como ferramentas de propaganda. A regra não é geral porque às vezes os antiquíssimos dizeres bíblicos servem para incitar de maneira figurada – portanto sempre passível de ser desmentida – à realização de actos sanguinários que, mesmo sob a existente campânula de impunidade, poderiam até chocar almas sempre dispostas a justificar os mais injustificáveis comportamentos israelitas. Dias depois de 7 de Outubro de 2023, quando Israel se lançou em nova fase do genocídio em Gaza, Benjamin Netanyahu recorreu ao Deuteronómio, livro sagrado comum à Tora hebraica e ao Antigo Testamento bíblico, para invocar os versículos 15:3 do profeta Samuel: «Isto é o que o Senhor Todo-Poderoso diz: vai e fere Amaleque e destrói completamente tudo o que eles têm, não os poupes, mata homens e mulheres, crianças e bebés, bois e ovelhas, camelos e jumentos». Amaleque era, há três mil anos, segundo os livros sagrados, um «reino rival» do «reino de Israel». Netanyahu foi peremptório a garantir que a escolha da citação e o momento para a recordar nada tinham que ver com a operação militar em Gaza e os incitamentos ao genocídio. Apeteceu-lhe recitá-la – não existe outra explicação. Em seu redor, porém, não faltaram as recomendações agressivas de ministros, deputados e dignitários religiosos, sublinhando que toda a população de Gaza – homens, mulheres e crianças – são «alvos legítimos» das tropas israelitas. No dia-a-dia do sionismo abundam, porém, metáforas de formulação bem mais grosseira, boçais, cruéis e racistas até, isentas das piruetas de linguagem usadas para expôr os requintes de malvadez cultivados no Antigo Testamento. As mais frequentes, e que traduzem na perfeição o culto supremacista dos seguidores desta doutrina, são as metáforas zoológicas, repisando o tema da identificação dos palestinianos com animais. Ehud Barak foi o último primeiro-ministro do histórico Partido Trabalhista, que entrou em fase de dissolução com o assassínio de Isaac Rabin em 1995, resultante, sem dúvida, de uma conspiração urdida pela direita usando os colonos e fundamentalistas desequilibrados como executantes. Seguindo o caminho tradicional para identificar quem lucrou com o crime, na primeira linha de suspeitos estão Ariel Sharon e Benjamin Netanyahu, que repartiram o lugar de primeiro-ministro quase por inteiro nos últimos 30 anos, precisamente desde a liquidação de Rabin. Barak ocupou o cargo esporadicamente no início do século e mantém-se plenamente no activo, embora sem poiso político certo. Segundo ele, de extração trabalhista e alegadamente secular como Ben-Gurion, Golda Meir e Isaac Rabin, «os palestinianos são como os crocodilos, quanto mais carne se lhes dá mais querem». Tornou pública esta teoria, inspirada, por certo, nos documentos sobre a vida animal de Sir David Attenborough, a propósito das «negociações» com a parte palestiniana iniciadas no âmbito dos Acordos de Oslo de 1993 e depois sabotadas pelo regime sionista e pelos «mediadores» norte-americanos. O já citado Ovadia Yosef, grande rabino sefardita e chefe até 2014 do partido fundamentalista Shas, reflectiu publicamente sobre a existência de árabes na «Terra de Israel» testemunhando que «pululam como formigas na Cidade Velha de Jerusalém: que vão para o diabo, o Messias irá expedi-los para o inferno». Nas primeiras décadas do século passado, Mosha Smilanski foi um escritor sionista e, simultaneamente, um latifundiário que lançou a «Associação de Agricultores» na Palestina sob Mandato Britânico. Da sua actividade concluiu que «estamos confrontados com um povo semi-selvagem com conceitos extremamente primitivos (…) e um ódio secreto aos judeus. Esta raça semita (os árabes) é antissemita». Zev Boim, deputado israelita eleito pelo partido «centrista» Kadima, que há poucos anos entrou em alianças com o Likud de Netanyahu, é autor de uma definição brilhante sobre as características rácicas dos árabes e dos muçulmanos em geral. Eis as suas reflexões: «Que há no Islão em geral e nos palestinianos em particular? É uma espécie de carência cultural? Um defeito genético? Neste desejo permanente de matar há qualquer coisa que desafia as explicações…» O latifundiário Smilanski, porém, reconhecera que os árabes são «uma raça semita», realidade que hoje é silenciada por razões óbvias da propaganda sionista, seguida sem reservas pelas áreas políticas e mediáticas que a disseminam. O sionismo não tem legitimidade para se apropriar da dor, morte e memória de todas as vítimas do Holocausto, muito menos de todos os seres humanos que pereceram sob a máquina de morte nazifascista. «Este país existe para cumprimento de uma promessa feita pelo próprio Deus. Seria ridículo pedir-lhe que prestasse contas da sua legitimidade» [Golda Meir, primeira-ministra de Israel (1969-1974)] Não é possível conhecer com autenticidade o Estado de Israel nem identificar o que permite a este país artificial e colonial continuar impune, apesar de praticar há 75 anos o genocídio de um povo e os mais atrozes crimes contra a humanidade, sem aprofundar o conhecimento sobre a doutrina sionista, a ideologia confessional, racista e supremacista que lhe deu origem e o sustenta. O sionismo não representa os judeus de todo o mundo; não representa o semitismo; não representa sequer a globalidade dos cidadãos de Israel. O sionismo não tem legitimidade para se apropriar da dor, morte e memória de todas as vítimas do Holocausto, muito menos de todos os seres humanos que pereceram sob a máquina de morte nazifascista. No entanto, o sionismo, uma ideologia antissemita, consegue manter o mundo de mãos amarradas apesar de a sua obra com maior impacto ser um Estado com pouco mais de meia dúzia de milhões de habitantes – uma percentagem significativa dos quais não são judeus, israelitas e muito menos sionistas, embora sejam semitas. O sionismo é uma doutrina com quase 150 anos que assenta no expansionismo, na limpeza étnica e substituição das populações em territórios distribuídos por uma área indefinida do Médio Oriente que há três milénios um «deus» solitário reservou para o povo por si «escolhido» com o objectivo de o instalar depois de uma fuga do Egipto, onde supostamente era tratado como escravo por um faraó não identificado, e de vaguear 40 anos pelo deserto. Nada disto tem comprovação histórica factual, emana apenas do Antigo Testamento bíblico e da Tora hebraica. Esta é a base mística e mítica do sionismo, dogmatizada segundo ficções de um confessionalismo que, embora semi-escondido tacticamente nos tempos de criação da doutrina, fundamenta hoje, quase por inteiro, o regime terrorista de Israel. Existe, porém, outro lado da moeda; nos finais do séc. XIX o fundador do sionismo, o jornalista judeu austríaco Theodor Herzl, já considerava essencial construir «um muro de defesa da Europa na Ásia, um posto avançado da civilização contra a barbárie». Ou, como diria o actual presidente dos Estados Unidos da América, Joseph Biden, nos anos oitenta do século passado, «se Israel não existisse teria de ser inventado». O sionismo é, portanto, uma doutrina criada com base em ficções religiosas para aplicar uma estratégia de colonização, de limpeza étnica e de genocídio dos «bárbaros», também eles semitas; além disso, cumpre uma missão civilizacional a realizar por um povo «escolhido por Deus», superior a todos os outros – que «existem para o servir». Povo esse que se guia apenas pelas leis divinas e só presta contas ao Senhor. Quando actualmente algum político ou diplomata deseja a saída de Benjamin Netanyahu da chefia do governo israelita como via para terminar a carnificina em Gaza não expressa mais do que um voto piedoso. Israel rege-se actualmente, talvez como nunca, pelo fundamentalismo religioso sionista, que determina a expulsão dos árabes da «Terra de Israel» – um território sem fronteiras estabelecidas onde os governantes não têm de obedecer às leis terrenas. «Sou contra o direito, o direito internacional, o direito em geral», explica a ex-ministra da Justiça israelita, a jurista Tzipi Livni. Netanyahu é, como se percebe, uma peça de uma engrenagem monstruosa que em nada depende dele para funcionar. Vamos então conhecer um pouco melhor esta doutrina, o sionismo, que mantém o mundo de mãos amarradas, apesar de lhe passarem à frente dos olhos as imagens do extermínio sistemático de um povo, e cujo papel na trágica realidade montada em Israel é frequentemente subvalorizado. A frase que se reproduz no início deste texto foi proferida pela antiga primeira-ministra de Israel e uma figura de culto do sionismo, Golda Meir, numa entrevista ao jornal Le Monde. Golda Meir não era religiosa, ou pelo menos assim se definia; foi fundadora da central sindical Histadrut em 1928 e chefiou durante anos o partido Mapai, depois Partido Trabalhista, a fracção dita socialista do sionismo. Considerada a primeira «dama de ferro» da política internacional, pois saiu de cena em Israel quando Margaret Thatcher entrou ao serviço no Reino Unido, Golda Meir foi transformada em mito pelo aparelho de propaganda sionista funcionando a partir de Hollywood através de um filme épico produzido em 2023, ano em que Israel iniciou em Gaza a maior expressão da selvajaria humana desde as carnificinas de Hitler. «Talvez possamos perdoar aos árabes por terem matado os nossos filhos, mas para nós será mais difícil perdoar-lhes por nos terem obrigado a matar os seus filhos», outra frase lapidar da antiga primeira-ministra de Israel que muito nos ajuda a entender a essência desumana e hipócrita do espírito sionista e, desde logo, permite estabelecer uma dissociação absoluta entre essa doutrina racista e genocida e o judaísmo enquanto povo, cultura e religião. Dizia ainda Golda Meir que «os palestinianos não existem», porque «existem apenas árabes»; e que, por isso, «como é que podemos devolver os territórios ocupados se não existe ninguém para recebê-los?» «Talvez possamos perdoar aos árabes por terem matado os nossos filhos, mas para nós será mais difícil perdoar-lhes por nos terem obrigado a matar os seus filhos.» Golda meir, antiga primeira-ministra de Israel Há poucos dias, o Knesset (Parlamento israelita) aprovou por larga maioria uma decisão segundo a qual Israel nunca permitirá a existência de um Estado palestiniano, desafiando assim o mundo e o direito internacional. Ontem como hoje, com a trabalhista Golda Meir ou o direitista (partido Likud) Netanyahu, o Estado de Israel, a imagem viva do sionismo, coloca-se numa plataforma acima das coisas terrestres, na qual vive «o povo eleito», ao qual compete interpretar e cumprir as ordens dos poderes divinos. «É verdade, há a justiça, mas depois existe a justiça hebraica», proclamava Golda Meir nos anos setenta do século passado. Uma formulação que, cinco décadas depois, foi retomada, usando outras palavras, por uma ex-ministra da Justiça de Ariel Sharon e Netanyahu, Tzipi Livni, muito querida de brilhantes palradores da nossa praça: «Sou jurista mas sou contra o direito, o direito internacional em particular, o direito em geral». Sobra, deste modo, o direito divino, «a lei de Deus», aquela segundo a qual se rege o Estado de Israel e que, em perfeita sintonia com a crueldade do Antigo Testamento – como acontece sob os nossos olhos – permite as limpezas étnicas, o extermínio e o genocídio. Os sionistas são quem melhor explica o sionismo. Não é uma aprendizagem fácil, porque a doutrina, sendo coerente nas suas finalidades e aplicação, está longe de ser linear devido às suas cambalhotas ideológicas; muitas vezes perdemo-nos entre a mistificação e a realidade, os princípios e o oportunismo, na deriva entre o determinismo religioso, a escatologia e a substância geoestratégica, mais prosaicamente, entre a verdade e a mentira. «Pode mentir-se no interesse de Israel», máxima proclamada por Isaac Shamir, operacional terrorista com responsabilidade em assassínios selectivos - designadamente do conde Folke Bernardotte, mediador entre árabes e israelitas em nome da ONU, nos anos 1947/48 – e que chegou a primeiro-ministro na segunda metade dos anos oitenta. «Os sionistas são quem melhor explica o sionismo. Não é uma aprendizagem fácil, porque a doutrina, sendo coerente nas suas finalidades e aplicação, está longe de ser linear devido às suas cambalhotas ideológicas (...).» Três das mistificações fundadoras do sionismo desenvolveram-se, e entranharam-se, ao longo do século XX e repercutem-se de forma agravada e intencionalmente irreversível nos dias de hoje, em que Israel está contra o mundo e o mundo tudo lhe permite. É falso que o sionismo seja uma doutrina secular; que tenha como princípio fundador promover o «regresso» do povo judaico à «terra prometida»; e que represente o judaísmo, a religião judaica, a etnia e cultura hebraicas. Essas três falsidades são, por sua vez, os pilares do monstruoso sistema de propaganda sionista manobrando nos principais centros de comunicação globalista e nas centrais de entretenimento, muito especialmente no império de Hollywood. Ainda que o trabalho teórico do jornalista judeu austro-húngaro Theodor Herzl (1860-1904), considerado o fundador do sionismo político, não admita abertamente o carácter religioso da doutrina, o mito bíblico da «terra prometida» alimentou a sua fundamentação desde os primeiros passos, pelo menos logo que em 1908 se iniciaram as compras de terras árabes no território da Palestina sob controlo otomano, designadamente para criar os tão «românticos» como expansionistas e colonizadores kibutz «socialistas». Os embriões das legiões e dos grupos terroristas que estiveram, posteriormente, na origem do Estado de Israel surgiram nessa altura, para forçar os árabes mais renitentes a «vender» as suas terras. O artifício propagandístico proclamando o objectivo de «regresso à terra prometida» foi idealizado na reunião sionista de Basileia em 1897, frequentada pelas elites judaicas endinheiradas da Europa – interligando então esse conceito com o da génese sionista, conferindo à doutrina um inquestionável conteúdo religioso. Na realidade não havia qualquer laivo de inocência ou de consciência progressista neste movimento. Theodor Herzl fora claro quanto às intenções de ocupação e expansão quando em 1900 recomendou que se «incitasse a população desfavorecida (da Palestina) a passar a fronteira, privando-a de trabalhar na nossa pátria». Herzl fez gala em identificar como uma das suas fontes de inspiração a figura de Cecil Rhodes, o criador das doutrinas de «desenvolvimento independente», eufemismo de apartheid, na África Austral, que ele qualificou como «um visionário». A associação entre sionismo e racismo vem, portanto, dos primórdios da doutrina e do edifício teórico-prático montado pelo seu fundador. «O artifício propagandístico proclamando o objectivo de "regresso à terra prometida" foi idealizado na reunião sionista de Basileia em 1897, frequentada pelas elites judaicas endinheiradas da Europa – interligando então esse conceito com o da génese sionista, conferindo à doutrina um inquestionável conteúdo religioso.» Desde o início do século XX estava em campo, de maneira particularmente activa, a família de banqueiros Rothschild, de origem judaica alemã, que patrocinou a compra directa ou por interpostas pessoas e entidades, driblando as autoridades otomanas, de grandes áreas das terras palestinianas. Cerca de 20 mil hectares passaram para as mãos de imigrantes sionistas entre 1908 e 1914; algumas fontes afirmam que cerca de 20% das terras férteis da Palestina estavam em mãos dos colonizadores já em 1918. Em 1917, entretanto, o governo britânico, a quem a elite sionista pedira apoio para o processo de colonização, formulou a famosa Declaração de Balfour (do nome do ministro dos Negócios Estrangeiros, Arthur Balfour) prometendo o apoio de Londres à criação de um «Lar Nacional» judaico na Palestina. Lord Balfour era um assumido antissemita; não estamos, porém, perante uma ironia histórica: esse foi mais um passo da longa e entranhada cooperação entre o sionismo e o antissemitismo que contribuiu para moldar a fundação e desenvolvimento do Estado de Israel; e que teve um marco fundamental na colaboração comprovada entre organizações e dirigentes sionistas e estruturas ao mais alto nível do fascismo mussoliniano e do nazismo hitleriano, como iremos perceber. Theodor Herzl levantara o véu ao qualificar Cecil Rhodes, pai do apartheid, como um visionário. A pegada racista ficou registada na génese e desenvolvimento do sionismo e não mais se extinguiu, antes se foi reforçando ao longo das décadas pré e pós-Israel até chegarmos aos dias de hoje, afirmando-se como pilar fundamental do regime terrorista de Benjamin Netanyahu. Menahem Begin foi um dos mais renomados chefes de grupos terroristas como o Irgun e de milícias sionistas como a Betar – em seu tempo um batalhão da marinha fascista de Mussolini – que em 1977 chegou a primeiro-ministro do Estado de Israel. Uma vez no cargo, onde se distinguiu pela sangrenta invasão do Líbano, o cerco de Beirute e os massacres de Sabra e Chatila no Verão de 1982, apoiando-se no criminoso de guerra Ariel Sharon como chefe das forças armadas, foi agraciado com o Prémio Nobel da Paz. A distinção deveu-se, oficialmente, à assinatura de um tratado com o Egipto de Anwar Sadat, em 1977, celebrado à custa dos interesses e direitos do povo palestiniano. «Os palestinianos são animais que caminham sobre duas patas», definiu o Nobel Menahem Begin, um dos mais históricos dirigentes do Estado sionista, esse nosso imprescindível «aliado», uma ilha do Ocidente entre os bárbaros do Médio Oriente, aliás a «única democracia» na região. Um sucessor de Menahem Begin, Naftali Bennet, primeiro-ministro nos anos de 2021 e 2022, cumprimentou os participantes palestinianos numa sessão de «negociações» informando-os de que «ainda vocês trepavam às árvores já nós tínhamos um Estado». O sionismo é uma forma de racismo. Não, esta asserção não é uma manifestação de antissemitismo. O racismo do sionismo começa dentro do próprio «semitismo» ao apropriar-se do conceito de semita em detrimento de todos os outros povos da mesma condição étnica, designadamente os árabes. O sionismo é racista e segregacionista dentro do próprio universo hebraico. A sociedade israelita está estratificada consoante a «pureza» das origens judaicas. À cabeça estão os asquenaze, oriundos da Europa Central e de Leste, os europeus inventores do sionismo e que o conduzem desde os primórdios, com repercussões praticamente totalitárias nos órgãos de decisão do Estado de Israel. A Assembleia Geral da ONU adoptou, de forma esmagadora, a resolução que a Rússia apresenta há vários anos contra a «glorificação do nazismo», que voltou a não contar com o apoio dos países da NATO. Por iniciativa da Rússia, a resolução «Combater a glorificação do Nazismo, Neonazismo e outras práticas que contribuem para alimentar formas contemporâneas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância relacionada» foi aprovada esta quinta-feira, na Assembleia Geral das Nações Unidas, com 130 votos a favor, dois votos contra (EUA e Ucrânia) e 49 abstenções. Entre as abstenções, inclui-se a de Portugal, a dos estados-membros da União Europeia e dos países que integram a NATO. A resolução proposta pela Rússia apela aos estados-membros da Organização das Nações Unidas (ONU) para que «eliminem todas as formas de discriminação racial por todos os meios adequados», incluindo a via legislativa, e expressa «profunda preocupação sobre a glorificação, sob qualquer forma, do movimento nazi, do neonazismo e de antigos membros da organização Waffen-SS». De acordo com uma nota publicada no portal na ONU, o texto refere-se, também, à «construção de monumentos e memoriais», e à «celebração de manifestações em nome da glorificação do passado nazi, do movimento nazi e do neonazismo» – algo que ocorreu nos últimos anos em países como a Ucrânia, a Letónia, a Estónia, a Lituânia e a Polónia. Grigory Lukiantsev, director-adjunto do Departamento de Cooperação Humanitária e Direitos Humanos do Ministério russo dos Negócios Estrangeiros, disse que a adopção da resolução será um contributo real para a erradicação do racismo e da xenofobia, refere a TASS. Cerca de mil pessoas participaram no desfile do Dia do Legionário em homenagem aos mais de 140 mil letões que integraram unidades nazis. A diplomacia russa classificou a marcha como uma «vergonha». O Dia do Legionário, a 16 de Março, é assinalado na Letónia desde os anos 90, para homenagear e evocar aqueles que fizeram parte da Legião da Letónia na Waffen Schutzstaffel (Tropa de Protecção Armada, mais conhecida como Waffen-SS). A marcha deste ano, em Riga, contou com a participação de alguns veteranos legionários, que integraram a 15.ª e a 19ª divisões de Granadeiros da Waffen-SS, bem como de apoiantes e neonazis. O evento anual, que tem sido criticado a nível internacional como uma forma de «glorificação do nazismo», também mereceu oposição interna, com alguns manifestantes a exibirem cartazes em que classificavam a Legião como uma «organização criminosa» e a lembrar que «lutaram ao lado de Hitler», segundo refere o periódico Haaretz. A Embaixada da Rússia no país do Báltico condenou a marcha de homenagem aos legionários da Waffen-SS, que classificou como «uma vergonha». Na sua conta oficial de Twitter, a Embaixada afirmou, no sábado: «Que vergonha! Veteranos da Waffen-SS e apoiantes estão novamente a marchar com honra no centro de uma capital europeia. E isto acontece na véspera do aniversário dos 75 anos da libertação de Riga dos invasores nazis!» Também a Embaixada da Rússia no Canadá se manifestou no Twitter contra o desfile realizado em Riga: «Veteranos da Waffen-SS nazis e apoiantes marcham desafiantes e livremente no dia 16 de Março em Riga, Letónia, recohecidos pelas autoridades como heróis nacionais. Uma realidade ignorada por muitos no Ocidente que não pode ser descartada como "propaganda do Kremlin".» A Waffen-SS, que foi criada como um ala armada do Partido Nazi alemão, foi considerada uma organização criminosa nos julgamentos de Nuremberga, após a Segunda Guerra Mundial, pela sua ligação ao Partido Nazi e envolvimento em inúmeros crimes de guerra e contra a Humanidade. A Legião da Waffen-SS da Letónia foi fundada em 1943. Muitos dos seus membros viriam a integrar depois, juntamente com combatentes da Lituânia e da Estónia, os chamados Irmãos da Floresta, que até 1953 lutaram contra as tropas soviéticas nos países bálticos. Em Julho de 2017, a NATO publicou um vídeo que apresenta, com visível dose de heroísmo, essa guerrilha anti-soviética, sem mostrar grande preocupação pelo facto de, nessas forças, estarem integrados muitos legionários das SS nazis ou os que, nos países bálticos, haviam colaborado com as forças invasoras nazi-fascistas. Então, Maria Zakharova, porta-voz do Ministério russo dos Negócios Estrangeiros, pediu que «se veja com respeito as páginas trágicas da história e se repudie tão repugnante acção da Aliança Atlântica». Disse ainda esperar que «não seja necessário recordar os assassinatos massivos perpetrados por muitos dos membros dos Irmãos da Floresta». Por seu lado, a representação da Rússia junto da NATO considerou que o material fílmico constitui uma nova tentativa de reescrever a história, para a colocar de acordo com os processos políticos nas ex-repúblicas socialistas do Báltico, onde prolifera o neofascismo e o nacionalismo. Moscovo tem reafirmado a sua preocupação sobre o surgimento de grupos neonazis e acerca de políticas que glorificam colaboradores com o nazismo na Ucrânia, na Polónia e nos Estados Bálticos – países onde, refere a agência Sputnik – são frequentes as marchas em louvor de destacadas figuras fascistas. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Acrescentou que o texto sublinha a inadmissibilidade de «glorificar os envolvidos nos crimes do nazismo, incluindo o branqueamento de ex-membros da organização SS e das unidades Waffen-SS, reconhecidas como criminosas pelo Tribunal de Nuremberga». A representação diplomática dos Estados Unidos junto das Nações Unidas tem votado sempre contra a resolução apresentada pela Rússia, alegando que se trata de um documento que legitima as «narrativas de desinformação russa» e «denigrem os países vizinhos sob a aparência cínica de travar a glorificação do nazismo». No contexto da votação realizada há um ano, o embaixador norte-americano afirmou ainda que a resolução é contrária ao «direito de liberdade de expressão», a que também os «nazis confessos» têm direito, tal como estipulado pelo Supremo Tribunal dos EUA. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Os sefarditas são os judeus originários do Médio Oriente – designados «sabra» em Israel – do Norte de África e da Península Ibérica. Seguem-se os iemenitas, muito abaixo na escala; e os etíopes, os falacha, os «judeus pretos». Que são muito úteis, porém, quando integrados em sectores avançados das tropas e polícias de choque, encarregados dos «trabalhos» mais selváticos. Arthur Rupin, um eminente sionista que dirigiu a colonização da Palestina entre 1908 e os anos trinta do século passado, elaborou a estratificação social e étnica entre os judeus que ainda hoje é uma característica da sociedade israelita. Escreveu Rupin: «Como queremos desenvolver o que é judeu na Palestina é desejável que os judeus de raça venham para a Palestina». Nesse espírito, definiu a hierarquia da raça: «Europa Oriental, raça pura; iemenitas (na época também conhecidos por piolhosos) – para empregos subalternos; etíopes – a excluir». Arthur Rupin não é um marginal. A gestão da colonização da Palestina durante quase 30 anos não é tarefa que se entregue a um arrivista. Este teórico racista dá nome a ruas em várias cidades israelitas e a sua efígie foi estampada em selos postais. Além disso, as suas ideias segregacionistas foram cotejadas com as de outros credenciados teóricos insuspeitos quanto à genuinidade das teses. Em plenos anos trinta, Arthur Rupin deslocou-se à cidade alemã de Iena para se encontrar com Hans Gunther, o teórico nazi dos temas raciais, e ambos concluíram que tinham identidade de pontos de vista. Pode argumentar-se que a época era outra, os conceitos sobre «raças» foram evoluindo e dissolvendo-se ao ritmo de princípios e causas que os tornaram anacrónicos, principalmente depois da tragédia da Segunda Guerra Mundial. Os projectos para a consumação da limpeza étnica da Faixa de Gaza já em andamento traduzem a maneira de pensar e de viver o sionismo tal como é praticado em Israel, posicionando-se acima da lei como um dom natural. «Vai ser uma guerra terrível. Então, se quisermos continuar vivos teremos de matar, matar, matar e matar – durante todo o dia, todos os dias» (Prof. Arnon Soffer, demógrafo sionista, conselheiro governamental, ícone das elites académicas de Israel) A primeira opção está em andamento; a segunda não pode ser descartada enquanto a ameaça de um ministro de Netanyahu sobre o lançamento de uma bomba nuclear em Gaza não for convincentemente desmentida e afastada. O comportamento do primeiro-ministro depois das palavras do seu ministro da Herança de Israel, Amichai Eliahu, não foi dissuasor, principalmente sabendo nós que está em campo uma horda de sociopatas que têm pela vida dos não-sionistas um olímpico desprezo. Não se pense, porém, que a hipotética queda do governo de Netanyahu, tão apregoada e aparentemente tão desejada, no exterior, mas longe de consumada – provavelmente amanhã não será a véspera desse dia – iria resolver o problema e pacificar a região ou, pelo menos, tolerar um cessar-fogo em Gaza. O que concluiremos se consultarmos um artigo do experiente Thomas Friedman no New York Times. Citando um «alto funcionário dos Estados Unidos», o subscritor do texto garante «que os líderes militares israelitas são agora, na verdade, mais agressivos do que o primeiro-ministro; estão vermelhos de raiva e determinados a dar um golpe no Hamas que toda a vizinhança nunca esquecerá». Tenhamos em conta, olhando para o que se passa em Gaza, o que os chefes militares sionistas entendem por «golpe no Hamas», que afinal se transformou numa catástrofe para centenas de milhar de civis. Se recuarmos um pouco no tempo, ao primeiro lustre deste século, encontraremos congeminações sobre a «solução final» para Gaza que nos aproximam da realidade em que vivemos. O prof. Arnon Soffer, um ícone da elite académica sionista, fundador da Universidade de Haifa, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, geógrafo, especialista em «ciências ambientais» e demógrafo, actuou como conselheiro do primeiro-ministro Ariel Sharon nos primeiros anos do século. Soffer foi um dos autores e defensores da política adoptada pelo governo sionista a partir de 2007: retirada dos colonos, cerco e bloqueio da Faixa de Gaza. «O Prof. Soffer deixa escancarada a opção da limpeza étnica; mas não exclui o extermínio, no que não difere do actual ministro da Herança de Israel, quanto à "finalidade", podendo eventualmente a metodologia ser diferente, mas ambas convergentes na via da "solução final"» Os seus escritos de 2004, transcritos na imprensa israelita da época, são proféticos em relação aos dias de hoje e contêm implicitamente a necessidade de extermínio ou de limpeza étnica, tal como a que está em curso, para travar «um banho de sangue perpétuo». Escreveu o emérito prof. Arnon Soffer: «Quando 2,5 milhões vivem numa Gaza fechada» – uma ideia do próprio, como já vimos – «será uma catástrofe humana. Essas pessoas tornar-se-ão animais mais do que já são hoje. A pressão na fronteira será terrível. Vai ser uma guerra terrível. Então, se quisermos continuar vivos, teremos de matar, matar, matar e matar – durante todo o dia, todos os dias. A única coisa que me preocupa é como garantir que os meninos e homens que terão de fazer a matança possam voltar a casa, para as suas famílias, e serem seres humanos normais». Assim foi a dissertação de um ilustre membro da academia sionista, conselheiro de primeiros-ministros, um qualificado demógrafo – é impossível pôr em dúvida a qualidade do seu saber na matéria – e, naturalmente, professor da Escola de Defesa Nacional. O Prof. Soffer deixa escancarada a opção da limpeza étnica; mas não exclui o extermínio, no que não difere do actual ministro da Herança de Israel, quanto à «finalidade», podendo eventualmente a metodologia ser diferente, mas ambas convergentes na via da «solução final». Estaremos perante casos isolados, sociopatas incuráveis que atingiram aleatoriamente lugares de topo e decisão no regime sionista, ou serão fruto de uma mentalidade doentia decorrente do elitismo, do pendor racista e supremacista inerentes ao próprio sionismo, sobretudo à medida que vai abandonando as ficções «seculares» para se fixar no carácter fundamentalista religioso e messiânico? Uma mentalidade transtornada dando origem a comportamentos inerentes a um regime confessional e de apartheid, considerando como animais todas as pessoas que estejam no exterior desta casta de eleitos ou, na melhor das hipóteses, seres humanos de segunda? Não se trata de casos isolados. Imediatamente antes do início da invasão de Gaza, os altos comandos militares sionistas escolheram um idoso militar, Ezra Yachin, para proferir uma alocução mobilizadora das tropas prestes a entrar em acção. Yachin, com 95 anos, foi membro do grupo terrorista Lehi que, por exemplo, em 9 de Abril de 1948 executou a tristemente célebre chacina da aldeia palestiniana de Deir Yassin, nos arredores de Jerusalém, da qual restou um monte de escombros. Mais de cem pessoas, sobretudo mulheres e crianças, foram exterminadas. Diz-se que a história não se repete, mas Israel é uma entidade com grandes poderes, inesgotáveis capacidades e insanidade de sobra para desmentir o aforismo: Deir Yassin e umas centenas de outras aldeias e cidades em 1948/49; Sabra e Chatila em Beirute em 1982; Gaza em 2023 são exemplos uma sucessão, uma extensa cronologia criminosa de mais de 75 anos onde o agente comum é o terrorismo de Estado sionista. «Estaremos perante casos isolados, sociopatas incuráveis que atingiram aleatoriamente lugares de topo e decisão no regime sionista, ou serão fruto de uma mentalidade doentia decorrente do elitismo, do pendor racista e supremacista inerentes ao próprio sionismo (...)?» Ezra Yachin não desmereceu do seu passado e da sua fama. Na exortação às tropas incitou: «sejam vencedores, acabem com eles, não deixem ninguém para trás. Apaguem a sua memória, apaguem-nos a eles, às suas famílias, mães e filhos. Esses animais não podem continuar a viver. Todos os judeus deveriam empunhar uma arma e matá-los. Se têm um vizinho árabe não esperem, vão até casa dele e disparem.» Em boa verdade, esta linguagem é uma escola. Netanyahu disse mais ou menos o mesmo, embora escondido na simbologia dos ditos atribuídos ao profeta Samuel. Na lógica da mentalidade de eliminar todo e qualquer não-judeu da Palestina têm surgido planos concretos e estruturados sugerindo as modalidades e as metodologias para realização da limpeza étnica em Gaza. Os princípios básicos neles contidos, porém, são válidos para a Cisjordânia. São planos e programas emanados de entidades e pessoas da área governamental, revelando-nos que pelo menos a primeira fase da operação já está em curso, sob os olhares benevolentes – logo cúmplices – do «mundo ocidental». Benevolência que encontramos, por exemplo, no ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, que, perante o assassínio em Gaza de três cidadãos luso-palestinianos, dois dos quais crianças, se limitou a manifestar o seu «desgosto» às autoridades israelitas. Só lhe faltou pedir desculpa pelo incómodo. «Alternativa para uma Directiva Política destinada à população civil em Gaza» é o título de um plano de limpeza étnica elaborado pelo Ministério da Inteligência de Israel. Propõe três alternativas num processo que permita ao Estado sionista «precaver-se através de uma mudança significativa da realidade civil». Duas delas, a A e a B, são liminarmente descartadas. Previam a «extensão da governança da Autoridade Palestiniana (‘Malévola para Israel’) a Gaza», medida recentemente defendida pelo presidente dos Estados Unidos mas para a qual Netanyahu e o seu governo têm orelhas moucas; ou «fomentar a governança árabe local». Nenhuma delas, segundo os autores, «garante a segurança de Israel», não são dissuasoras para o Hezbollah libanês e, sobretudo, representam uma «perda estratégica para Israel», porque a divisão entre Gaza e a Cisjordânia – razão pela qual o regime sionista apoiou a criação do Hamas – «é um dos principais entraves ao estabelecimento de um Estado Palestiniano». As hipóteses consideradas liminarmente sem viabilidade foram expostas para deixar a sensação de que os autores do documento reflectiram sobre outras perspectivas de «solução» além da limpeza étnica. Em relação à hipótese A, extensão do governo da Autoridade Palestiniana a Gaza, os autores do plano consideram-na «a mais arriscada» porque «seria uma vitória sem precedentes do movimento nacional palestiniano». A alternativa C propõe «a evacuação da população civil de Gaza para o Sinai». É a que «produz resultados estratégicos positivos e de longo prazo», exigindo, no entanto, «determinação diante da pressão internacional, com ênfase na importância de reunir apoio dos Estados Unidos e outros países pró-Israel». «Na lógica da mentalidade de eliminar todo e qualquer não-judeu da Palestina têm surgido planos concretos e estruturados sugerindo as modalidades e as metodologias para realização da limpeza étnica em Gaza. Os princípios básicos neles contidos, porém, são válidos para a Cisjordânia.» Sugere o Ministério da Inteligência que sejam erguidas «cidades de tendas» numa «área de reassentamento no Norte do Sinai». Também nessa fase deverá ser criado «um corredor humanitário» para «ajudar a população civil de Gaza» a chegar o destino traçado pelo terrorismo de Estado israelita. O processo prevê uma «zona de terra de ninguém» de vários quilómetros no interior do território do Egipto, de modo a que «a actividade e a residência perto da fronteira israelita (Gaza sob ocupação sionista) não sejam permitidas». No interior do «nosso território» (Gaza) «deverá ser estabelecido um perímetro de segurança». A primeira fase do «desenvolvimento operacional» da «opção C» do documento estabelece o «apelo à retirada da população» da zona de combate» entre Israel e o Hamas, reforçado com «operações aéreas focadas no Norte de Gaza de modo a permitir a manobra terrestre na zona evacuada sem obrigar a combates em zonas civis densamente povoadas». A semelhança desta recomendação com a realidade de hoje não é, portanto, uma coincidência. Na fase seguinte acontecerá a «ocupação total» do território, ao mesmo tempo que os bunkers e túneis «são limpos de combatentes do Hamas». «É importante», acrescenta-se no documento, que «sejam desobstruídas as rotas de transporte para sul, de modo a permitir a evacuação». Analisando este programa, deduz-se então que o primeiro passo da limpeza étnica já está em prática. A pressão terrorista e propagandística do sistema político-militar sionista tem como objectivo assumido a transferência das populações do Norte de Gaza para o Sul, onde ficam muito mais perto da passagem para o Egipto, no posto de Rafah. O que o documento não assume, no seu criminoso e asséptico cinismo, é que as pessoas em êxodo para o Sul continuam a ser bombardeadas como se estivessem ainda no Norte. Sob estas práticas assassinas, muitos milhares de pessoas nem sequer chegarão ao Sinai. Cerca de 46% das vítimas mortais registam-se entre deslocados em movimento para o Sul, ou mesmo já nesta região. Segundo os serviços da ONU, o número total de desalojados e deslocados ultrapassa já o milhão e meio de pessoas, entre 2,3 milhões de habitantes, cerca de 65% da população do território, isto é, aproximadamente dois terços. Reconhecem os autores do plano que esta operação de limpeza étnica «pode ser complexa em termos de legitimidade internacional», o que, ensina-nos a história, não constitui qualquer problema para o Estado sionista, desde a sua fundação. Existe mesmo uma «unidade encarregada de estudar como contornar o direito internacional». O chefe da entidade, David Reisner, explica que «estamos a ser testemunhas de uma revisão do direito internacional: se fizermos uma coisa durante o tempo suficiente, o mundo aceitá-la-á». E cita como exemplo o ataque terrorista cometido pela aviação israelita em 1981 contra o reactor nuclear de Osirak, no Iraque: «Então a atmosfera era a de que Israel tinha cometido um crime; hoje diz-se que foi um acto legítimo de defesa preventiva. O direito internacional progride através de violações», conclui. Embora não fosse essa a intenção, Reisner fez uma das melhores definições da «ordem internacional baseada em regras» pela qual se rege o chamado «mundo ocidental» e «civilizado». «Reconhecem os autores do plano que esta operação de limpeza étnica «pode ser complexa em termos de legitimidade internacional», o que, ensina-nos a história, não constitui qualquer problema para o Estado sionista, desde a sua fundação.» O Ministério da Inteligência propõe então que a transferência da população de Gaza seja apresentada como uma «migração em massa», tal como as que decorreram e continuam, por exemplo, nas guerras da Síria e do Afeganistão. Nessa perspectiva, «são um resultado natural e necessário, dados os riscos associados à permanência numa zona de guerra». São, igualmente, «um método aceite para salvar vidas». Estas migrações relacionadas com outros conflitos, porém, não eliminaram o direito dos refugiados ao regresso, quando existirem condições para isso; o que não acontece aos palestinianos: Israel proíbe-os de voltarem às suas terras de origem, violando o direito internacional, o que, como acabámos de ver, não é problema. Os autores do plano olham ainda para mais longe. Se os países citados no «Anexo A» do documento aceitarem os «refugiados» palestinianos de Gaza, a operação pode «ganhar maior legitimidade» porque passará a haver «uma população integrada em quadros estatais e com nova cidadania». A principal «vantagem», desde sempre pretendida por Israel, não a encontramos exposta no documento: a da esperança de que a nova cidadania de cada «deslocado» elimine a sua condição de «palestiniano». Assim, deixa de haver palestinianos na Palestina e também nos países do mundo onde forem recebidos e integrados. Fim da história para o problema israelo-palestiniano. O plano parece ter imensas «vantagens estratégicas»: uma «dissuasão significativa em toda a região», uma «forte mensagem ao Hezbollah», o «apoio dos países do Golfo» uma vez liquidado o Hamas, «um golpe significativo e inequívoco na Irmandade Muçulmana» e mais um piscar de olhos ao Cairo: fortalecerá «o domínio egípcio no Norte do Sinai» – o que parece um contra-senso, quando o que está em causa é o acolhimento de toda uma população estrangeira chegada de um outro território. Eis o «novo Médio Oriente» de que fala Benjamin Netanyahu ao transformar Gaza «numa ilha deserta». A chamada «comunidade internacional» parece disposta a continuar a assistir à Nakba até à extinção do último palestiniano, triunfo supremo do terrorismo militar, político, diplomático e mediático. O que está em curso há mais de setenta anos contra o povo palestiniano é um genocídio. Bárbaro. Impune. Ignorado. Branqueado por uma «comunidade internacional» que repudia o próprio direito pelo qual deveria guiar-se; e por uma comunicação social absorvente e totalitária que tomou conscientemente o partido dos genocidas, pelo que chega ao comportamento perverso de acusar as vítimas de práticas terroristas. Os acontecimentos sucedem-se e atropelam-se em contínuo, muitos denunciados pelas próprias vítimas ou por aqueles que, desafiando as altas probabilidades de virem a ser acusados de antissemitismo ou de serem autores de execráveis delitos de opinião, não calam os crimes tornados banais e, sempre que possível, silenciados ou mistificados pelo sistema de censura mainstream. Há um sentido único na barbárie desde que, há 71 anos, foi proclamado o Estado de Israel como fruto de imigração em massa de populações oriundas de vários países, sobretudo da Europa e da América do Norte, muitas fugidas de um outro genocídio, o Holocausto, a generalidade invocando preceitos e direitos de índole antropológica, histórica e religiosa que não cabem na teia de normas e leis pelas quais seria suposto regerem-se os Estados, as nações e os povos. 8 milhões de palestinianos recenseados, dos quais apenas 3 milhões vivem na Palestina Um genocídio – o Holocausto – acabou por servir de pretexto a outro – a Nakba, a «catástrofe», em árabe – por via dos que, invocando as vítimas do primeiro, se transformaram em algozes do segundo. Uma mistificação gigantesca de consequências arrasadores para os direitos humanos, com a particularidade perversa de se consumar em nome dos direitos humanos, da democracia, da liberdade e da civilização. A relação de causa e efeito entre o Holocausto e a Nakba não era automática, mas o primeiro ministro de Israel em funções, Benjamin Netanyahu, acabou por estabelecê-la, tornando-a oficial para os escritores da História na perspectiva dos vencedores. Foi ele quem afirmou que Hitler originalmente não defendia a «solução final» para os judeus, mas foi convencido a consumá-la pelo Grande Mufti de Jerusalém, a autoridade religiosa da comunidade muçulmana da Palestina. Moral da história: os palestinianos muçulmanos incentivaram a matança dos judeus pelo que é justo serem castigados. «O crime vai-se consumando. Dos cerca de oito milhões de palestinianos recenseados são menos de três milhões os que vivem na Palestina: dois milhões no imenso campo de concentração a céu aberto em Gaza; cerca de 800 mil em guetos e sob ocupação na Cisjordânia, incluindo os que vivem na zona de "autonomia" formal» O genocídio do povo palestiniano é praticado ao compasso de mistificações em cadeia aliando a política, a diplomacia, as próprias história e geografia, num discurso de propaganda como que hipnotizando a chamada «comunidade internacional». A qual, com uma espécie de consciência de culpa do Holocausto, permite que esta tragédia seja manipulada com múltiplos objectivos coloniais, mesmo os mais perversos e desumanos. A operação de genocídio é sistemática e decorre de maneira impune. Desde a mistificação básica do sionismo, «um povo sem terra para uma terra sem povo» – a Palestina, uma entidade com uma história longa e rica de quatro mil anos – que a limpeza étnica dos palestinianos é executada em contínuo por duas vias: em vagas, criando ou aproveitando oportunidades históricas; e passo-a-passo, dia-a-dia, através de uma teia elaborada de pretextos e medidas arbitrárias travestidas de leis que o sionismo internacional e o seu ramo que gere o Estado de Israel puseram em funcionamento à margem e contra o direito internacional. A primeira vaga aconteceu há 71 anos, quando as organizações terroristas das comunidades imigrantes derrotaram os exércitos árabes na Palestina e proclamaram o Estado de Israel. Mais de 700 mil palestinianos foram chacinados e expulsos de Israel, enquanto as suas comunidades funcionando em aldeias, vilas e cidades foram arrasadas, apagadas do mapa. Este massacre é assinalado como o início da Nakba. Com essa ofensiva terrorista, os dirigentes sionistas impuseram a primeira grande derrota às Nações Unidas na questão da Palestina, sabotando desde logo o «plano de partilha» de 1947, que previa a divisão do território em duas áreas étnicas – de maioria hebraica e de maioria árabe – ocupando Israel uma superfície da Palestina bastante superior à prevista no documento da ONU. Na guerra de 1967, ou dos «Seis Dias», Israel expulsou as administrações egípcia e jordana de Gaza, da Margem Ocidental do Jordão e de Jerusalém Leste, ocupando esses territórios; a própria guerra e as pressões terroristas provocaram um novo êxodo de populações palestinianas para os países vizinhos. «Os instrumentos de genocídio estão afiados e operacionais como nunca: anexação, colonização, guerra, terrorismo, segregação e isolamento, fome e sede, supressão de direitos, prisões e campo de concentração – 50 mil crianças presas por Israel desde 1967 – assassínios organizados e aleatórios, devastações de campos de refugiados» Israel deu então verdadeiramente início a um novo processo de anexação de territórios e de limpeza étnica sistemática, o da construção de colónias nos territórios ocupados. Com ela incentivou novas vagas de imigração hebraica, nas quais as correntes ortodoxas e fundamentalistas religiosas foram dominantes. As consequências da estratégia são cada vez mais visíveis nos dias de hoje pela maneira como essas correntes dominam a gestão sionista em Israel – não hesitando, sequer, em assumir constitucionalmente um regime de apartheid étnico e religioso. A colonização, conjugada com o carácter militar e terrorista da ocupação e com os meios de segregação físicos – o muro de Jerusalém e da Cisjordânia e a cerca de Gaza – está na origem de uma balcanização dos territórios ocupados e do êxodo constante de palestinianos. Expulsões, prisões, destruição de casas de habitação, check-points militares e outros entraves à circulação, devastação de colheitas e propriedades agrícolas, confisco arbitrário de recursos hídricos são formas comuns de terrorismo quotidiano que tornam praticamente inviável uma vida digna e com um mínimo de qualidade. A transformação do Processo de Paz iniciado com as negociações de Oslo de 1993 num «processo de paz» eterno e de imposição da rendição da principal força nacionalista da resistência palestiniana, a Fatah, tornou ainda mais débil e menos organizada a oposição dos palestinianos à limpeza étnica. A partilha das funções administrativas da chamada «autonomia» palestiniana entre a Fatah e o Hamas, grupo que tem na sua génese histórica o veneno do patrocínio israelita para dividir os movimentos de resistência cívica (Intifadas), foi um golpe profundo assestado pelo sionismo em comunhão com o establishment norte-americano e beneficiando da cumplicidade da chamada «comunidade internacional» – neste caso actuando como um todo através de uma entidade farsante, o «Quarteto para a Paz no Médio Oriente», nova e flagrante derrota das Nações Unidas. A limpeza étnica da Palestina não se resume à substituição da população autóctone por contingentes imigrados. Tem uma componente menos abordada e que reforça a oposição ao retorno dos refugiados, um direito estabelecido nas normas da ONU: devastar comunidades de palestinianos nos países vizinhos. Não se trata de eliminá-las pura e simplesmente, mas de manter sobre elas a pressão terrorista e de instilar a convicção de que o regresso será impossível, por isso mais vale desistir e deixarem-se assimilar pelos países de acolhimento – tornando eternos os campos de refugiados. As invasões israelitas do Líbano desde o início dos anos oitenta do século passado visaram permanentemente as zonas habitadas por palestinianos – e dessa sanha ficou como símbolo o massacre de civis, sobretudo idosos e crianças, nos campos de refugiados de Sabra e Chatila, nos subúrbios de Beirute, em Setembro de 1982. O jornalista suiço Pierre-Pascal Rossi (1943-2016) teve a coragem de se comover em frente às câmaras, antes de conduzir os espectadores, durante dois longos e dolorosos minutos, pelo inferno dos massacres realizados em Sabra e Chatila pelas milícias fascistas (falangistas) aliadas de Israel, com a cumplicidade do exército israelita. «Expulsões, prisões, destruição de casas de habitação, check-points militares e outros entraves à circulação, devastação de colheitas e propriedades agrícolas, confisco arbitrário de recursos hídricos são formas comuns de terrorismo quotidiano que tornam praticamente inviável uma vida digna e com um mínimo de qualidade» O novo modelo colonial instaurado pelos Estados Unidos no Médio Oriente, através das guerras iniciadas por George W. Bush, contém perseguições organizadas e chacinas em zonas de refugiados palestinianos tanto no Iraque como na Síria. Tratam-se de acções cometidas por interpostas entidades, grupos terroristas como o Estado Islâmico e a al-Qaida, apesar de serem «sunitas» como a maioria originária da Palestina. Já deixou de ser novidade a cooperação existente entre Israel e grupos terroristas islâmicos, sobretudo na guerra da Síria, pelo que é óbvia a definição do palestiniano como um inimigo comum. Ao reforço das correntes fundamentalistas religiosas e segregacionistas na gestão do sionismo correspondem passos ainda mais largos para a consumação do genocídio, da limpeza étnica da Palestina. Assim que Benjamin Netanyahu concluir a formação de um novo/velho governo está no horizonte o início da anexação progressiva da Cisjordânia, através da integração dos colonatos na estrutura administrativa de Israel. O reconhecimento pela administração Trump da anexação de Jerusalém Leste por Israel foi um balão de ensaio bem sucedido, uma tomada de pulso à «comunidade internacional» que, como é norma, permitiu que se atropelasse mais uma vez o direito internacional. Nem o eng. António Guterres acreditará na sua frase feita para a ocasião, segundo a qual «nada muda» no estatuto oficial de Jerusalém; como no dos Montes Golã; como dos colonatos a anexar. A velha política dos factos consumados a funcionar, como tem acontecido ao longo da limpeza étnica da Palestina. O crime vai-se consumando. Dos cerca de oito milhões de palestinianos recenseados são menos de três milhões os que vivem na Palestina: dois milhões no imenso campo de concentração a céu aberto em Gaza; cerca de 800 mil em guetos e sob ocupação na Cisjordânia, incluindo os que vivem na zona de «autonomia» formal. Os instrumentos de genocídio estão afiados e operacionais como nunca: anexação, colonização, guerra, terrorismo, segregação e isolamento, fome e sede, supressão de direitos, prisões e campo de concentração – 50 mil crianças presas por Israel desde 1967 – assassínios organizados e aleatórios, devastações de campos de refugiados. A chamada «comunidade internacional» parece disposta a continuar a assistir à Nakba até à extinção do último palestiniano, triunfo supremo do terrorismo militar, político, diplomático e mediático. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. O «Anexo A» do plano de limpeza étnica de Gaza idealizado pelo Ministério israelita de Inteligência designa os países com os quais o regime sionista «deve trabalhar», porque estarão «dispostos a ajudar a população deslocada e capazes de a aceitar como migrantes». Estados Unidos, Canadá, Espanha, Grécia (como se não lhe bastassem os refugiados da Síria nas suas ilhas), Arábia Saudita, Marrocos, Tunísia, Líbia (pessoas expulsas de Gaza seriam condenadas a hospedar-se num território que a NATO deixou em escombros) são os países citados no documento. Caso a Arábia Saudita levante dificuldades para «desenvolver esforços» no sentido de proporcionar a «transferência de migrantes para vários países», ou se recuse a «financiar a campanha que exponha os danos causados pelo Hamas», os Estados Unidos poderão agir através de pressões, designadamente «jogando com o guarda-chuva de defesa dos grupos de combate estacionados na área para ameaçar o Irão». Essa «pressão» norte-americana deverá também ser requerida, segundo os autores, contra os países europeus «para que assumam as suas responsabilidades na abertura da fronteira de Rafah», permitindo «a fuga para o Egipto»; e também para que «prestem assistência financeira à actual crise económica egípcia». O plano sugere que as campanhas de propaganda sobre os benefícios da «transferência» sejam entregues a agências de publicidade transnacionais, a exemplo do que tem feito o regime nazi de Kiev, para que «promovam a operação no mundo ocidental» e «o esforço para resolver a crise sem insultar nem vilipendiar Israel». A parte da campanha virada para «o mundo não pró-Israel» deve focar a necessidade de «ajudar os irmãos palestinianos e a sua recuperação», mesmo ao preço de «condenações e até ofensas contra Israel», de modo a que os objectivos da operação «consigam chegar a populações incapazes de aceitar uma mensagem diferente». «O plano sugere que as campanhas de propaganda sobre os benefícios da "transferência" sejam entregues a agências de publicidade transnacionais, a exemplo do que tem feito o regime nazi de Kiev, para que "promovam a operação no mundo ocidental"» Quanto à população de Gaza, a campanha para «a incentivar a aceitar o plano» deve sublinhar que «não há esperança de retorno ao Estado de Israel, que em breve ocupará o território (seja verdade ou não)». A mensagem que os autores sugerem é a de que «Alá decidiu que vocês perderam esta terra por causa da liderança do Hamas e a única opção é mudarem-se para outro lugar com a ajuda dos vossos irmãos muçulmanos». Por muito cínico, racista e sociopata que todo este articulado pareça, ele não é um delírio. É obra da nata de operacionais do ministério que tutela as políticas de espionagem do sionismo. Os autores levam-no a sério. E a chamada comunidade internacional deveria preparar-se para lidar com esse projecto de crime de guerra apresentado como programa para «salvar vidas», resolver um problema regional, solucionar crises económicas de países e comunidades e proporcionar novas e melhores condições de vida a pessoas que vivem que vivem sob «opressão terrorista». Outro dos projectos para consumar a limpeza étnica de Gaza que saiu dos bastidores governamentais sionistas, provavelmente muito mais um balão de ensaio para preparar a opinião pública do que uma fuga de informação, é o «Livro Branco» do Instituto de Segurança Nacional e Estratégia Sionista. O seu autor é Amir Weitman, chefe da bancada parlamentar «libertária» do Likud, o partido de Netanyahu, e professor da Escola de Defesa Nacional. Designou o trabalho como «plano para a recolocação e reabilitação definitiva no Egipto de toda a população de Gaza». Trata-se, segundo Weitman, de «um plano sustentável que se alinha com os interesses económicos e geopolíticos de Israel, Egipto, Estados Unidos e Arábia Saudita». Não é uma guerra, é um massacre de uma das partes; e o único cessar-fogo possível para a situação é o reconhecimento dos direitos do povo palestiniano estabelecidos nas leis internacionais. Enquanto o regime israelita continua a chacinar paulatinamente a população indefesa do campo de concentração em que transformou Gaza multiplicam-se os apelos ao «cessar-fogo» nesta suposta «guerra entre o Hamas e Israel», como afirma a comunicação social corporativa. É o habitual jogo de enganos que visa partilhar equitativamente responsabilidades numa situação de incomensurável desequilíbrio de forças e que pretende colocar no mesmo plano os criminosos e as vítimas. O que está a acontecer não é uma guerra, é um massacre de uma das partes; e o único cessar-fogo possível para a situação é o reconhecimento dos direitos do povo palestiniano estabelecidos nas leis internacionais. Tudo o resto significa o arrastamento da situação e o extermínio de um povo. «A colonização conduz, ninguém o duvide, à criação de uma situação no terreno que inviabiliza totalmente a criação do Estado Palestiniano, porque deixa de haver território para isso; entretanto, os bem-intencionados deste mundo, como os chefes da União Europeia, forçados a dizer qualquer coisa quando as imagens de extermínio não podem ser escondidas, continuam a falar em “solução de dois Estados para a Palestina”» O chefe do governo de Portugal, a exemplo de outros colegas europeus, diz que é necessária a paragem dos ataques de Israel. Belas palavras. E depois? «Para que possamos regressar a um ponto onde o caminho para a paz seja possível», assegura Costa. Palavras muito bem-intencionadas também, reproduzidas de um texto da agência Lusa onde se lê que «existe uma escalada de violência entre israelitas e palestinianos». Qual «caminho para a paz»? O conduzido pelo «Quarteto» chefiado pelo aldrabão profissional Anthony Blair e de que fazem parte a Rússia – manietada pelo veto norte-americano no Conselho de Segurança e por muitas e evidentes cumplicidades com Israel – a complacente União Europeia, o seu aliado norte-americano, cúmplice objectivo do crime no mínimo através do Conselho de Segurança, e também a ONU, entidade que, a reboque de Washington, cultiva a guerra para que dela floresça a paz? Ora este «caminho para a paz», quase sempre «arbitrado» pelos Estados Unidos, aliado da parte agressora, está barrado há muito por acção de Israel, que acusa o lado palestiniano de não ceder às suas exigências de rendição total. Enquanto continua a falar-se de «processo de paz» para que nada de pacífico aconteça, Israel tem recorrido a todos os métodos para inviabilizar uma solução compatível com o direito internacional, isto é, através da criação de um Estado Palestiniano viável, soberano e pleno. O mecanismo mais utilizado e mais eficaz – porque pode ser aplicado sem operações militares que dêem muito nas vistas, sob o silêncio da comunicação social dominante – é o da colonização dos territórios palestinianos ocupados através de uma gradual limpeza étnica com expulsão das populações, destruição de casas, roubo de terrenos, edificação de muros e até prosaicos actos de banditismo como a destruição de colheitas agrícolas. Enfim, a institucionalização de um sistema de apartheid. «Quando um dirigente político, seja ele qual for, fala em necessidade de “cessar-fogo” para regresso ao “caminho da paz” e não formula mecanismos e medidas que permitam à chamada comunidade internacional impor efectivamente a solução de dois Estados, está a ser cúmplice do comportamento criminoso do Estado de Israel. E a participar, no mínimo por omissão, num processo genocida» A colonização conduz, ninguém o duvide, à criação de uma situação no terreno que inviabiliza totalmente a criação do Estado Palestiniano, porque deixa de haver território para isso; entretanto, os bem-intencionados deste mundo, como os chefes da União Europeia, forçados a dizer qualquer coisa quando as imagens de extermínio não podem ser escondidas, continuam a falar em «solução de dois Estados para a Palestina» sabendo perfeitamente – como não pode deixar de ser – que está a ser percorrido não «um caminho para a paz» mas uma via para liquidar o objectivo inscrito no próprio «processo de paz». A guerra que existe é verdadeiramente esta: a do regime sionista contra o povo palestiniano pela liquidação total dos seus direitos, se necessário através do extermínio físico. Quando um dirigente político, seja ele qual for, fala em necessidade de «cessar-fogo» para regresso ao «caminho da paz» e não formula mecanismos e medidas que permitam à chamada comunidade internacional impor efectivamente a solução de dois Estados, está a ser cúmplice do comportamento criminoso do Estado de Israel. E a participar, no mínimo por omissão, num processo genocida. Num caso destes até o silêncio seria mais honesto. Acompanhando os ecos da comunicação corporativa sobre «a guerra entre o Hamas e Israel» ou a «escalada de violência entre israelitas e palestinianos» percebe-se que o conceito de «cessar-fogo» implícito é o da paragem dos bombardeamentos contra Gaza e também do lançamento de foguetes a partir da faixa cercada. Foguetes esses que são, na verdade, os únicos instrumentos através dos quais – perante a imobilidade internacional – sectores palestinianos fazem sentir a Israel que, apesar de tudo, não está completamente impune. Fisgas contra tanques ou foguetes contra tecnologia de guerra de última geração: estamos perante afirmações possíveis de existência e de resistência; nada que se pareça com um confronto entre dois exércitos. Sendo certo que cada vida perdida é uma vítima inútil de uma situação que as forças dominantes teimam em não resolver, a não ser através da aniquilação da outra parte, o cenário mediaticamente instituído de um falso equilíbrio permite-nos perceber até que ponto a comunicação social corporativa se deixou contaminar pelo conceito xenófobo cultivado pelo sionismo quanto à diferença de valor entre as vidas de cidadãos israelitas e árabes. «Se, por exemplo, os dirigentes da União Europeia – ainda que incomodando a administração Biden – experimentassem suspender as relações económicas e militares com Israel até que este país abrisse comprovadamente as portas à solução de dois Estados, talvez o cenário se alterasse. Afinal, suspender relações económicas e impor sanções a países terceiros já não constitui qualquer novidade para a União Europeia, predisposta assim a sofrer as respectivas consequências» A guerra de Israel contra os palestinianos iniciou-se muito antes desta nova fase da barbárie contra Gaza, há mais de setenta anos, e irá prosseguir se o «cessar-fogo» determinar apenas que se calem agora as armas e não for além disso, impondo a Israel medidas completas para que se cumpra de uma forma viável e com um conteúdo plenamente soberano a solução de dois Estados na Palestina. Caso contrário, o fim da actual ofensiva contra Gaza significará a continuação da colonização, do cerco contra a pequena e sobrelotada faixa, da limpeza étnica, das expulsões em Sheik Jarrah e, uma após outra, em todas as comunidades palestinianas de Jerusalém ou da Cisjordânia. Até ao próximo ataque contra Gaza se os palestinianos ousarem exercer activamente o seu direito à existência e à resistência. Um exemplo de como Israel é completamente imune às palavras inconsequentes dos seus amigos e aliados sempre que as imagens da chacina tornam impossível o silêncio é a demolição premeditada do edifício da agência Associated Press (AP) em Gaza. A Israel não será difícil responder a Biden, forçado a perguntar sobre os motivos de tal atitude: o edifício daria acesso aos «túneis do Hamas» ou serviria até de «escudo humano» para o grupo fundamentalista islâmico palestiniano. Uma organização que ganhou vida – é oportuno recordá-lo – com apoio sionista quando se tornou importante dividir o movimento do primeiro Intifada, em finais dos anos oitenta, iniciado precisamente em Gaza. As forças armadas sionistas que participam em exercícios atlantistas são as mesmas que fazem jorrar o sangue de civis indefesos na Palestina, impedidos de escapar às suas bombas. Israel está a cometer mais um acto de apogeu da chacina a que tem vindo a submeter impunemente a população da Faixa de Gaza – e da Palestina em geral – durante as últimas décadas. Os alvos não são «os túneis do Hamas», como informa o regime sionista, mas dois milhões de pessoas que vivem enclausuradas num imenso campo de concentração do qual não podem escapar. Não se trata de um «confronto»: é uma barbárie. Algumas notas sobre o que está a passar-se. A Faixa de Gaza e a respectiva população são um alvo que Israel tem sempre à mão quando necessita de recorrer a manobras de diversão por causa da degradação política interna, como acontece no momento actual, em que se misturam a prolongada indefinição governativa, a corrupção a alto nível do regime e a polémica gestão da pandemia – por sinal, insolitamente elogiada no plano internacional. «A Faixa de Gaza e a respectiva população são um alvo que Israel tem sempre à mão quando necessita de recorrer a manobras de diversão por causa da degradação política interna, como acontece no momento actual» Os dirigentes sionistas não duvidam, nem por um instante, de que podem utilizar o instrumento da guerra contra Gaza porque sabem que a chamada comunidade internacional o permite. As instâncias internacionais, com a ONU à cabeça, e as grandes potências, com destaque para os Estados Unidos e a União Europeia, permitem tudo a Israel sem assumir uma única medida para conter a barbárie. Há mais de 70 anos que a comunidade internacional se vem dotando de instrumentos legais para fazer respeitar os direitos inalienáveis do povo palestiniano e há mais de 70 anos que eles são interpretados como letra morta. Este comportamento é um incentivo à discricionariedade de Israel; e Israel aproveita-o consoante as suas conveniências sabendo que nada de mal lhe acontecerá e nenhuma reacção irá além do apelo à «moderação» e a um «cessar-cessar entre as partes». Isto é, entre uma «parte» que pode tudo e uma «parte» que sofre tudo. Os foguetes do Hamas são irrelevantes quando comparados com o aparelho de guerra usado pelo regime sionista. A actuação da comunidade internacional na questão israelo-palestiniana é o exemplo mais flagrante da sua permanente utilização do sistema de pesos e medidas variáveis. Isolada pela comunidade internacional em geral, a Palestina conta cada vez menos com a solidariedade do chamado mundo árabe. Sob a égide da administração Trump nos Estados Unidos, países árabes como os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein juntaram-se recentemente ao Egipto na normalização das relações com Israel, o que significa abandonar a defesa dos direitos dos palestinianos. Acresce que existem, de facto, relações diplomáticas entre o Estado sionista e a Arábia Saudita, encimadas pela amizade e afinidades entre o primeiro-ministro Netanyahu e o herdeiro do trono wahabita, Mohammed Bin Salman. Uma aliança sobre os escombros da Palestina. «Há mais de 70 anos que a comunidade internacional se vem dotando de instrumentos legais para fazer respeitar os direitos inalienáveis do povo palestiniano e há mais de 70 anos que eles são interpretados como letra morta. Este comportamento é um incentivo à discricionariedade de Israel» Na prática, a solidariedade árabe nunca desempenhou um papel que permitisse a criação de um Estado palestiniano, como determinam as normas e a doutrina estabelecidas pela comunidade internacional. O reconhecimento de Israel por cada vez mais países árabes, porém, reforça a ideia de que o problema palestiniano poderá ter outras «soluções» que não sejam a criação de um Estado palestiniano independente, viável e plenamente soberano. Por outro lado, as relações entre países árabes e Israel transformam cada vez mais o Estado sionista numa entidade plenamente integrada no Médio Oriente, dando assim forma ao arranjo pretendido pelos Estados Unidos de uma região com duas potências dominantes – Israel e Arábia Saudita –, ambas viradas contra o Irão. O novo pico de guerra de Israel contra Gaza não pode desligar-se dos permanentes esforços de Israel para tentar provocar uma guerra directa contra o Irão – à qual as administrações norte-americanas ainda têm resistido. A ofensiva supostamente «contra o Hamas» – grupo que Israel liga a Teerão apesar de ser sunita e não xiita – acontece no preciso momento em que a administração Biden ainda não definiu se regressa ou não ao acordo nuclear 5+1 com o Irão. A mensagem israelita é directa: apoiando grupos activos no Médio Oriente, como o Hezbollah no Líbano e na Síria e o Hamas na Palestina, o Irão terá de ser desencorajado de o fazer. E os acordos com Teerão têm de ser invalidados. Por muito que possam vir a proclamar verbalmente o contrário, os Estados Unidos e a União Europeia estão por detrás de mais esta chacina israelita em Gaza. Se em relação a Washington não existe qualquer dúvida, tanto mais que o aparelho do Partido Democrata no poder é o que está mais sintonizado com os interesses dominantes do sionismo, poderão levantar-se reticências em relação ao papel da União Europeia. «a prática de Bruxelas e dos 27 é objectivamente favorável às atitudes assumidas por Israel, sejam elas quais forem: nada fazem para que seja concretizada a solução de dois Estados na Palestina, mantêm relações económicas e políticas preferenciais com Israel e não assumem nas instâncias internacionais qualquer posição contra as atitudes militares extremas do sionismo» O que não tem qualquer razão de ser. Apesar de algumas declarações de distanciamento, como foi o caso por ocasião da transferência da embaixada norte-americana para Jerusalém, a prática de Bruxelas e dos 27 é objectivamente favorável às atitudes assumidas por Israel, sejam elas quais forem: nada fazem para que seja concretizada a solução de dois Estados na Palestina, mantêm relações económicas e políticas preferenciais com Israel e não assumem nas instâncias internacionais qualquer posição contra as atitudes militares extremas do sionismo. Antes pelo contrário: Israel é um parceiro activo da NATO – que rege a União Europeia do ponto de vista militar – e está mesmo envolvido nos exercícios em curso na Grécia e no Mar Egeu no quadro dos jogos de guerra «Defender Europe». Isto é, as forças armadas sionistas que participam em exercícios atlantistas são as mesmas que fazem jorrar o sangue de civis indefesos na Palestina, impedidos de escapar às suas bombas. Uma aliança que dizima vidas e direitos humanos. A mensagem de Israel com esta nova operação de barbárie é directa: nada fará parar o sionismo no seu objectivo de limpar e submeter etnicamente a Palestina e de impedir qualquer tentativa, por débil que seja, de implementar a solução de dois Estados. O instrumento para concretizar esse objectivo é a colonização ininterrupta dos territórios da Cisjordânia – a par do cerco férreo a Gaza – de maneira a estender a ocupação, inviabilizar as possibilidades territoriais de instaurar um Estado e quebrar a resistência nacional palestiniana. «a operação militar sionista assumiu as já conhecidas proporções de punição colectiva. Contando, para isso, com a habitual impunidade que lhe é assegurada pelas instâncias internacionais. De facto, Israel usa o terrorismo para impor a lei do mais forte sabendo que encontrará pouca oposição e condenação nenhuma» Nas últimas semanas o regime sionista expulsou mais famílias e arrasou as suas habitações no bairro de Sheik Jarrah, em Jerusalém Leste, no quadro da «limpeza» de todos os palestinianos da cidade. Acontece que a ofensiva encontrou forte resistência da população atingida, sinal de que, apesar de isolados internacionalmente, os palestinianos não estão dispostos a abdicar dos seus direitos. Uma vez que Gaza respondeu à agressão e da Faixa de Gaza foram disparados foguetes contra território israelita, a operação militar sionista assumiu as já conhecidas proporções de punição colectiva. Contando, para isso, com a habitual impunidade que lhe é assegurada pelas instâncias internacionais. De facto, Israel usa o terrorismo para impor a lei do mais forte sabendo que encontrará pouca oposição e condenação nenhuma. A nova fase da chacina contra Gaza e da limpeza étnica da Cisjordânia é, afinal, mais um passo no sentido de um desfecho que inviabilize de vez a solução de dois Estados na Palestina. Ao mesmo tempo que este princípio vai sendo invocado como um mantra cada vez mais vazio de significado pelos que insistem em dizer-se defensores das leis internacionais e dos direitos humanos. Enquanto isto, continuam a morrer inocentes indefesos e a Nakba, o holocausto palestiniano, prossegue, dia após dia, sob os olhos e a passividade do mundo. Até ao último dos palestinianos. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Israel poderá ainda dizer que não fez nada que a NATO não tenha executado por exemplo em Belgrado, em 1999, quando bombardeou e destruiu o edifício da televisão jugoslava. É certo que a AP tem prestado permanentes e bons serviços ao regime sionista, tal como as outras principais agências internacionais de informação. E não será este aparentemente inusitado bombardeamento que irá interromper a sua fidelidade para com Israel. O governo israelita está seguro disso – é a ordem natural das coisas. Para interrompê-la de maneira favorável ao reconhecimento dos direitos dos palestinianos seria necessário muito mais do que as rotineiras palavras de inquietação e um «cessar-fogo» transitório. Nem tanto. Se, por exemplo, os dirigentes da União Europeia – ainda que incomodando a administração Biden – experimentassem suspender as relações económicas e militares com Israel até que este país abrisse comprovadamente as portas à solução de dois Estados, talvez o cenário se alterasse. Afinal, suspender relações económicas e impor sanções a países terceiros já não constitui qualquer novidade para a União Europeia, predisposta assim a sofrer as respectivas consequências. De um ponto de vista objectivo, não haverá país tão merecedor de tais medidas como Israel, pelo menos tendo em conta palavras proferidas de quando em vez por alguns dirigentes europeus. Fazer sentir aos chefes sionistas que a barbárie tem um preço a pagar seria a maneira de lhes proporcionar um inesperado encontro com uma nova realidade e as consequências dos seus comportamentos cruéis. E seria, sobretudo, um caminho para o fim de uma tragédia humana, não apenas em Gaza mas também na Cisjordânia e até em Israel, onde os dirigentes se debatem com uma interminável crise governativa e mesmo – eles o dizem – com os riscos de «uma guerra civil». José Goulão, exclusivo O Lado Oculto/AbrilAbril Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Tal como o projecto do Ministério da Inteligência, este documento é igualmente um concentrado de «vantagens» distribuídas em muitas direcções. Parte do princípio de que no Egipto «há dez milhões de unidades habitacionais desocupadas… que poderiam ser imediatamente preenchidas com palestinianos». Para que isso possa acontecer, Israel deveria comprar essas propriedades por um preço total entre cinco mil e oito mil milhões de dólares norte-americanos, quantia equivalente a uma percentagem do PIB israelita entre 1 e 1,5%. Diz Weitman: isto equivaleria a «comprar a Faixa de Gaza», «um investimento muito valioso». Apresentado também como «um gestor de investimentos e investigador», o autor explica que «investir milhares de milhões de dólares para resolver tão difícil questão é uma solução inovadora, barata e sustentável». Poderá atenuar ou até solucionar o problema da falta de habitação em Israel; para o Egipto será «um estímulo imediato» e representará «um benefício tremendo e imediato» para a região do Sinai. Além disso, o impacto demográfico no Egipto não será significativo, garante. Os habitantes de Gaza «constituem menos de dois por cento da população egípcia total, que hoje já inclui nove milhões de refugiados. Uma gota no oceano». Portanto, enquanto alguns responsáveis israelitas antevêem, numa primeira fase, transferir a população de Gaza para «cidades de tendas» no Sinai, a «solução» do Dr. Weitman garante, desde logo, a utilização de casas de habitação. Sublinha o autor que a Alemanha e a França, «os principais credores do Cairo», não deixarão de concordar com este processo, uma vez que «a economia egípcia será revitalizada» graças ao «investimento israelita». Também os países da Europa Ocidental «aceitarão a transferência de toda a população de Gaza para o Egipto» porque «reduzirá significativamente o risco de imigração ilegal…, uma tremenda vantagem». Neste aspecto, os planos do Ministério da Inteligência e do professor Amir Weitman parecem dissonantes, uma vez que o primeiro encara os países europeus como acolhedores de palestinianos; o segundo aposta firmemente no Egipto, o que, a acreditar nas sucessivas declarações do presidente Al-Sisi de que não abrirá a fronteira para permitir a limpeza étnica, pode deixar o projecto sem plano B. No entanto, como a actual fase do processo é ainda a chacina generalizada da população de Gaza, que os Estados Unidos e os seus satélites continuam a permitir recusando a imposição de um cessar-fogo, pode dizer-se que haverá tempo para acertar e fazer coincidir os mecanismos do projectado crime de guerra. «Será que o mundo assim ameaçado por "centenas de ogivas atómicas" (Sharon dixit) ainda não entendeu o significado e os perigos do que está a acontecer no pequeno território da Faixa de Gaza?» O Dr. Weitman continua a distribuir «vantagens» associadas ao seu programa. «A evacuação da Faixa de Gaza significa a eliminação de um aliado significativo do Irão»; o encerramento da questão de Gaza garantirá, por outro lado, «o fornecimento estável e crescente de gás israelita ao Egipto» – roubado nas águas palestinianas – «e a sua liquefacção». Por fim chega a «vantagem dos palestinianos»: «deixam de viver na pobreza sob o domínio do Hamas». Isto é, enquanto continuam a ser massacrados pelas tropas sionistas, afinal têm à sua frente um futuro risonho. O Dr. Weitman deixa um conselho: não há tempo a perder. «Não há dúvida de que para que este plano se concretize há muitas condições que devem ser reunidas simultaneamente. Actualmente essas condições estão reunidas e não está claro quando uma oportunidade destas voltará a surgir, se é que alguma vez surgirá. Este é o momento de agir». O jornalista israelita Gideon Levy, que escreve no diário Haaretz, costuma dizer que «o sionismo confunde o judaísmo com o mundo», no fundo uma expressão do racismo e dos atributos mitológicos, messiânicos, inerentes a esta doutrina. Os projectos para a consumação da limpeza étnica da Faixa de Gaza já em andamento traduzem essa maneira de pensar e de viver o sionismo tal como é praticado em Israel, pondo e dispondo do mundo, posicionando-se acima da lei como um dom natural, uma escolha divina, recorrendo a todos os meios possíveis e impossíveis para afirmar a sua superioridade, que considera inquestionável. Ou, como em tempos disse o criminoso de guerra Ariel Sharon, «temos a capacidade de destruir o mundo e garanto-vos que isso acontecerá antes de Israel se afundar». Será que o mundo assim ameaçado por «centenas de ogivas atómicas» (Sharon dixit) ainda não entendeu o significado e os perigos do que está a acontecer no pequeno território da Faixa de Gaza? Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Puro engano quando se trata do sionismo e do Estado de Israel. Em 2019, o rabino Giora Redler, dignitário religioso de uma academia militar na Cisjordânia ocupada, afirmou que «a ideologia de Hitler estava cem por cento correcta, mas incidiu sobre o lado errado». Sem dúvida, uma maneira interessante de reflectir sobre o Holocausto, longe de ser um caso isolado. Moshe Feiglin, dirigente do Partido Likud do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e dos atrás citados ex-primeiros-ministros Menahem Begin e Isaac Shamir, e vice-presidente do Parlamento entre 2013 e 2015, é um homem com ídolos no mínimo invulgares tratando-se de um judeu sionista e, certamente, a par da barbárie do Holocausto. Na opinião deste dirigente do partido no poder no Estado de Israel, «Hitler era um chefe militar inigualável; o nazismo fez passar a Alemanha de um nível baixo a um nível económico e ideológico fantástico. A Alemanha dispôs de um regime exemplar, de um sistema de justiça adequado e de ordem pública. Hitler gostava de boa música, os nazis não eram um bando de arruaceiros». Algumas décadas antes, Isaac Tabenkin, considerado o pai espiritual do movimento de ocupação de terras palestinianas através dos kibutz e quadro das milícias terroristas Hashemer, enumerara «os ideais de Hitler» de que dizia gostar: «homogeneidade étnica, possibilidade de troca de minorias étnicas, transferência de grupos étnicos em benefício de uma ordem internacional.» «Em 2019, o rabino Giora Redler, dignitário religioso de uma academia militar na Cisjordânia ocupada, afirmou que "a ideologia de Hitler estava cem por cento correcta, mas incidiu sobre o lado errado".» Não houve esforços políticos e mediáticos nos sectores afectos ao governo para desautorizar os conceitos de Feiglin. O próprio primeiro-ministro Netanyahu, em plenas funções, teve o cuidado de ilibar Hitler de grande parte do terror do Holocausto, pondo em causa a sua responsabilidade na adopção da «solução final». Segundo Netanyahu, ponta de lança do racismo sionista na carnificina e limpeza étnica que há mais de 150 dias decorre em Gaza, «Hitler não queria exterminar os judeus. Foi o mufti de Jerusalém (dignitário político-religioso islâmico) quem soprou a Hitler a ideia de exterminar os judeus em vez de os expulsar da Alemanha porque eles viriam para a Palestina». Ainda de acordo com a narrativa de Netanyahu, Hitler, atónito, «perguntou o que fazer. Queime-os», respondeu o mufti. Foi então que o führer, conhecido pela sua disponibilidade para ouvir opiniões e sugestões de outros, se decidiu pela matança. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. O sionismo assumiu abusivamente o monopólio do «semitismo», de maneira que qualquer crítica ou acusação à teoria e práticas do regime de Israel e da doutrina em que se baseia seja considerada uma manifestação de antissemitismo. Pelo que a condenação das chacinas em curso em Gaza ou mesmo as decisões do Tribunal Internacional de Justiça sobre a conduta de Israel nesse território sejam consideradas, e não apenas em Israel, expressões de antissemitismo. O regime de Macron em França tem desenvolvido diligências para que actos de «antissemitismo» como estes sejam penalizados com penas de prisão que podem chegar a cinco anos. Basta, para isso, que alguém viole supostamente a definição oficial de antissemitismo delegada pelo sionismo numa entidade sionista designada «Aliança Internacional de Recordação do Holocausto» (AIRH): «Antissemitismo são as alegações falsas, desumanizadoras, diabólicas ou estereotipadas sobre os judeus em si ou o poder dos judeus como grupo»; e também «culpar os judeus por coisas que não corram bem». A caracterização está viciada da primeira à última palavra. Considera todos os membros da comunidade judaica mundial como sionistas; confunde a etnia hebraica com a globalidade do «semitismo», o que é deliberadamente falso porque ignora a generalidade dos povos semitas, designadamente os árabes, escondendo que o próprio conceito oficial de sionismo assim definido é antissemita. O que aliás está explícito nas palavras de Mosha Smilanski atrás citadas: árabes são «uma raça semita antissemita». Pela mesma ordem de ideias, a definição da AIRH é antissemita porque atribui o monopólio do «semitismo» ao «povo judeu», neste caso à sua minoria inserida no conceito de sionismo. Segrega, portanto, os povos árabes e os próprios extractos de judeus que não se identificam com o sionismo. A viciada identificação absoluta entre o sionismo e o semitismo, excluindo boa parte do judaísmo e a generalidade dos outros povos semitas, é uma antiga estratégia de propaganda da doutrina do Estado de Israel para universalizar a acusação de antissemita a quem não se identifica com as práticas israelitas. Abba Eban, vice-primeiro ministro, ministro dos Negócios Estrangeiros e representante de Israel nas Nações Unidas nos governos de Golda Meir, deixou bem clara essa estratégia: «Uma das tarefas principais de qualquer diálogo com o mundo é provar que a distinção entre antissemitismo e antissionismo não existe». A limpeza étnica que as tropas de Israel estão a fazer em Gaza não é uma prática criminosa original, temporária e isolada. É a estratégia de base da criação do Estado de Israel e um conceito primordial da doutrina sionista, não formulado por estas palavras mas explicitado em múltiplas declarações, ao longo de décadas, proferidas por altos responsáveis do sionismo. Ben-Gurion e o general Moshe Dayan, um militar polémico que integrou o grupo terrorista Haganah e foi considerado um herói nas campanhas da independência, da guerra contra o Egipto em 1956 e da Guerra dos Seis Dias, em 1967, fizeram considerações confirmando a impossibilidade de Israel existir sem uma limpeza étnica contra os árabes da Palestina. «A limpeza étnica que as tropas de Israel estão a fazer em Gaza não é uma prática criminosa original, temporária e isolada. É a estratégia de base da criação do Estado de Israel e um conceito primordial da doutrina sionista, não formulado por estas palavras mas explicitado em múltiplas declarações, ao longo de décadas, proferidas por altos responsáveis do sionismo.» Em 1969, numa conferência perante estudantes universitários, Dayan afirmou que «não existe um único lugar construído neste país que não tenha tido uma população árabe». Moshe Dayan terminou a sua carreira político-militar quando defendeu a retirada unilateral israelita dos territórios ocupados em 1967, contrariando a política do primeiro-ministro, Menahem Begin, no sentido de consumar a anexação da Cisjordânia, de Gaza e dos Montes Golã, território sírio. O general que considerava «não haver nada mais excitante do que a guerra», não perdeu, por outro lado, a perspectiva da violência necessária para concretizar os objectivos do sionismo. Numa homenagem fúnebre a um militar israelita morto pela resistência palestiniana em Gaza, em Abril de 1956, Moshe Dayan afirmou: «Não culpemos os assassinos de hoje (…) Há oito anos que estão nos seus campos de refugiados em Gaza enquanto, sob os seus olhos, temos vindo a transformar as terras e as aldeias onde eles e os seus pais habitavam em propriedade nossa». Dayan conhecia bem e assumia a realidade. As suas palavras poderiam ser pronunciadas hoje substituindo «oito anos» por «75 anos» – a limpeza étnica continua. Como confirma Avi Dichter, ministro do Likud entre 2006 e 2009 e chefe do Shin Beth (polícia secreta interna) em 2023, «Estamos em vias de realizar uma nova Nakba em Gaza. Nakba Gaza 2023, isto acabará assim». Nakba é a expulsão de 750 mil palestinianos das suas terras, aldeias, cidades e casas em 1948-49, durante o período de criação e instauração do Estado de Israel, a primeira grande limpeza étnica organizada e desenvolvida pelo sionismo. O conceito «Nakba Gaza 2023» exposto por Dichter não deixa dúvidas de que estamos nestes dias perante uma operação de limpeza étnica, uma violação crua do direito internacional e um crime grosseiro contra a humanidade. Também Ben-Gurion, tal como Moshe Dayan, mas cerca de 20 anos antes, admitiu que o processo de criação do Estado de Israel exigia uma transformação total na estrutura demográfica da Palestina: «O país é deles (os árabes) porque eles habitam-no enquanto nós queremos vir para cá estabelecer-nos e, na visão deles, queremos tirar-lhes o país vivendo nós ainda no exterior», declarou o fundador do Estado de Israel perante o Comité Político do partido Mapai (trabalhista) em 7 de Junho de 1938. Durou pouco a aparente contenção do discurso de Ben-Gurion. Ainda no mesmo ano proclamou que «a transferência obrigatória permitir-nos-á tomar posse de uma imensa região; e não vejo na transferência obrigatória nada de imoral». Apesar das aparentes diferenças ideológicas, o trabalhista Ben-Gurion limitou-se, porém, a ecoar recomendações emanadas anteriormente pelo revisionista e ultradireitista Vladimir Jabotinsky, a quem o primeiro primeiro-ministro israelita chamava «o fascista»: «não há alternativa: os árabes devem dar lugar aos judeus no Grande Israel». Já em 1920, antes de Jabotinsky lançar o movimento revisionista do sionismo para contrabalançar o «socialismo» dominante nos primeiros anos da colonização, o jornalista sionista inglês Israel Zangwill alertara que «devemos preparar-nos para expulsar (os árabes) pela força, tal como fizeram os nossos antepassados» – uma espécie de regresso ao mito fundador do Reino de Israel (alegadamente 930-720 A.C.), quando as 12 tribos de Moisés expulsaram os cananeus. Muitos eruditos israelitas contestam a versão bíblica destes acontecimentos e outros, embora aceitando a narrativa do Antigo Testamento em geral, consideram que foi muito ficcionada. «O conceito "Nakba Gaza 2023" exposto por Dichter não deixa dúvidas de que estamos nestes dias perante uma operação de limpeza étnica, uma violação crua do direito internacional e um crime grosseiro contra a humanidade.» Na altura da independência do Estado sionista, em 1948, Menahem Begin, chefe do grupo terrorista Irgun e futuro primeiro-ministro e Prémio Nobel da Paz, e para quem «os palestinianos são animais que andam sobre duas patas», assegurou que «a partilha da Palestina», decidida pelas Nações Unidas, «é ilegal e jamais será reconhecida» – como o Parlamento de Israel acaba de decidir ao recusar-se a admitir a chamada «solução de dois Estados». Begin estipulou ainda que «o Grande Israel será restaurado pelo povo de Israel por inteiro e para sempre». Cerca de quarenta anos depois, em 1987, o deputado e chefe do partido governamental ultradireitista Moledet, Rehavam Zeevi, postulou que «o sionismo é por essência um sionismo de transferência». Prestes a assumir o cargo de primeiro-ministro do novo Estado, Ben-Gurion rejeitou implicitamente a resolução de partilha da Palestina em dois Estados, aprovada pela Assembleia-Geral da ONU, afirmando que «o importante não é o que os goyim (não-judeus) dizem mas o que os judeus fazem». O desafio do sionismo ao direito internacional percorre os quase 150 anos de existência da doutrina lançada por Theodor Herzl. A limpeza étnica gera a tragédia dos refugiados, milhões de refugiados, neste caso abrangendo várias gerações de famílias e distribuídos por todo o mundo, com especial incidência nos países vizinhos da Palestina. Há ainda os refugiados palestinianos «internos», os que foram deslocados das suas aldeias e cidades, das suas casas, para campos de refugiados na Cisjordânia e em Gaza. Estão, por conseguinte, ameaçados de nova limpeza étnica, como a que está a acontecer em Gaza e também na Cisjordânia – mais lenta e repartida, desenvolvida essencialmente através do processo de colonização que os dirigentes de Israel consideram irreversível. A ONU e a legislação internacional estabelecem que os refugiados palestinianos têm «o direito de retorno», isto é, qualquer solução regional que venha a ser encontrada implica o regresso dos palestinianos à Palestina. Pais e outros familiares começaram a escrever o nome nas mãos e nos braços das suas crianças para poderem ser identificadas depois de abatidas pela «única democracia do Médio Oriente», protegida pelo «exército mais moral do mundo». «À medida que a guerra entre Israel e o Hamas avança peço aos meus compatriotas americanos que permaneçam vigilantes e não caiam em qualquer propaganda falsa afirmando que as pessoas que vivem em Gaza são dignas de vida humana…» (Joseph Biden, presidente dos Estados Unidos da América) Joseph Biden, o chefe dos chefes daquilo a que costuma chamar-se o «Ocidente colectivo», ou «a civilização ocidental», ou simplesmente «o Ocidente», pronunciou esta frase lapidar à chegada de uma breve deslocação ao Médio Oriente onde abraçou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, mas sem o interromper no comando da chacina do povo de Gaza. Não estranhem, por muito revoltantes que as sintam, as palavras do nosso guia da «civilização ocidental», essa mistura de irmandades decrépitas, sofrendo de sintomas de autoritarismo desesperado, como a NATO, a União Europeia, o G7, os Cinco Olhos e ainda outras agremiações onde se juntam o todo ou parte dos mesmos comparsas. Ao contrário do que possa pensar-se, tais sentenças não são fruto da senilidade e de outras insuficiências manifestadas pelo personagem que habita na Casa Branca. Desta feita são palavras lúcidas, com raízes no conceito do primeiro-ministro de Israel em relação às pessoas de Gaza, por ele qualificadas como «bestas humanas». Ou, na versão do ministro sionista da Defesa, Yoav Gallant: «estamos a lutar contra animais humanos e agindo em conformidade». Em 2002, o historiador israelita Zeev Sternhell, da Universidade Hebraica de Jerusalém, escreveu: «Não esqueçamos que, de facto, foi Israel que criou o Hamas. Pensou que era uma maneira inteligente de empurrar os islamitas contra a OLP». «Eles apenas vêem uma coisa: chegámos e roubámos-lhes o país. Porque é que eles aceitariam isso?» «Não ignoremos a verdade entre nós… politicamente somos os agressores e eles defendem-se» (David Ben-Gurion, fundador e primeiro presidente de Israel) A dúvida não era se isto iria acontecer, mas quando e como aconteceria. E para os que acompanham o quotidiano de Gaza – não aqueles que se transferiram apressadamente da Ucrânia e tiveram de consultar os mapas para reprocessar o chip – o genocídio e a limpeza étnica a que estamos a assistir não são novidade nem surpresa. A Faixa de Gaza é, há pouco mais de década e meia, um campo de concentração onde uma população de 2,3 milhões de habitantes está literalmente encerrada por imposição de Israel e a colaboração do Egipto, submetida a restrições selváticas que afectam a vida de cada cidadão, desde a importação de alimentos, medicamentos, a degradação da quantidade e da qualidade da água, os cortes sistemáticos de energia e, principalmparaente, as periódicas agressões militares de Israel, manobras punitivas que têm ceifado dezenas de milhares de vidas, deixando quase incólumes as estruturas do Hamas, e contribuído para a destruição contínua do parque habitacional e das estruturas públicas e sociais, designadamente as escolas. Como é que organizações de espionagem como as sionistas, que certamente dispõem de milhares de informadores numa população tão densa e caótica como a de Gaza, não tinham sequer uma luzinha sobre o que o Hamas estava a preparar? No momento em que o Hamas lançou a operação «Dilúvio sobre al Aqsa», no passado dia 7 de Outubro, expondo uma «falha de inteligência de Israel» que os peritos de inteligência consideram pouco provável, ou mesmo impossível, o governo de Ramallah revelou-se absolutamente ineficaz para encabeçar a resistência palestiniana na Cisjordânia num momento de tantas incertezas, perigos e, certamente, traições. Um governo inerte, corrupto, desligado das realidades e do povo, além de acomodado. Ao longo de mais de 15 anos, a Autoridade Palestiniana pouco fez perante o avanço da colonização, um processo gradual de anexação de território até que chegue o momento – eventualmente já atingido – em que não existirão condições para instaurar um Estado Palestiniano independente e viável. Em contraste, através do impacto emocional, e até místico dos seus métodos, junto da resistência palestiniana em geral, e dos mundos árabe e islâmico, o Hamas procura estender a base de apoio entre as populações árabes da Palestina e da diáspora. O Hamas, porém, não tem grande apreço pela criação de um Estado independente e por negociações: afirma que defende o fim de Israel; e as forças nacionais que apostaram no «processo de paz», e claramente num Estado independente ao lado de Israel, estão neutralizadas. O que reflecte o carácter sombrio e intrigante das relações dos islamitas com Israel. Uma das características das agressões israelitas contra Gaza, que alternam com períodos de acalmia aproveitados pelo aparelho sionista para reforçar os mecanismos de controlo sobre Ramallah, é o seu reduzido e controlável impacto sobre o aparelho militar e as estruturas de apoio do Hamas. A sensação que prevalece é a de que os danos não impedem o seu contínuo desenvolvimento. Passaram as operações arrasadoras de 2008, 2014 e chega-se a 2023 com um Hamas forte como nunca em equipamento militar, em termos quantitativos e qualitativos, e capacidade operacional. Em todos os períodos de agressão israelita mais intensa contra Gaza as principais vítimas foram as populações e não as estruturas do Hamas. Milhares e milhares de palestinianos de Gaza, na verdade refugiados das limpezas étnicas praticadas em outras regiões da Palestina ao longo de 75 anos, ficaram pelo caminho durante essas agressões. Agora, numa proporção directa da envergadura da operação desencadeada pelo Hamas, entrou na ordem do dia, do lado de Israel, a «transferência» da população de Gaza, começando pela «limpeza» do norte do território. «Em todos os períodos de agressão israelita mais intensa contra Gaza as principais vítimas foram as populações e não as estruturas do Hamas.» A punição colectiva é evidente e intencional. Como explica o presidente israelita, Isaac Herzog, «uma nação inteira é responsável» pela violência, isto é, não há inocentes na população de Gaza. Amir ou Amina, nascidos há poucos dias, já chegaram a este mundo como «terroristas». Ou «animais humanos», citando o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, extremoso defensor dos «nossos valores». Por outro lado, as acções de violência contra civis, não distinguindo entre os cidadãos comuns e os militares, praticadas pelas hostes do Hamas, não servem nem poderiam servir a causa palestiniana. Não é por replicar os métodos do ocupante que os ocupados conseguem ganhar vantagem e projectar a sua razão. O massacre no kibutz de Kfar Aza, por exemplo, é um acto indigno de uma resistência popular e também faz jorrar a propaganda assente nas lágrimas de crocodilo de todos os fariseus que, na verdade, não querem saber das pessoas nem das populações sob ocupação. Nesta matéria, porém, há que partir do princípio de que nem tudo o que parece é. O Estado de Israel funciona como um dos mais credenciados centros de propaganda, embora nem sempre tenha em conta certa o estado real de estupidificação da opinião pública ocidental. A história dos 40 bebés decapitados pelo Hamas só convenceu alguns «jornalistas» mais zelosos, que rapidamente tiveram de voltar com a palavra atrás depois de até o governo israelita confessar que não confirmava o crime. Foi um caso de falta de imaginação ou facilitismo: muita gente ainda se lembra do descrédito em que caiu a história dos bebés do Koweit roubados de incubadoras pelos soldados iraquianos de Saddam Hussein, no início dos anos noventa. Manifestantes pela paz e direitos do povo palestiniano avisam Assembleia da República e Governo PS de que não aceitam um Portugal «cúmplice, por acção ou omissão, de um crime que a história não deixará de registar». Muitas centenas de pessoas participaram hoje (18 de Outuro de 2023) no acto público «Pela Paz no Médio Oriente, Pelos direitos do povo Palestiniano! Fim à agressão a Gaza, Paz no Médio Oriente!», que teve lugar no Martim Moniz, em Lisboa. A concentração, que já tinha tinha realizado ontem no Porto, foi convocada pelo Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente (MPPM), o Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC) e a CGTP-IN. A maior parte dos jornalistas perdeu a vida quando faziam reportagens sobre a guerra, tendo sido vítimas dos bombardeamentos indiscriminados israelitas sobre a Faixa de Gaza. Pelo menos oito jornalistas foram mortos, dois foram dados como desaparecidos e um ficou ferido desde sábado, quando grupos da resistência palestiniana em Gaza romperam o cerco imposto e lançaram a operação «Dilúvio de al-Aqsa» contra territórios ocupados em 1948 e Israel se declarou em estado de guerra. A maior parte dos jornalistas foi morta pelas forças de ocupação no terreno, quando estavam a fazer reportagens sobre os bombardeamentos israelitas dos últimos seis dias. No sábado, a resistência palestiniana quebrou a vedação que cerca o enclave e lançou uma ofensiva contra os territórios ocupados em 1948. Desde então, a aviação israelita matou mais de 430 palestinianos. De acordo com os dados divulgados pelo Ministério palestiniano da Saúde esta manhã, os bombardeamentos indiscriminados na Faixa de Gaza, conhecida como «a maior prisão a céu aberto», provocaram a morte a 436 pessoas, incluindo 91 menores, e fizeram 2271 feridos, 244 dos quais crianças. Nas últimas horas, a aviação da ocupação lançou centenas de raides contra o enclave costeiro, onde vivem mais de dois milhões de pessoas, atingindo edifícios residenciais, infra-estruturas oficiais e civis, bem como edifícios religiosos, tendo destruído pelo menos duas mesquitas, indica a agência Wafa. Só no sábado, os bombardeamentos israelitas provocaram 300 mortos, o que, segundo destaca o portal The Cradle, é o número mais elevado de palestinianos mortos em ataques aéreos da ocupação num só dia desde 2008. Enquanto se mantiver a ocupação colonial e a violência das forças militares e dos colonos, não haverá paz, alerta o Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente (MPPM). O MPPM reage assim às acções desencadeadas em Gaza e em Israel na madrugada deste sábado. Eram 4h30 em Lisboa (6h30 no local), quando militantes de organizações da resistência palestiniana lançaram, a partir da Faixa de Gaza, um ataque de surpresa, em larga escala, contra Israel, no que apelidaram de «Operação Dilúvio Al-Aqsa». Segundo as organizações, a acção foi uma resposta à profanação da Mesquita de Al-Aqsa e ao aumento da violência dos colonos, e confirma, insiste o MPPM num comunicado, «que não é possível ter uma situação de paz na Palestina e, por consequência, no Médio Oriente, continuando a espezinhar os legítimos direitos do povo palestino e persistindo em manter a ocupação colonial e a violência das forças militares e dos colonos». Diversos grupos da resistência declararam o apoio à operação lançada contra Israel, esta manhã, a partir da Faixa de Gaza, sublinhando que faz parte da luta de libertação nacional. «Fazemos parte desta batalha e os nossos combatentes estão lado a lado com os seus irmãos nas Brigadas al-Qassam (ala militar do Hamas) até à vitória», afirmou em comunicado Abu Hamza, porta-voz das Brigadas de al-Quds, braço militar da Jihad Islâmica. Em termos semelhantes, refere a Prensa Latina, se pronunciaram as Brigadas al-Nasser Salah al-Din, do Movimento de Resistência Popular: «Unidos numa trincheira neste dia glorioso do nosso povo.» Por seu lado, as Brigadas de Resistência Nacional anunciaram que os seus membros se juntaram à operação, lançada esta manhã pelo Hamas, que incluiu o lançamento de milhares de rockets e uma incursão terrestre em território ocupado em 1948. Atingido por disparos de colonos na cidade de Huwara, Labib Dumaidi, de 19 anos, é a mais recente das quatro vítimas mortais na Margem Ocidental ocupada, revelou o Ministério da Saúde. De acordo com a informação divulgada pelo Ministério, Labib Mohammed Dumaidi ficou gravemente ferido durante um ataque de colonos, ontem à noite, na cidade de Huwara, a sul de Nablus. Levado para um hospital, não resistiu aos ferimentos, já nas primeiras horas de sexta-feira. Residentes de Huwara tentaram fazer frente à provocação levada a cabo por dezenas de colonos, protegidos por forças militares israelitas, indica a Wafa. Registaram-se fortes confrontos e as tropas israelitas usaram fogo real, gás lacrimogéneo e granadas atordoantes para dispersar os palestinianos. Fontes do Crescente Vermelho Palestiniano informaram que pelo menos 25 pessoas, incluindo quatro crianças, sofreram efeitos de asfixia devido à inalação de gás lacrimogéneo. Também em Huwara, as forças israelitas mataram, ontem à tarde, outro palestiniano, cuja identidade ainda não foi revelada. Dias depois de colonos extremistas terem invadido e atacado Huwara, Bezalel Smotrich afirmou que Israel deve «aniquilar» a localidade palestiniana no Norte da Cisjordânia ocupada. «Penso que Huwara precisa de ser destruída», disse o ministro israelita das Finanças, Bezalel Smotrich, esta quarta-feira, defendendo que «o Estado devia fazê-lo e não cidadãos privados», refere a PressTV com base na imprensa israelita. As declarações do ministro de extrema-direita do governo de Benjamin Netanyahu seguem-se ao ataque perpetrado contra a localidade palestiniana, no domingo à noite, por centenas de colonos armados. Tratou-se da «resposta» à morte de dois israelitas de um colonato ilegal, executados por um atacante palestiniano de Huwara. Este ataque, por sua vez, seguiu-se ao massacre de Nablus, em que as forças de ocupação israelitas mataram 11 palestinianos e feriram mais de cem. No domingo à noite, os colonos queimaram pelo menos 150 carros, 52 casas e várias lojas. Uma pessoa foi morta e o número de feridos palestinianos é superior a 390, indica a agência Wafa. Grupos israelitas de defesa dos direitos humanos como Peace Now e B’Tselem referiram-se ao ataque dos colonos como um «pogrom» apoiado pelas autoridades de ocupação. Por seu lado, o Crescente Vermelho palestiniano acusou as forças israelitas de impedirem as ambulâncias e os paramédicos de acederem ao local do ataque, a poucos quilómetros de Nablus. No Knesset, a extrema-direita israelita considerou os ataques a Huwara «legítimos». Hussein al-Sheikh, da Comissão Executiva da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), afirmou, no Twitter, que as afirmações de Smotrich para apagar Huwara do mapa são o apelo de um «racista terrorista». Também o primeiro-ministro da Autoridade Palestiniana (AP), Mohammad Shtayyeh, se referiu às afirmações do ministro israelita como «terroristas» e «racistas», e alertou para o facto de que «fazem prever uma escalada séria» contra o povo palestiniano nos territórios ocupados. Neste sentido, pediu às Nações Unidas, à União Europeia e demais organizações internacionais que condenem as declarações de Smotrich. Antes, já tinha pedido ajuda internacional «contra os crimes de Israel». O Parlamento (da Liga) Árabe, com sede no Cairo, condenou esta quarta-feira os ataques executados por colonos israelitas contra o povo palestiniano na Cisjordânia ocupada, referindo-se em especial ao assalto à localidade de Huwara. Perante os ataques terroristas sistemáticos dos colonos contra cidadãos indefesos, com armas de fogo, incêndios de casas e viaturas, expulsão de agricultores, assassinatos e outros crimes, exortou o mundo e em especial o Conselho de Segurança da ONU a adoptar medidas para proteger o povo palestiniano. Antes, a Liga Árabe já tinha proposto que as milícias de colonos passem a ser incluídas na lista de grupos terroristas. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Na parte da manhã, as forças israelitas já tinham matado dois palestinianos, identificados como Hudhayfah Fares, de 27 anos, e Abd al-Rahman Atta, de 23, na aldeia de Shufa, na sequência de um ataque de colonos a viaturas na região de Tulkarem. De acordo com as Nações Unidas, 2023 está a ser o ano mais mortífero para os palestinianos na Margem Ocidental desde que há registo de fatalidades provocadas pelas forças de ocupação. Nabil Abu Rudeineh, porta-voz da Presidência palestiniana, disse à imprensa que a ocupação israelita pisou todas as linhas vermelhas, com a sua insistência na política de assassinatos e incursões em cidades, aldeias e acampamentos palestinianos. Numa entrevista à Palestine TV, o representante da Presidência responsabilizou o governo israelita e a administração norte-americana pelos «crimes perigosos perpetrados pela ocupação e os seus colonos por todo o território palestiniano», os mais recentes dos quais nas imediações de Nablus e Tulkarem, refere a Wafa. Apesar da «guerra implacável» que a ocupação israelita está a travar contra o povo palestiniano «à vista de todo o mundo», o responsável afirmou que isso não irá impedir «o nosso povo de prosseguir a sua luta legítima» até à «criação do seu Estado independente, com Jerusalém como capital». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Na Cisjordânia, a Cova dos Leões, um dos grupos da resistência mais activos, fez um apelo à mobilização geral dos seus membros, bem como ao «ataque imediato em todos os lugares contra as forças de ocupação e os seus colonos». Com base em fontes israelitas, a agência Prensa Latina indica que o Exército de ocupação deu conta de combates em 21 locais no Sul de Israel, na sequência da operação palestiniana – embora tenha posteriormente reduzido esse número para sete. Ao anunciar a ofensiva desta manhã (às 7h locais), o comandante das Brigadas al-Qassam, Muhammad al-Deif, disse que o grupo palestiniano disparou para território israelita 5000 rockets. Al-Deif afirmou que a operação é uma resposta aos sistemáticos crimes israelitas contra o povo palestiniano e a profanação contínua por colonos judeus da mesquita de al-Aqsa, em Jerusalém, e ocorre num contexto de escalada de agressões, da parte de colonos e forças israelitas, em Jerusalém Oriental e na Cisjordânia ocupada. A Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos registou mais de 135 mil casos de detenções, pelas forças de ocupação israelitas, desde o início da Intifada de al-Aqsa, em 2000. Num relatório emitido por ocasião do 23.º aniversário do início da Segunda Intifada ou Intifada de al-Aqsa (28 de Setembro de 2000), a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos sublinha que as detenções levadas a cabo pelas forças israelitas afectaram todas as camadas da sociedade, e não deixaram de parte menores de idade, idosos e mulheres. Dos mais de 135 mil casos registados pelo organismo, 21 mil dizem respeito a menores, indica o relatório – divulgado pela Wafa –, que dá conta da detenção de metade dos deputados do Conselho Legislativo Palestiniano (Parlamento), de vários ministros, centenas de académicos, jornalistas e funcionários de organizações da sociedade civil e instituições internacionais. Israel mantém nas suas prisões 1264 palestinianos sem acusações nem julgamento, o número mais elevado em 30 anos, revelou a ONG Hamoked. Desde a Primeira Intifada (1987-1993) que não havia tantos palestinianos detidos ao abrigo da polémica norma, alertou a organização não governamental este fim-de-semana, com base nos dados dos serviços prisionais. Jessica Montell, directora executiva da Hamoked, organização israelita que presta assistência jurídica gratuita aos palestinianos que vivem sob a ocupação, afirmou que a detenção administrativa é «massiva e arbitrária» e que Israel mantém nesse regime, sem acusação nem julgamento, mais de 1200 palestinianos, «alguns dos quais durante anos sem uma revisão eficaz». Ao abrigo deste regime, a detenção, decretada por um comandante militar, com base naquilo a que Israel chama «prova secreta» – que nem o advogado do detido tem direito a ver –, pode ser infinitamente renovada por períodos até seis meses. A Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) revelou, este domingo, que nove presos palestinianos sem acusação ou julgamento continuam em greve de fome por tempo indeterminado. Os presos Kayed al-Fasfous e Sultan Khlouf iniciaram o protesto contra a detenção administrativa há 19 dias. Por seu lado, Osama Darkouk encontra-se em greve de fome há 15 dias. Outros seis reclusos palestinianos em cadeias israelitas estão em greve de fome há 12 dias: Hadi Nazzal, Mohammad Taysir Zakarneh, Anas Kmail, Abdelrahman Baraka, Mohammad Basem Ikhmis e Zuhdi Abdo, informa a agência Wafa, com base na SPP. Na semana passada, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos pediu à chamada comunidade internacional que quebre o silêncio em torno do «crime israelita da detenção administrativa», que permite manter na cadeia presos sem acusação ou julgamento, numa clara violação das normas internacionais. Ao abrigo deste regime, a detenção, decretada por um comandante militar, com base naquilo a que Israel chama «prova secreta» – que nem o advogado do detido tem direito a ver –, pode ser infinitamente renovada por períodos até seis meses. A Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) revelou, esta segunda-feira, que quatro presos palestinianos sem acusação ou julgamento tinham iniciado há nove dias uma greve de fome por tempo indeterminado. Em comunicado divulgado pela Wafa, a SPP indicou que Anas Ibrahim Shadid, de 26 anos, Mahmoud Abdel Halim Talahma, de 32, Abdullah Mohammad Abido, de 36, e Mohammad Ahmad Dandis, de 25, iniciaram o protesto para denunciar a sua detenção sem acusação ou julgamento. Acrescentou que todos os detidos estão na cadeia israelita de Ofer, perto de Ramallah, e são originários da província de Hebron (al-Khalil), no Sul da Cisjordânia ocupada. A organização de defesa dos direitos dos presos informa que Shadid foi preso três vezes, sempre no regime de detenção administrativa, tendo passado, no total, três anos atrás das grades. Durante esses períodos, levou a cabo duas greves de fome, uma delas com a duração de 90 dias, em 2016. Os prisioneiros iniciaram uma greve de fome, há uma semana, para exigir a sua libertação e denunciar um regime de detenção que permite mantê-los na cadeia sem acusação ou julgamento. O protesto dos trinta presos palestinianos, membros e simpatizantes da Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP), completou uma semana sem solução aparente à vista, tendo em conta a inflexibilidade das autoridades de Telavive. Em comunicado, a Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) anunciou que os serviços prisionais israelitas têm estado a ameaçar com castigos os reclusos que lutam contra o regime de detenção administrativa. Entre as punições, contam-se privá-los de visitas, retirar-lhes os seus pertences e isolá-los em celas de castigo. Nesta primeira semana de protesto, os serviços prisionais israelitas colocaram 28 dos grevistas em quatro celas de isolamento na prisão de Ofer, informa a Wafa com base no documento divulgado pelo SPP. Um outro, o advogado Salah Hammouri, foi metido na solitária numa cadeia no Norte de Israel, enquanto Ghassan Zawahreh foi levado para uma cela de isolamento numa prisão localizada no Deserto do Neguev (al-Naqab). Os prisioneiros, em cadeias israelitas, iniciaram uma greve de fome por tempo indeterminado contra um regime que permite mantê-los detidos sem acusação ou julgamento, por períodos renováveis de seis meses. O início do protesto, este domingo, por parte de prisioneiros que são membros ou apoiantes da Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP), foi confirmado pela Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos. Em declarações à agência Wafa, Hassan Abed Rabbo, porta-voz da comissão, disse que os presos decidiram avançar contra uma política que permite a Israel manter nas suas prisões, sem acusação ou julgamento, presos palestinianos por tempo indefinido, na medida em que o período de detenção, até seis meses, é infinitamente renovável. Numa mensagem divulgada há alguns dias, os presos sublinharam que a luta contra o regime de detenção administrativa continua e denunciaram que as medidas tomadas pelas autoridades prisionais israelitas «já não se baseiam em obsessões de segurança, mas são actos de vingança devido ao seu passado». Qadri Abu Baker, líder da Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos, disse à Wafa que, na próxima quinta-feira, mais 50 presos se devem juntar à greve de fome, para denunciar o regime de detenção administrativa a que são submetidos e a escalada por parte de Israel no que respeita a este procedimento. O maior número de detenções administrativas – sem julgamento ou acusação – foi decretado em Maio, quando Israel lançou uma ofensiva de 11 dias contra a Faixa de Gaza. A Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) revelou, este domingo, que o número divulgado diz respeito tanto a novas ordens como à renovação de ordens já emitidas nos territórios ocupados, pelas autoridades israelitas. No documento apresentado, o organismo lembra que política de detenção administrativa visa «esmagar os activistas políticos palestinianos» e se baseia num ficheiro secreto não acessível aos presos – nem sequer aos seus advogados –, que são mantidos na cadeia sem acusação ou julgamento, informa a WAFA. O maior número de ordens de detenção administrativa foi emitido em Maio último, quando a Israel lançou uma ofensiva de 11 dias contra a Faixa de Gaza, explicou a organização de defesa dos presos, acrescentado que, ao longo do ano, 60 prisioneiros recorreram à greve de fome com o propósito de reconquistar a liberdade. Uma comissão de apoio aos prisioneiros revelou que 13 palestinianos permaneciam em greve de fome nas cadeias, este domingo, contra o regime que permite mantê-los reclusos sem acusação ou julgamento. Num comunicado ontem emitido, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos informou que o prisioneiro Salem Ziadat, de 40 anos, é, dos 13 que continuavam o protesto, aquele que está em greve de fome há mais tempo, permanecendo em jejum há 28 dias contra a sua detenção administrativa, sem acusação ou julgamento, revelou a agência WAFA. A Comissão informou ainda que o número de reclusos palestinianos em greve de fome até ontem era de 15, mas que Mohammad Khaled Abusill e Ahmad Abdulrahman Abusill tinham chegado a um acordo com o Serviço Prisional Israelita no que respeita à «limitação» da chamada detenção administrativa. Grupos de defesa dos presos apresentaram um relatório sobre o primeiro semestre de 2021. Nas cadeias israelitas, há actualmente 4850 palestinianos, 540 dos quais ao abrigo da «detenção administrativa». Entre os palestinianos que se encontram nos cárceres de Israel, contam-se 43 mulheres e 225 menores, segundo o documento conjunto divulgado este fim-de-semana pela Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos, a Sociedade dos Presos Palestinianos, a Addameer e o Centro de Informação Wadi Hilweh. Os organismos referidos precisaram que 12 presos são membros do Conselho Legislativo Palestiniano (Parlamento), 70 são provenientes dos territórios ocupados em 1948, 350 são originários de Jerusalém ocupada e 240 da Faixa de Gaza cercada. O informe destaca a existência de 540 prisioneiros palestinianos em detenção administrativa, sem acusação formada ou julgamento, por períodos de seis meses indefinidamente renováveis. No que respeita a detenções, os organismos de defesa dos presos revelaram que Israel prendeu 5426 palestinianos entre 1 de Janeiro e 30 de Junho deste ano – um número superior a todas as detenções efectuadas pelas forças israelitas em 2020 e registadas por estas organizações: 4636. Por ocasião do Dia da Criança Palestiniana, que se assinala a 5 de Abril, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos revelou também que 140 menores permanecem em cadeias israelitas. Os menores palestinianos, alguns dos quais crianças, continuam a ser alvo das forças militares israelitas, que os prendem, muitas vezes de forma violenta, nos territórios ocupados. De acordo com um relatório publicado este domingo pela Sociedade dos Prisioneiros Palestinianos, pelo menos 230 foram detidos desde o início do ano, a maioria dos quais em Jerusalém Oriental ocupada. O grupo de defesa dos direitos dos presos sublinhou que «as crianças encarceradas são submetidas a vários tipos de abusos, incluindo «a recusa de comida e de bebida por longas horas, abuso verbal e a detenção em condições duras». O informe veio a lume na véspera do Dia da Criança Palestiniana, que se assinala a 5 de Abril, com actividades culturais, educativas e mediáticas que, refere a PressTV, visam reforçar a consciência sobre o sofrimento dos menores palestinianos. Também no âmbito do Dia da Criança Palestiniana, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos revelou que 140 menores permanecem em cadeias israelitas, incluindo dois que se encontram presos ao abrigo do regime de detenção administrativa. Uma comissão da ONU reafirmou denúncias expostas em vários relatórios sobre detenções de menores palestinianos por Israel – quase sempre presos de noite, algemados e vendados. É o início da «viagem ao inferno». A instância, composta por especialistas independentes das Nações Unidas, expressou particular preocupação pela expansão dos colonatos e o aumento da violência dos colonos israelitas, em que se incluem ataques a crianças e às suas escolas. Segundo se pode ler no portal oficial de notícias da ONU, na semana passada diversas organizações informaram a comissão sobre as operações nocturnas levadas a efeito pelas forças israelitas com o propósito de deter crianças e adolescentes na Cisjordânia ocupada, com «graves consequências para o seu bem-estar e gozo dos seus direitos». «Mais de 300 crianças estão detidas no sistema militar israelita. A maioria por delitos menores, como atirar pedras e publicações nas redes sociais», assinala a comissão, que denuncia o facto de os menores serem «levados para locais desconhecidos, presos em viaturas militares e sujeitos a ameaças e abusos verbais», bem como o facto de, por vezes, serem «obrigados a assinar confissões em hebraico, uma língua que não costumam entender». Estas preocupações reafirmam as que têm sido veiculadas, ao longo do tempo, por várias entidades, nomeadamente a Comissão dos Prisioneiros Palestinianos, órgão dependente da Autoridade Palestiniana que, em diversas ocasiões (também este ano), alertou para o facto de os menores serem torturados e sofrerem abusos nos cárceres israelitas, bem como para o facto de serem espancados, insultados e pressionados no momento da detenção. No final de Março, um relatório publicado pelo Ministério palestiniano da Informação denunciava também esta realidade, afirmando que «95% das crianças palestinianas presas pelas autoridades israelitas foram torturadas durante a detenção». De acordo com o relatório, até 2015 foram documentadas anualmente 700 detenções de menores palestinianos. Já em 2017, Israel prendeu 1467 crianças e adolescentes; 1063 no ano seguinte e, nos dois primeiros dois meses deste ano, 118. Entre 2000 e 2018, foram presos mais de 16 mil menores. Numa peça intitulada «“Endless Trip to Hell”: Israel Jails Hundreds of Palestinian Boys a Year. These Are Their Testimonies», publicada em Março e plenamente actual, o periódico israelita Haaretz aborda esta realidade, em que as crianças, algumas com idades inferiores a 13 anos, «são detidas pela calada da noite, vendadas e algemadas, alvo de abusos e constrangidas» a confessar «crimes» que não cometeram. A peça, que reúne testemunhos de sete jovens da Margem Ocidental ocupada com idades compreendidas entre os dez e os 15 anos, revela as diversas fases do processo de detenção, que começa nas operações nocturnas e passa pelo interrogatório, a prisão, o julgamento e a proposta de um acordo. Na sua maioria, os jovens são presos por, alegadamente, terem atirado pedras ou queimado pneus, mas, como sublinha a advogada Farah Bayadsi o objectivo das detenções «é mais para mostrar controlo do que para aplicar a lei». A experiência traumática é fundamentada por tudo aquilo por que as crianças passam durante uma detenção. Arrancadas de casa quando dormem, são algemadas e vendadas, levadas em veículos militares para colonatos e bases israelitas, passando por todo um processo que envolve intimidação, ameaças, agressões físicas, afastamento da família e pressão para «confessar». O nível de brutalidade varia. Khaled Mahmoud Selvi, preso quando tinha 15 anos, foi levado para a prisão e despido (o que, de acordo com o jornal, ocorre em 55% dos casos), tendo sido obrigado a permanecer dez minutos nu, em pé, durante o Inverno. De acordo com os dados recolhidos pela organização não governamental (ONG) British-Palestinian Military Court Watch, 97% dos jovens palestinianos detidos pelas forças militares israelitas (IDF) vivem em pequenas localidades a menos de dois quilómetros de um colonato. O advogado Gerard Horton, da ONG referida, afirma que a ideia é «assustar toda a aldeia» e que se trata de um «instrumento eficaz» para controlar uma comunidade. Acrescenta que, do ponto de vista dos ocupantes e opressores, a pressão «tem de ser constante»: «Cada geração tem de sentir a mão pesada das IDF.» A experiência é traumática. O pai de Khaled Shtaiwi, preso com 13 anos em Novembro do ano passado, contou ao periódico que criou na sua aldeia o «dia da psicologia», porque o seu filho não é capaz de falar sobre o que se passou e porque quer ajudar todas as crianças que foram presas pelos israelitas. Em Beit Ummar, Omar Ayyash foi preso com dez anos de idade, em Dezembro último. Agora, as crianças que brincam nas ruas da aldeia afastam-se assim que se apercebem da aproximação de soldados israelitas. Tornou-se um hábito desde que as tropas levaram Omar. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Por seu lado, a organização Defense for Children International – Palestine (DCIP) destacou que todos os anos entre 500 e 700 menores palestinianos são processados em tribunais militares israelitas e que 85% das crianças palestinianas detidas em 2020 foram «submetidas a violência física». Num comunicado, a DCIP afirma ter documentado 27 casos em que as crianças foram mantidas na solitária um ou dois dias, alegando as forças israelitas «objectivos de investigação». Esta prática é, segundo o organismo, uma forma de «tortura ou tratamento cruel, desumano e degradante». Desde Outubro de 2015, a DCIP registou a 36 ordens de detenção administrativa decretadas contra menores palestinianos, dois dos quais se mantêm nesse regime. Ainda de acordo com o organismo sediado em Genebra, em 2020, as forças israelitas mataram nove menores palestinianos na Cisjordânia ocupada, incluindo Jerusalém Oriental, e na Faixa de Gaza, seis dos quais com fogo real. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. O relatório divulgado este fim-de-semana informa que, entre os palestinianos detidos pelas forças israelitas, se incluem 854 menores e 107 mulheres, tendo sido emitidas na primeira metade do ano 680 ordens de detenção administrativa, incluindo 312 novas. No mês de Junho foram presos 615 palestinianos, revela o texto, destacando que Maio foi de longe o mês em que se registou um maior número de detenções na primeira metade deste ano. Então, mês de massacre contra Gaza e de múltiplas provocações sionistas no Complexo da Mesquita de al-Aqsa e em Jerusalém Oriental ocupada, as forças israelitas prenderam 3100 palestinianos, incluindo 2000 nos territórios ocupados em 1948 (actual Estado de Israel) e 677 em Jerusalém Oriental ocupada, informa a WAFA. De acordo com a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos, há actualmente nove presos em greve de fome nos cárceres israelitas como forma de protesto contra o regime de detenção administrativa que lhes foi aplicado. A Comissão pediu às instâncias internacionais e regionais de defesa dos direitos humanos que pressionem as autoridades israelitas no sentido de acabar com os maus-tratos aos presos em greve de fome, que passam também pela sua reclusão na solitária. Os presos palestinianos recorrem com frequência a esta forma de luta contra um regime de detenção ilegal, cujo fim exigem. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. De acordo com os grupos de defesa dos direitos dos prisioneiros palestinianos, há actualmente quase 550 nos cárceres israelitas detidos ao abrigo deste regime, que tem merecido ampla condenação internacional e que permite a Israel manter nas suas prisões, sem acusação ou julgamento, presos palestinianos por tempo indefinido, na medida em que o período de detenção, até seis meses, é infinitamente renovável. A detenção, que é decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta» – e é tão «secreta» que nem o advogado do detido tem direito a vê-la. Alguns prisioneiros palestinianos passaram mais de uma década nas cadeias israelitas ao abrigo deste regime de «detenção», que é considerado ilegal à luz do direito internacional. Como forma de protesto contra as suas detenções ilegais e para exigir que Israel ponha fim a esta prática, os presos palestinianos recorrem com frequência a greves de fome por tempo indeterminado. Apesar da pressão internacional e dos protestos dos prisioneiros, as autoridades israelitas não têm dado sinais de querer acabar com este regime. Pelo contrário, tanto a comissão referida como o Centro Palestiniano de Estudos sobre Prisioneiros têm dado conta de novas ordens de detenção administrativa e de múltiplas renovações. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Na maior parte dos casos, estavam presos ao abrigo do regime de detenção administrativa, como Hisham Abu Hawwash, de 40 anos, habitante da localidade de Dura (Cisjordânia ocupada) que se mantém há 140 dias em greve de fome e está numa situação considerada muito crítica. Nos últimos dias, as autoridades palestinianas alertaram para o estado de saúde crítico de Abu Hawwash, responsabilizaram Telavive por aquilo que lhe possa acontecer e pediram à comunidade internacional que pressione as autoridades israelitas para o libertarem. Também a Cruz Vermelha se mostrou preocupada com o caso, sublinhando a necessidade de tratar os reclusos com humanidade e de encontrar uma solução que evite «consequências irreversíveis» para Hawwash. De acordo com a SPP, este domingo cerca de 500 reclusos palestinianos presos em Israel ao abrigo do regime da detenção administrativa – criticado pela ONU – declararam o boicote aos tribunais israelitas, porque «sentem que os tribunais alinham sempre com o governo militar e as suas ordens, e não os tratam com imparcialidade». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. De acordo com a comissão, há actualmente mais de 760 presos nas cadeias israelitas sem acusação ou julgamento. A detenção, decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta», que nem o advogado do detido tem direito a ver. Cerca de 80% dos presos palestinianos neste regime são ex-presos que já passaram anos atrás das grades, revela a Wafa. Em comunicado, emitido há dias, o Ramo Penitenciário da Frente Popular para a Libertação da Palestina afirmou que «estes 30 prisioneiros, juntos, passaram quase 200 anos em detenção administrativa. Duzentos anos de cativeiro sem acusação ou julgamento por capricho dos oficiais de inteligência da ocupação». O texto, divulgado pela Samidoun (rede de solidariedade com os presos palestinianos), sublinha que se trata de uma «pena perpétua», uma vez que muitos presos são libertados durante alguns meses e são novamente detidos. «Temos um mês de liberdade por cada ano de detenção», afirmam. Dizem que são «alimentados pela dignidade» e querem que as autoridades israelitas saibam que, mesmo que os torturem e lhes provoquem dor, «que a nossa luta continua, e que semearemos alegria, vida e esperança, e que nossa luta pela liberdade e pela humanidade livre de tormentos não vai parar». Leila Khaled, membro do Comité Central da FPLP e símbolo da resistência palestiniana, anunciou uma greve de fome solidária com os presos, a quem saudou por estarem «na primeira linha do confronto a este inimigo criminoso fascista». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. De acordo com a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos, dos cerca de 4600 palestinianos actualmente presos nas cadeias israelitas, mais de 760 são reclusos sem acusação ou julgamento, cuja detenção pode ser infinitamente renovada por períodos até seis meses. A detenção, decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta», que nem o advogado do detido tem direito a ver. Após o início da greve de fome, Basil Mizher, outro advogado palestiniano detido sem acusação ou julgamento, viu ser-lhe renovada a detenção administrativa por mais três meses, no passado dia 28. Numa mensagem que Mizher escreveu no início do protesto, lida pela sua mãe numa acção solidária no campo de refugiados de Dheisheh, em Belém, o preso diz que a sua profissão é a de advogado, mas que mal se lembra dela, pois quase não a conseguiu exercer desde que se formou – foi submetido a três detenções administrativas desde que passou no exame. Em vez de ir trabalhar, foi para a prisão, lê-se no texto divulgado pela pela Samidoun (rede de solidariedade com os presos palestinianos). «Ou nos submetemos à opressão e à privação e aceitamos o roubo perpétuo da nossa liberdade e da nossa vida à vista do mundo, ou nos revoltamos contra a injustiça e derrubamos os muros do carcereiro com todas as ferramentas que temos», escreveu Basil Mizher a propósito da greve de fome, que é a «recusa da política de subordinação e domesticação». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Talahma, detido desde Março de 2022, é um advogado e antigo prisioneiro, que passou dois anos e meio nas cadeias israelitas. Abido é também um antigo prisioneiro, que passou cinco anos e meio nas prisões da ocupação – a maior parte do tempo ao abrigo do regime de detenção administrativa. Por seu lado, Dandis foi preso pela primeira vez a 23 de Março último, tendo-lhe sido imposta uma detenção administrativa por um período de seis meses. Este protesto ocorre num contexto em que Israel intensifica o recurso às detenções sem acusação ou julgamento. Segundo revelou a SPP, existem actualmente nas cadeias israelitas 1083 presos palestinianos a quem foi aplicado este regime de detenção, 17 dos quais são menores. O regime de detenção administrativa, que tem merecido ampla condenação internacional, permite a Israel manter nas suas prisões, sem acusação ou julgamento, presos palestinianos por tempo indefinido, na medida em que o período de detenção, até seis meses, é infinitamente renovável. O primeiro-ministro palestiniano, Mohammad Shtayyeh, responsabilizou Israel pelo «assassinato» de Khader Adnan, ao não atender ao protesto contra a sua detenção sem acusação ou julgamento. A Sociedade de Prisioneiros Palestinianos (SPP) afirmou, em comunicado, que Khader Adnan, de 44 anos, foi encontrado inconsciente esta madrugada na sua cela, tendo sido levado para um hospital, onde foi declarado morto. Adnan, natural da cidade de Arraba (perto de Jenin), foi preso 12 vezes ao longo da sua vida, tendo recorrido à greve de fome em diversas ocasiões para protestar contra as suas detenções sem qualquer acusação, afirmou a SPP, citada pela agência Wafa. A última detenção ocorreu a 5 de Fevereiro e Adnan entrou de imediato em greve de fome por tempo indeterminado, refere a fonte, acrescentando que pelo menos 236 presos palestinianos morreram desde 1967. Ao ter conhecimento da notícia, o primeiro-ministro palestiniano, Mohammad Shtayyeh, acusou Israel de ter cometido um assassinato. O número foi destacado pela Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) em conferência de imprensa. A maior parte encontra-se nos centros de detenção de Ofer e de Naqab (Neguev). O regime de detenção administrativa, que tem merecido ampla condenação internacional – até do Departamento de Estado norte-americano e da Amnistia Internacional –, permite a Israel manter nas suas prisões, sem acusação ou julgamento, presos palestinianos por tempo indefinido, na medida em que o período de detenção, até seis meses, é infinitamente renovável. Em relatórios anteriores, a SPP lembrou que esta política visa «esmagar os activistas políticos palestinianos» e se baseia num ficheiro secreto não acessível aos presos – nem sequer aos seus advogados. Os prisioneiros iniciaram uma greve de fome, há uma semana, para exigir a sua libertação e denunciar um regime de detenção que permite mantê-los na cadeia sem acusação ou julgamento. O protesto dos trinta presos palestinianos, membros e simpatizantes da Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP), completou uma semana sem solução aparente à vista, tendo em conta a inflexibilidade das autoridades de Telavive. Em comunicado, a Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) anunciou que os serviços prisionais israelitas têm estado a ameaçar com castigos os reclusos que lutam contra o regime de detenção administrativa. Entre as punições, contam-se privá-los de visitas, retirar-lhes os seus pertences e isolá-los em celas de castigo. Nesta primeira semana de protesto, os serviços prisionais israelitas colocaram 28 dos grevistas em quatro celas de isolamento na prisão de Ofer, informa a Wafa com base no documento divulgado pelo SPP. Um outro, o advogado Salah Hammouri, foi metido na solitária numa cadeia no Norte de Israel, enquanto Ghassan Zawahreh foi levado para uma cela de isolamento numa prisão localizada no Deserto do Neguev (al-Naqab). Os prisioneiros, em cadeias israelitas, iniciaram uma greve de fome por tempo indeterminado contra um regime que permite mantê-los detidos sem acusação ou julgamento, por períodos renováveis de seis meses. O início do protesto, este domingo, por parte de prisioneiros que são membros ou apoiantes da Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP), foi confirmado pela Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos. Em declarações à agência Wafa, Hassan Abed Rabbo, porta-voz da comissão, disse que os presos decidiram avançar contra uma política que permite a Israel manter nas suas prisões, sem acusação ou julgamento, presos palestinianos por tempo indefinido, na medida em que o período de detenção, até seis meses, é infinitamente renovável. Numa mensagem divulgada há alguns dias, os presos sublinharam que a luta contra o regime de detenção administrativa continua e denunciaram que as medidas tomadas pelas autoridades prisionais israelitas «já não se baseiam em obsessões de segurança, mas são actos de vingança devido ao seu passado». Qadri Abu Baker, líder da Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos, disse à Wafa que, na próxima quinta-feira, mais 50 presos se devem juntar à greve de fome, para denunciar o regime de detenção administrativa a que são submetidos e a escalada por parte de Israel no que respeita a este procedimento. O maior número de detenções administrativas – sem julgamento ou acusação – foi decretado em Maio, quando Israel lançou uma ofensiva de 11 dias contra a Faixa de Gaza. A Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) revelou, este domingo, que o número divulgado diz respeito tanto a novas ordens como à renovação de ordens já emitidas nos territórios ocupados, pelas autoridades israelitas. No documento apresentado, o organismo lembra que política de detenção administrativa visa «esmagar os activistas políticos palestinianos» e se baseia num ficheiro secreto não acessível aos presos – nem sequer aos seus advogados –, que são mantidos na cadeia sem acusação ou julgamento, informa a WAFA. O maior número de ordens de detenção administrativa foi emitido em Maio último, quando a Israel lançou uma ofensiva de 11 dias contra a Faixa de Gaza, explicou a organização de defesa dos presos, acrescentado que, ao longo do ano, 60 prisioneiros recorreram à greve de fome com o propósito de reconquistar a liberdade. Uma comissão de apoio aos prisioneiros revelou que 13 palestinianos permaneciam em greve de fome nas cadeias, este domingo, contra o regime que permite mantê-los reclusos sem acusação ou julgamento. Num comunicado ontem emitido, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos informou que o prisioneiro Salem Ziadat, de 40 anos, é, dos 13 que continuavam o protesto, aquele que está em greve de fome há mais tempo, permanecendo em jejum há 28 dias contra a sua detenção administrativa, sem acusação ou julgamento, revelou a agência WAFA. A Comissão informou ainda que o número de reclusos palestinianos em greve de fome até ontem era de 15, mas que Mohammad Khaled Abusill e Ahmad Abdulrahman Abusill tinham chegado a um acordo com o Serviço Prisional Israelita no que respeita à «limitação» da chamada detenção administrativa. Grupos de defesa dos presos apresentaram um relatório sobre o primeiro semestre de 2021. Nas cadeias israelitas, há actualmente 4850 palestinianos, 540 dos quais ao abrigo da «detenção administrativa». Entre os palestinianos que se encontram nos cárceres de Israel, contam-se 43 mulheres e 225 menores, segundo o documento conjunto divulgado este fim-de-semana pela Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos, a Sociedade dos Presos Palestinianos, a Addameer e o Centro de Informação Wadi Hilweh. Os organismos referidos precisaram que 12 presos são membros do Conselho Legislativo Palestiniano (Parlamento), 70 são provenientes dos territórios ocupados em 1948, 350 são originários de Jerusalém ocupada e 240 da Faixa de Gaza cercada. O informe destaca a existência de 540 prisioneiros palestinianos em detenção administrativa, sem acusação formada ou julgamento, por períodos de seis meses indefinidamente renováveis. No que respeita a detenções, os organismos de defesa dos presos revelaram que Israel prendeu 5426 palestinianos entre 1 de Janeiro e 30 de Junho deste ano – um número superior a todas as detenções efectuadas pelas forças israelitas em 2020 e registadas por estas organizações: 4636. Por ocasião do Dia da Criança Palestiniana, que se assinala a 5 de Abril, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos revelou também que 140 menores permanecem em cadeias israelitas. Os menores palestinianos, alguns dos quais crianças, continuam a ser alvo das forças militares israelitas, que os prendem, muitas vezes de forma violenta, nos territórios ocupados. De acordo com um relatório publicado este domingo pela Sociedade dos Prisioneiros Palestinianos, pelo menos 230 foram detidos desde o início do ano, a maioria dos quais em Jerusalém Oriental ocupada. O grupo de defesa dos direitos dos presos sublinhou que «as crianças encarceradas são submetidas a vários tipos de abusos, incluindo «a recusa de comida e de bebida por longas horas, abuso verbal e a detenção em condições duras». O informe veio a lume na véspera do Dia da Criança Palestiniana, que se assinala a 5 de Abril, com actividades culturais, educativas e mediáticas que, refere a PressTV, visam reforçar a consciência sobre o sofrimento dos menores palestinianos. Também no âmbito do Dia da Criança Palestiniana, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos revelou que 140 menores permanecem em cadeias israelitas, incluindo dois que se encontram presos ao abrigo do regime de detenção administrativa. Uma comissão da ONU reafirmou denúncias expostas em vários relatórios sobre detenções de menores palestinianos por Israel – quase sempre presos de noite, algemados e vendados. É o início da «viagem ao inferno». A instância, composta por especialistas independentes das Nações Unidas, expressou particular preocupação pela expansão dos colonatos e o aumento da violência dos colonos israelitas, em que se incluem ataques a crianças e às suas escolas. Segundo se pode ler no portal oficial de notícias da ONU, na semana passada diversas organizações informaram a comissão sobre as operações nocturnas levadas a efeito pelas forças israelitas com o propósito de deter crianças e adolescentes na Cisjordânia ocupada, com «graves consequências para o seu bem-estar e gozo dos seus direitos». «Mais de 300 crianças estão detidas no sistema militar israelita. A maioria por delitos menores, como atirar pedras e publicações nas redes sociais», assinala a comissão, que denuncia o facto de os menores serem «levados para locais desconhecidos, presos em viaturas militares e sujeitos a ameaças e abusos verbais», bem como o facto de, por vezes, serem «obrigados a assinar confissões em hebraico, uma língua que não costumam entender». Estas preocupações reafirmam as que têm sido veiculadas, ao longo do tempo, por várias entidades, nomeadamente a Comissão dos Prisioneiros Palestinianos, órgão dependente da Autoridade Palestiniana que, em diversas ocasiões (também este ano), alertou para o facto de os menores serem torturados e sofrerem abusos nos cárceres israelitas, bem como para o facto de serem espancados, insultados e pressionados no momento da detenção. No final de Março, um relatório publicado pelo Ministério palestiniano da Informação denunciava também esta realidade, afirmando que «95% das crianças palestinianas presas pelas autoridades israelitas foram torturadas durante a detenção». De acordo com o relatório, até 2015 foram documentadas anualmente 700 detenções de menores palestinianos. Já em 2017, Israel prendeu 1467 crianças e adolescentes; 1063 no ano seguinte e, nos dois primeiros dois meses deste ano, 118. Entre 2000 e 2018, foram presos mais de 16 mil menores. Numa peça intitulada «“Endless Trip to Hell”: Israel Jails Hundreds of Palestinian Boys a Year. These Are Their Testimonies», publicada em Março e plenamente actual, o periódico israelita Haaretz aborda esta realidade, em que as crianças, algumas com idades inferiores a 13 anos, «são detidas pela calada da noite, vendadas e algemadas, alvo de abusos e constrangidas» a confessar «crimes» que não cometeram. A peça, que reúne testemunhos de sete jovens da Margem Ocidental ocupada com idades compreendidas entre os dez e os 15 anos, revela as diversas fases do processo de detenção, que começa nas operações nocturnas e passa pelo interrogatório, a prisão, o julgamento e a proposta de um acordo. Na sua maioria, os jovens são presos por, alegadamente, terem atirado pedras ou queimado pneus, mas, como sublinha a advogada Farah Bayadsi o objectivo das detenções «é mais para mostrar controlo do que para aplicar a lei». A experiência traumática é fundamentada por tudo aquilo por que as crianças passam durante uma detenção. Arrancadas de casa quando dormem, são algemadas e vendadas, levadas em veículos militares para colonatos e bases israelitas, passando por todo um processo que envolve intimidação, ameaças, agressões físicas, afastamento da família e pressão para «confessar». O nível de brutalidade varia. Khaled Mahmoud Selvi, preso quando tinha 15 anos, foi levado para a prisão e despido (o que, de acordo com o jornal, ocorre em 55% dos casos), tendo sido obrigado a permanecer dez minutos nu, em pé, durante o Inverno. De acordo com os dados recolhidos pela organização não governamental (ONG) British-Palestinian Military Court Watch, 97% dos jovens palestinianos detidos pelas forças militares israelitas (IDF) vivem em pequenas localidades a menos de dois quilómetros de um colonato. O advogado Gerard Horton, da ONG referida, afirma que a ideia é «assustar toda a aldeia» e que se trata de um «instrumento eficaz» para controlar uma comunidade. Acrescenta que, do ponto de vista dos ocupantes e opressores, a pressão «tem de ser constante»: «Cada geração tem de sentir a mão pesada das IDF.» A experiência é traumática. O pai de Khaled Shtaiwi, preso com 13 anos em Novembro do ano passado, contou ao periódico que criou na sua aldeia o «dia da psicologia», porque o seu filho não é capaz de falar sobre o que se passou e porque quer ajudar todas as crianças que foram presas pelos israelitas. Em Beit Ummar, Omar Ayyash foi preso com dez anos de idade, em Dezembro último. Agora, as crianças que brincam nas ruas da aldeia afastam-se assim que se apercebem da aproximação de soldados israelitas. Tornou-se um hábito desde que as tropas levaram Omar. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Por seu lado, a organização Defense for Children International – Palestine (DCIP) destacou que todos os anos entre 500 e 700 menores palestinianos são processados em tribunais militares israelitas e que 85% das crianças palestinianas detidas em 2020 foram «submetidas a violência física». Num comunicado, a DCIP afirma ter documentado 27 casos em que as crianças foram mantidas na solitária um ou dois dias, alegando as forças israelitas «objectivos de investigação». Esta prática é, segundo o organismo, uma forma de «tortura ou tratamento cruel, desumano e degradante». Desde Outubro de 2015, a DCIP registou a 36 ordens de detenção administrativa decretadas contra menores palestinianos, dois dos quais se mantêm nesse regime. Ainda de acordo com o organismo sediado em Genebra, em 2020, as forças israelitas mataram nove menores palestinianos na Cisjordânia ocupada, incluindo Jerusalém Oriental, e na Faixa de Gaza, seis dos quais com fogo real. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. O relatório divulgado este fim-de-semana informa que, entre os palestinianos detidos pelas forças israelitas, se incluem 854 menores e 107 mulheres, tendo sido emitidas na primeira metade do ano 680 ordens de detenção administrativa, incluindo 312 novas. No mês de Junho foram presos 615 palestinianos, revela o texto, destacando que Maio foi de longe o mês em que se registou um maior número de detenções na primeira metade deste ano. Então, mês de massacre contra Gaza e de múltiplas provocações sionistas no Complexo da Mesquita de al-Aqsa e em Jerusalém Oriental ocupada, as forças israelitas prenderam 3100 palestinianos, incluindo 2000 nos territórios ocupados em 1948 (actual Estado de Israel) e 677 em Jerusalém Oriental ocupada, informa a WAFA. De acordo com a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos, há actualmente nove presos em greve de fome nos cárceres israelitas como forma de protesto contra o regime de detenção administrativa que lhes foi aplicado. A Comissão pediu às instâncias internacionais e regionais de defesa dos direitos humanos que pressionem as autoridades israelitas no sentido de acabar com os maus-tratos aos presos em greve de fome, que passam também pela sua reclusão na solitária. Os presos palestinianos recorrem com frequência a esta forma de luta contra um regime de detenção ilegal, cujo fim exigem. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. De acordo com os grupos de defesa dos direitos dos prisioneiros palestinianos, há actualmente quase 550 nos cárceres israelitas detidos ao abrigo deste regime, que tem merecido ampla condenação internacional e que permite a Israel manter nas suas prisões, sem acusação ou julgamento, presos palestinianos por tempo indefinido, na medida em que o período de detenção, até seis meses, é infinitamente renovável. A detenção, que é decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta» – e é tão «secreta» que nem o advogado do detido tem direito a vê-la. Alguns prisioneiros palestinianos passaram mais de uma década nas cadeias israelitas ao abrigo deste regime de «detenção», que é considerado ilegal à luz do direito internacional. Como forma de protesto contra as suas detenções ilegais e para exigir que Israel ponha fim a esta prática, os presos palestinianos recorrem com frequência a greves de fome por tempo indeterminado. Apesar da pressão internacional e dos protestos dos prisioneiros, as autoridades israelitas não têm dado sinais de querer acabar com este regime. Pelo contrário, tanto a comissão referida como o Centro Palestiniano de Estudos sobre Prisioneiros têm dado conta de novas ordens de detenção administrativa e de múltiplas renovações. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Na maior parte dos casos, estavam presos ao abrigo do regime de detenção administrativa, como Hisham Abu Hawwash, de 40 anos, habitante da localidade de Dura (Cisjordânia ocupada) que se mantém há 140 dias em greve de fome e está numa situação considerada muito crítica. Nos últimos dias, as autoridades palestinianas alertaram para o estado de saúde crítico de Abu Hawwash, responsabilizaram Telavive por aquilo que lhe possa acontecer e pediram à comunidade internacional que pressione as autoridades israelitas para o libertarem. Também a Cruz Vermelha se mostrou preocupada com o caso, sublinhando a necessidade de tratar os reclusos com humanidade e de encontrar uma solução que evite «consequências irreversíveis» para Hawwash. De acordo com a SPP, este domingo cerca de 500 reclusos palestinianos presos em Israel ao abrigo do regime da detenção administrativa – criticado pela ONU – declararam o boicote aos tribunais israelitas, porque «sentem que os tribunais alinham sempre com o governo militar e as suas ordens, e não os tratam com imparcialidade». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. De acordo com a comissão, há actualmente mais de 760 presos nas cadeias israelitas sem acusação ou julgamento. A detenção, decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta», que nem o advogado do detido tem direito a ver. Cerca de 80% dos presos palestinianos neste regime são ex-presos que já passaram anos atrás das grades, revela a Wafa. Em comunicado, emitido há dias, o Ramo Penitenciário da Frente Popular para a Libertação da Palestina afirmou que «estes 30 prisioneiros, juntos, passaram quase 200 anos em detenção administrativa. Duzentos anos de cativeiro sem acusação ou julgamento por capricho dos oficiais de inteligência da ocupação». O texto, divulgado pela Samidoun (rede de solidariedade com os presos palestinianos), sublinha que se trata de uma «pena perpétua», uma vez que muitos presos são libertados durante alguns meses e são novamente detidos. «Temos um mês de liberdade por cada ano de detenção», afirmam. Dizem que são «alimentados pela dignidade» e querem que as autoridades israelitas saibam que, mesmo que os torturem e lhes provoquem dor, «que a nossa luta continua, e que semearemos alegria, vida e esperança, e que nossa luta pela liberdade e pela humanidade livre de tormentos não vai parar». Leila Khaled, membro do Comité Central da FPLP e símbolo da resistência palestiniana, anunciou uma greve de fome solidária com os presos, a quem saudou por estarem «na primeira linha do confronto a este inimigo criminoso fascista». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. De acordo com a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos, dos cerca de 4600 palestinianos actualmente presos nas cadeias israelitas, mais de 760 são reclusos sem acusação ou julgamento, cuja detenção pode ser infinitamente renovada por períodos até seis meses. A detenção, decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta», que nem o advogado do detido tem direito a ver. Após o início da greve de fome, Basil Mizher, outro advogado palestiniano detido sem acusação ou julgamento, viu ser-lhe renovada a detenção administrativa por mais três meses, no passado dia 28. Numa mensagem que Mizher escreveu no início do protesto, lida pela sua mãe numa acção solidária no campo de refugiados de Dheisheh, em Belém, o preso diz que a sua profissão é a de advogado, mas que mal se lembra dela, pois quase não a conseguiu exercer desde que se formou – foi submetido a três detenções administrativas desde que passou no exame. Em vez de ir trabalhar, foi para a prisão, lê-se no texto divulgado pela pela Samidoun (rede de solidariedade com os presos palestinianos). «Ou nos submetemos à opressão e à privação e aceitamos o roubo perpétuo da nossa liberdade e da nossa vida à vista do mundo, ou nos revoltamos contra a injustiça e derrubamos os muros do carcereiro com todas as ferramentas que temos», escreveu Basil Mizher a propósito da greve de fome, que é a «recusa da política de subordinação e domesticação». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Alguns prisioneiros palestinianos passaram mais de uma década nas cadeias israelitas ao abrigo deste sistema, e é comum os presos recorrerem a greves de fome por tempo indeterminado como forma de chamar a atenção para os seus casos e fazer pressão junto das autoridades israelitas para que os libertem. Agora, a SPP revelou também que, dos 835 palestinianos actualmente presos ao abrigo deste regime, 80 são mulheres, indica a agência Wafa. Além disso, a organização não governamental (ONG) informou que, ao longo de 2022, as autoridades israelitas emitiram 2134 ordens de detenção administrativa, 242 das quais em Novembro (o ano passado foram 1595). Desde o início de 2022 até ao fim de Novembro, as forças israelitas prenderam 6500 palestinianos, revelou a SPP, citada pela agência turca Anadolu. Entre os detidos, contavam-se 153 mulheres e 811 menores de idade acrescentou. As forças de ocupação israelitas detiveram 5300 palestinianos desde o princípio deste ano, incluindo 111 mulheres e 620 menores de idade, revelou esta segunda-feira uma organização não governamental. Em comunicado, a Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) afirmou que, com 2353 detenções registadas, Jerusalém Oriental ocupada se situa no primeiro lugar por regiões, e que Abril foi o mês com maior número de detenções (1228 casos), noticia a agência Wafa. A SPP condenou os ataques e raides israelitas contra cidades, aldeias e campos de refugiados na Cisjordânia ocupada para prender activistas, referindo que muitos palestinianos foram mortos, nesse processo, pelas balas do Exército. Neste contexto, o número de execuções extrajudiciais no terreno, em 2022, é mais elevado por comparação com anos anteriores, alertou a SPP, que também questionou os bloqueios militares a localidades e campos de refugiados palestinianos, classificando-os como uma punição colectiva. No que respeita às detenções administrativas, a organização afirmou que este ano, até à data, foram emitidas 1160. Só no mês de Agosto, foram decretadas 272, pelo que, no final de Setembro, havia cerca de 800 palestinianos nas prisões israelitas detidos sem acusação ou julgamento. Ao abrigo deste regime, os períodos de detenção podem ser infinitamente renovados por períodos até seis meses. A detenção, decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta», que nem o advogado do detido tem direito a ver. De forma reiterada, os presos palestinianos detidos sob este regime iniciam greves de fome para denunciar os seus casos e a política de detenção administrativa, exigindo a sua libertação. Diversas instâncias das Nações Unidas têm denunciado repetidamente este regime israelita de detenção, na medida em que não faculta aos detidos palestinianos as «salvaguardas jurídicas básicas» e violam o direito internacional humanitário. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Só no mês de Novembro, foram detidos 490 palestinianos, incluindo 76 menores e 12 mulheres, informaram, num relatório conjunto, a SPP, a Addameer, o Centro de Informação Wadi Hilweh e a Comissão dos Assuntos dos Presos e Ex-Presos Palestinianos. No relatório mensal a que o Middle East Monitor faz referência, as quatro organizações de defesa dos direitos presos afirmaram que, no mês passado, o maior número de detenções ocorreu em Hebron (al-Khalil; 135 casos), seguida por Jerusalém (123), Ramallah (52), Jenin e Nablus. De acordo com os grupos, há actualmente nas cadeias israelitas cerca de 4700 palestinianos presos, incluindo 34 mulheres e 150 menores. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. «A ocupação israelita e a sua administração prisional levaram a cabo o assassinato deliberado do preso Khader Adnan ao rejeitar o seu pedido de libertação, ao negligenciá-lo medicamente e ao mantê-lo na sua cela apesar da gravidade do seu estado de saúde», afirmou Shtayyeh em comunicado. Várias facções palestinianas pronunciaram-se no mesmo sentido, responsabilizando Israel pela morte de Khader Adnan e sublinhando o crime «premeditado e a sangue-frio». Por seu lado, o Ministério palestiniano dos Negócios Estrangeiros pediu uma investigação internacional sobre a morte do prisioneiro e instou o Tribunal Penal Internacional a incluir este caso no processo relativo aos crimes de guerra cometidos por Israel contra o povo palestiniano nos territórios ocupados. Para denunciar «o crime que levou à morte» de Khader Adnan numa prisão israelita, foi declarada, esta terça-feira, uma greve geral que «afecta todos os aspectos da vida», tanto na Faixa de Gaza cercada como na Margem Ocidental ocupada, incluindo Jerusalém Oriental, indica a Wafa. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Em relatórios anteriores, a SPP lembrou que esta política visa «esmagar os activistas políticos palestinianos» e se baseia num ficheiro secreto não acessível aos presos – nem sequer aos seus advogados. Alguns prisioneiros palestinianos passaram mais de uma década nas cadeias israelitas ao abrigo deste sistema, e é comum os presos recorrerem a greves de fome por tempo indeterminado como forma de chamar a atenção para os seus casos e fazer pressão junto das autoridades israelitas para que os libertem. A 2 de Maio último, Khader Adnan, de 44 anos, morreu na cadeia, quase três meses depois de ter iniciado uma greve de fome contra a sua detenção sem acusação ou julgamento. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Num comunicado de imprensa, que a Wafa cita, a Comissão exigiu «acção real e tangível, no sentido de formar um comité internacional de direitos humanos que vá imediatamente às prisões da ocupação israelita, analise o crime [de detenção administrativa] em todos os seus detalhes e observe de perto o sofrimento dos detidos administrativos, que estão presos sem quaisquer acusações ou julgamentos, e vivem à mercê dos chamados oficiais dos serviços de inteligência israelitas». «Os abusos imorais e desumanos associados à utilização desta política pela potência ocupante violam todos os princípios do direito internacional e da humanidade, e estão em contradição real com os teóricos da democracia e aqueles que afirmam ser democráticos em todo o mundo, especialmente na América e na Europa», acrescenta a nota. De acordo com os dados divulgados em Junho último pela organização israelita de defesa dos direitos B'Tselem, em Março deste ano, Israel mantinha nas suas prisões 1017 pessoas em regime de detenção administrativa. É preciso recuar duas décadas, até Abril de 2003, para encontrar um número mais elevado de detidos administrativos nas prisões israelitas – 1140 –, referiu a organização. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. «De acordo com a lei militar que se aplica na Cisjordânia, uma pessoa pode ser detida administrativamente durante seis meses, mas a ordem pode ser renovada, pelo que a reclusão na prática é indefinida e os detidos nunca sabem quando serão libertados», alertou a B'Tselem, outra organização israelita de defesa dos direitos humanos nos territórios ocupados. De forma sistemática, presos administrativos entram em greve de fome por tempo indeterminado para chamar a atenção para os seus casos e forçar a sua libertação. Em meados de Agosto, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos pediu à chamada comunidade internacional que quebre o silêncio em torno do «crime israelita da detenção administrativa». Num comunicado de imprensa, divulgado pela Wafa, a Comissão exigiu «acção real e tangível, no sentido de formar um comité internacional de direitos humanos que vá imediatamente às prisões da ocupação israelita, analise o crime [de detenção administrativa] em todos os seus detalhes e observe de perto o sofrimento dos detidos administrativos, que estão presos sem quaisquer acusações ou julgamentos, e vivem à mercê dos chamados oficiais dos serviços de inteligência israelitas». «Os abusos imorais e desumanos associados à utilização desta política pela potência ocupante violam todos os princípios do direito internacional e da humanidade, e estão em contradição real com os teóricos da democracia e aqueles que afirmam ser democráticos em todo o mundo, especialmente na América e na Europa», afirmou o organismo. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Desde 28 de Setembro de 2000 até à data, refere a Comissão, foram detidas mais de 2600 raparigas e mulheres, incluindo quatro que deram à luz na cadeia. No mesmo período, foram emitidas 32 mil ordens de detenção administrativa, a que Israel recorre para manter reclusos nas cadeias sem acusação nem julgamento, com base numa «prova secreta» que nem o advogado do detido pode ver. A Comissão registou um aumento «assinalável» no recurso a este regime, amplamente condenado a nível internacional, contra o qual os presos palestinianos protestam, de forma reiterada, entrando em greve de fome por tempo indeterminado, para exigir a sua libertação e o fim da aplicação da política de detenção referida. «De acordo com a lei militar que se aplica na Cisjordânia, uma pessoa pode ser detida administrativamente durante seis meses, mas a ordem pode ser renovada, pelo que a reclusão na prática é indefinida e os detidos nunca sabem quando serão libertados», alertou recentemente a B'Tselem, uma organização israelita de defesa dos direitos humanos nos territórios ocupados. Uma comissão da ONU reafirmou denúncias expostas em vários relatórios sobre detenções de menores palestinianos por Israel – quase sempre presos de noite, algemados e vendados. É o início da «viagem ao inferno». A instância, composta por especialistas independentes das Nações Unidas, expressou particular preocupação pela expansão dos colonatos e o aumento da violência dos colonos israelitas, em que se incluem ataques a crianças e às suas escolas. Segundo se pode ler no portal oficial de notícias da ONU, na semana passada diversas organizações informaram a comissão sobre as operações nocturnas levadas a efeito pelas forças israelitas com o propósito de deter crianças e adolescentes na Cisjordânia ocupada, com «graves consequências para o seu bem-estar e gozo dos seus direitos». «Mais de 300 crianças estão detidas no sistema militar israelita. A maioria por delitos menores, como atirar pedras e publicações nas redes sociais», assinala a comissão, que denuncia o facto de os menores serem «levados para locais desconhecidos, presos em viaturas militares e sujeitos a ameaças e abusos verbais», bem como o facto de, por vezes, serem «obrigados a assinar confissões em hebraico, uma língua que não costumam entender». Estas preocupações reafirmam as que têm sido veiculadas, ao longo do tempo, por várias entidades, nomeadamente a Comissão dos Prisioneiros Palestinianos, órgão dependente da Autoridade Palestiniana que, em diversas ocasiões (também este ano), alertou para o facto de os menores serem torturados e sofrerem abusos nos cárceres israelitas, bem como para o facto de serem espancados, insultados e pressionados no momento da detenção. No final de Março, um relatório publicado pelo Ministério palestiniano da Informação denunciava também esta realidade, afirmando que «95% das crianças palestinianas presas pelas autoridades israelitas foram torturadas durante a detenção». De acordo com o relatório, até 2015 foram documentadas anualmente 700 detenções de menores palestinianos. Já em 2017, Israel prendeu 1467 crianças e adolescentes; 1063 no ano seguinte e, nos dois primeiros dois meses deste ano, 118. Entre 2000 e 2018, foram presos mais de 16 mil menores. Numa peça intitulada «“Endless Trip to Hell”: Israel Jails Hundreds of Palestinian Boys a Year. These Are Their Testimonies», publicada em Março e plenamente actual, o periódico israelita Haaretz aborda esta realidade, em que as crianças, algumas com idades inferiores a 13 anos, «são detidas pela calada da noite, vendadas e algemadas, alvo de abusos e constrangidas» a confessar «crimes» que não cometeram. A peça, que reúne testemunhos de sete jovens da Margem Ocidental ocupada com idades compreendidas entre os dez e os 15 anos, revela as diversas fases do processo de detenção, que começa nas operações nocturnas e passa pelo interrogatório, a prisão, o julgamento e a proposta de um acordo. Na sua maioria, os jovens são presos por, alegadamente, terem atirado pedras ou queimado pneus, mas, como sublinha a advogada Farah Bayadsi o objectivo das detenções «é mais para mostrar controlo do que para aplicar a lei». A experiência traumática é fundamentada por tudo aquilo por que as crianças passam durante uma detenção. Arrancadas de casa quando dormem, são algemadas e vendadas, levadas em veículos militares para colonatos e bases israelitas, passando por todo um processo que envolve intimidação, ameaças, agressões físicas, afastamento da família e pressão para «confessar». O nível de brutalidade varia. Khaled Mahmoud Selvi, preso quando tinha 15 anos, foi levado para a prisão e despido (o que, de acordo com o jornal, ocorre em 55% dos casos), tendo sido obrigado a permanecer dez minutos nu, em pé, durante o Inverno. De acordo com os dados recolhidos pela organização não governamental (ONG) British-Palestinian Military Court Watch, 97% dos jovens palestinianos detidos pelas forças militares israelitas (IDF) vivem em pequenas localidades a menos de dois quilómetros de um colonato. O advogado Gerard Horton, da ONG referida, afirma que a ideia é «assustar toda a aldeia» e que se trata de um «instrumento eficaz» para controlar uma comunidade. Acrescenta que, do ponto de vista dos ocupantes e opressores, a pressão «tem de ser constante»: «Cada geração tem de sentir a mão pesada das IDF.» A experiência é traumática. O pai de Khaled Shtaiwi, preso com 13 anos em Novembro do ano passado, contou ao periódico que criou na sua aldeia o «dia da psicologia», porque o seu filho não é capaz de falar sobre o que se passou e porque quer ajudar todas as crianças que foram presas pelos israelitas. Em Beit Ummar, Omar Ayyash foi preso com dez anos de idade, em Dezembro último. Agora, as crianças que brincam nas ruas da aldeia afastam-se assim que se apercebem da aproximação de soldados israelitas. Tornou-se um hábito desde que as tropas levaram Omar. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. No relatório agora publicado, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos refere-se ainda ao recurso à tortura nos cárceres israelitas, bem como aos assassinatos e às «execuções lentas» por falta de cuidados médicos. Denuncia igualmente a «escalada de casos de opressão, abuso e incitação racista» contra os presos palestinianos. De acordo com o organismo, estão actualmente detidos em cadeias israelitas, nos territórios ocupados em 1948, cerca de 5200 palestinianos. Destes, 38 são mulheres e 170 são menores de idade. Há ainda mais de 1250 presos palestinianos em regime de detenção administrativa e 700 reclusos doentes, 24 dos quais com enfermidades oncológicas. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Num comunicado posterior, as Brigadas al-Qassam afirmaram ter capturado «mais de 35 soldados e civis israelitas do colonato sionista de Sderot». A operação desta manhã apanhou de surpresa o Exército da ocupação, o que está a valer múltiplas críticas ao governo de Netanyahu, em Israel. Entretanto, foi declarado o «estado de preparação para a guerra» entre as forças militares israelitas, e o ministro da Defesa, que aprovou o recrutamento de soldados na reserva, declarou o estado de emergência numa faixa de 80 quilómetros em redor da Faixa de Gaza. A agência Wafa já deu conta de bombardeamentos israelitas contra o enclave costeiro nas últimas horas, dos quais resultaram vários mortos. A mesma fonte refere que o Ministério palestiniano da Saúde colocou todas as unidades hospitalares do país em situação de emergência. De acordo com as autoridades de saúde no enclave costeiro, pelo menos 198 pessoas morreram e mais de 1600 ficaram feridas (muitas das quais em estado grave) como consequência dos bombardeamentos israelitas contra a Faixa e Gaza ao longo do dia, refere a Wafa, em retaliação contra o ataque da resistência palestiniana, esta manhã. Por seu lado, a agência Prensa Latina refere-se à morte de uma centena de israelitas e cerca de 900 feridos, no contexto da operação de grande escala da resistência palestiniana, que ocupou diversas localidades e bases militares da ocupação próximas do enclave cercado. Entretanto, a Wafa dá conta de vários ataques da parte de colonos e forças israelitas contra diversas localidades e bairros palestinianos na Cisjordânia e Jerusalém ocupadas, dos quais resultaram pelo menos um morto e um número indeterminado de feridos. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Israel retaliou com a «Operação Espadas de Ferro», com ataques aéreos sobre a Faixa de Gaza sitiada e, de acordo com a última contagem do Ministério da Saúde palestiniano, 313 habitantes de Gaza morreram na ofensiva, incluindo 20 crianças, enquanto outros 1990 palestinianos ficaram feridos no enclave. Do lado israelita, foram confirmadas até à manhã de hoje cerca de 300 pessoas mortas e 1864 feridas, das quais 19 estão em estado crítico, 326 em estado grave e as restantes em estado moderado ou ligeiro. No ano em que se assinalam os 75 anos da Nakba (catástrofe), «mais de cinco décadas depois de Israel ocupar militarmente a totalidade do território da Palestina histórica», o MPPM lembra que a campanha de limpeza étnica que acompanhou a formação de Israel se prolonga até hoje. «Em Gaza, de onde partiu esta acção, vivem cerca de 2,2 milhões de pessoas, descendentes dessas sucessivas vagas de limpeza étnica», alerta o movimento. Apesar de as Nações Unidas o considerarem «impróprio para sustentar a vida humana», desde 2006 que o Estado israelita impõe um «bloqueio criminoso» sobre aquele território. Uma ONG palestiniana e outra israelita acusam Israel de ter trabalhado para «branquear a verdade» sobre os crimes cometidos pelas suas tropas durante os protestos da Grande Marcha do Retorno, em Gaza. Num relatório conjunto, o Centro Palestiniano para os Direitos Humanos (PCHR), sediado em Gaza, e a organização israelita B'Tselem analisam as investigações que Israel diz ter levado a cabo na sequência da repressão exercida pelas forças israelitas sobre os manifestantes que, na Faixa de Gaza, reclamaram o direito de regresso dos refugiados a suas casas. Os protestos conhecidos como Grande Marcha do Retorno começaram a 30 de Março de 2018 e prolongaram-se por mais de um ano e meio. Pelo menos 200 palestinianos foram mortos e 13 500 ficaram feridos – seguindo os números por baixo, uma vez que outras fontes apontam para mais de 300 mortos e cerca de 18 mil feridos, várias dezenas dos quais menores. O vento e a chuva forte que se abateram esta semana sobre Gaza não impediram centenas de manifestantes de participarem, na sexta-feira, na última manifestação de 2019 da Grande Marcha do Retorno. Dezenas de palestinianos foram feridos esta sexta-feira pelas forças israelitas na Faixa de Gaza, quando participavam na 86.ª manifestação da Grande Marcha do Retorno, perto da vedação com que Israel isola o território palestino, segundo o Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente (MPPM). Vários dos participantes nas manifestações, segundo o MPPM, foram feridos por balas reais e revestidas de borracha, enquanto dezenas de outros sofreram de asfixia por efeito do gás lacrimogéneo disparado pelas forças de ocupação. Centenas de manifestantes participaram nos protestos apesar das adversas condições climatéricas. A Faixa de Gaza tem sido batida por vento e chuva forte na última semana, com as inundações a porem em risco cerca de 235 mil pessoas nas áreas mais baixas da Faixa de Gaza, segundo um relatório do Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA) no território palestiniano ocupado. A 30 de Março os palestinianos comemoram o Dia da Terra. Nesse dia, em 1976, no Norte de Israel, foram assassinados seis palestinianos que protestavam contra a expropriação de terras para dar lugar a aldeamentos judaicos. Cerca de 100 outras pessoas ficaram feridas e centenas foram presas durante a greve geral e as grandes manifestações de protesto que, no mesmo dia, ocorreram no território do Estado de Israel. A 30 de Março de 2018 a comemoração atingiu uma dimensão inusitada, ao tornar a celebração deste dia como o primeiro de uma «Grande Marcha do Retorno», uma reclamação do direito de regresso dos refugiados aos seus lares – tal como prescreve a resolução 194 das Nações Unidas – à Palestina histórica, de onde mais de 700 mil pessoas foram expulsas pelas tropas israelitas em 1948, durante a chamada «catástrofe» («Nakba», em árabe). Desde então o protesto repete-se semanalmente, violentamente reprimido pelas forças israelitas, incluindo com o recurso a snipers e fogo real directo. Como resultado, pelo menos 348 palestinos foram mortos em Gaza por fogo israelita desde o início das marchas, a maioria deles durante as manifestações, segundo uma contagem da AFP citada pelo MPPM. Para além disso, o Ministério da Saúde de Gaza regista mais de 18 mil feridos pelas forças repressivas sionistas. Entre as baixas contam-se crianças, mulheres, muitos adolescentes, jornalistas e trabalhadores dos serviços de saúde que tentam socorrer os manifestantes. Em Março, uma missão de averiguação da ONU concluiu que as forças israelitas cometeram violações de direitos humanos na repressão dos manifestantes em Gaza, o que pode constituir crimes de guerra. Os organizadores da Grande Marcha do Retorno anunciaram nesta quinta-feira que os protestos seriam suspensos até Março de 2020, altura em que serão retomados, coincidindo com o seu segundo aniversário e também com o Dia da Terra palestina (30 de Março). A partir daí realizar-se-ão a um ritmo mensal. Além do bloqueio a que sujeita a Faixa de Gaza, na última década Israel lançou três guerras de agressão contra o pequeno território palestino e dezenas de ataques de escala mais limitada, matando milhares de pessoas e causando enormes destruições de casas e infra-estruturas. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. As duas organizações não governamentais (ONG) acusam Israel de proteger os responsáveis políticos e militares, «em vez de tomar medidas contra as pessoas que conceberam e implementaram a política ilegal de atirar a matar». Israel foi célere a anunciar que estava a investigar os protestos, sobretudo devido aos procedimentos em curso no Tribunal Penal Internacional (TPI), afirmaram as organizações numa conferência de imprensa, a que a agência WAFA faz referência. Isso deve-se ao princípio da complementaridade do TPI, ou seja, se um Estado «estiver disposto e tiver capacidade» para realizar a investigação e a efectuar, o TPI não intervém. No entanto, não basta declarar que uma investigação está a ser feita; ela tem de ser eficaz, dirigida às altas patentes responsáveis e conduzir a uma acção contra elas, sublinham, acrescentando que isso não ocorre neste caso. «As investigações conduzidas por Israel não são mais do que uma cortina de fumo erguida para proteger do TPI os funcionários responsáveis. Israel não quer e não consegue investigar as violações de direitos humanos perpetradas pelas suas forças durante os protestos da Grande Marcha de Retorno na Faixa de Gaza. Tendo isto em conta, cabe agora ao TPI garantir a responsabilização penal», disseram as duas organizações. «Estas investigações – tal como as levadas a cabo pelo sistema de aplicação da lei militar noutros casos em que soldados causaram danos aos palestinianos – fazem parte do mecanismo de branqueamento de Israel, e o seu principal objectivo continua a ser silenciar as críticas externas, para que Israel possa continuar a implementar sua política sem mudanças», lê-se no portal da B'Tselem. A mudança da embaixada norte-americana de Telavive para Jerusalém fica associada a um «Dia de Raiva» na Palestina. Na Faixa de Gaza cercada, os franco-atiradores israelitas massacram os manifestantes. Quando o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel e a intenção de mudar a Embaixada do seu país de Telavive para essa cidade, ficou claro que tal passo constituía uma declaração de apoio ao Estado de Israel e à sua política de ocupação e repressão na Palestina, nomeadamente em Jerusalém. Várias organizações têm denunciado o número crescente de ameaças em locais religiosos não-judaicos, na cidade, bem como a intensificação do plano de «judaização» de Jerusalém Oriental, com o aumento da construção de colonatos e a expulsão da população palestiniana de suas casas, que são muitas vezes demolidas. Declarada por Israel como sua capital, Jerusalém tem o estatuto, reconhecido pelas Nações Unidas, de cidade ocupada, sendo Israel a potência ocupante (desde 1967). Os palestinianos querem-na como sua capital e quem apoia a solução dos «dois estados» reconhece que o Estado da Palestina tem em Jerusalém Oriental a sua capital. Logo em Dezembro, foi generalizado o repúdio internacional pela decisão da administração norte-americana e, a 21 desse mês, materializou-se na aprovação, por esmagadora maioria, na Assembleia Geral das Nações Unidas, de uma resolução que rejeita essa decisão e insta todos os estados-membros a não estabelecerem missões diplomáticas em Jerusalém, de acordo com a resolução 478 do Conselho de Segurança, de 1980. Esse repúdio face ao reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel também se fez sentir no interior de Israel, onde académicos, antigos embaixadores e defensores da paz enviaram uma carta a um representante de Trump, seguntou reportou o periódico Haaretz. Inicialmente, não ficou explícito que a concretização da mudança da Embaixada dos EUA para Jerusalém estaria associada ao 70.º aniversário da criação do Estado de Israel, que hoje se assinala, e que teria lugar na véspera da Nakba – a limpeza étnica levada a cabo pelas forças sionistas e pelo Estado de Israel, em que mais de 750 mil palestinianos foram expulsos das suas casas e terras –, uma «catástrofe» que todos os anos os palestinianos marcam a 15 de Maio. Na visita que efectuou em Janeiro a Israel, o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, afirmou que essa mudança deveria ocorrer no final de 2019. No entanto, a 23 de Fevereiro, o Departamento de Estado anunciou a antecipação da mudança para 14 de Maio, o que foi encarado pelos palestinianos como mais uma acção de «provocação». Em protesto contra a mudança da Embaixada dos EUA para Jerusalém, os palestinianos chamaram «Dia de Raiva» a este 14 de Maio. Nos territórios ocupados da Cisjordância, há notícia de mobilizações pelo menos em Ramallah e Hebron. Mas a grande mobilização está a ter lugar na Faixa de Gaza cercada, junto às vedações que enclausuram perto de 2 milhões de palestinianos – 80% dos quais são descendentes de refugiados – no pequeno enclave. De acordo com a PressTV, as forças militares israelitas, que reforçaram a sua presença tanto em redor de Gaza como na Margem Ocidental ocupada –, esperavam que 100 mil pessoas se manifestassem nos pontos habituais, hoje, dia da mudança da Embaixada norte-americana para Jerusalém. «os palestinianos querem mandar a mensagem de que não se adaptaram nem se vão adaptar à condição de refugiados» Sobre o culminar dos protestos pacíficos da Grande Marcha do Retorno, que se iniciaram a 30 de Março, o ministro israelita da Educação, Naftali Bennet, do partido de extrema-direita Lar Judaico, disse a uma rádio israelita que a vedação seria encarada como uma «Muralha de Ferro» e que quem se aproximasse dela seria tratado como um «terrorista», refere a PressTV. A mesma fonte indica ainda que a Força Aérea israelita lançou panfletos sobre a Faixa de Gaza, ontem e hoje, para demover os manifestantes de se aproximarem da vedação, mas sem sucesso, já que estes, segundo refere a Al Jazeera, têm estado a tentar atravessá-la, «defendendo o seu direito ao regresso, ao retorno, aconteça o que acontecer». Um membro do comité organizador da Grande Marcha do Retorno disse à Al Jazeera que, ao tentarem atravessar a vedação, «os palestinianos querem mandar a mensagem de que não se adaptaram nem se vão adaptar à condição de refugiados». Os franco-atiradores responderam de forma brutal, matando mais de quatro dezenas de pessoas que se manifestavam perto da vedação e ferindo perto de 2000, até ao momento. De acordo com a organização, os protestos de hoje e os que estão previstos para amanhã – dia da Nakba – devem ser os mais massivos, sendo o ponto culminante das sete semanas de mobilizações, fortemente reprimidas pelas forças israelitas, junto à vedação com a Faixa de Gaza. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Apesar dos milhares de feridos palestinianos resultantes da política de «atirar a matar» e de mais de centena e meia ter ficado sem membros inferiores ou superiores – as tropas israelitas usaram balas explosivas, as chamadas butterfly bullets, que se expandem no contacto com o corpo, provocando danos severos nos tecidos, nos ossos, nas veias –, nenhum destes casos foi investigado. Sem explicação, os militares decidiram investigar apenas os casos em que palestinianos foram mortos. Dos 234 casos recebidos pelos procuradores do Exército, foi completa a revisão de 143 e um deles, o da morte do adolescente Othman Hiles, de 14 anos, levou à condenação de um soldado por «abuso de autoridade ao ponto de pôr em risco a vida e a saúde». Foi condenado a um mês de serviço comunitário. No seu portal, a B'Tselem sublinha que «a conduta de Israel respeitante à investigação dos protestos em Gaza não é nova nem surpreendente», e recorda o que se passou depois da Operação Chumbo Fundido, em 2009, e da Operação Margem Protectora, em 2014. «Então, também, Israel desrespeitou o direito internacional, recusou-se a reformar a sua política apesar dos resultados letais e desviou as críticas prometendo investigar a sua conduta. Então, também, nada resultou dessa promessa», afirma. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Por outro lado, entre Março de 2018 e Dezembro de 2019, uma série de manifestações pacíficas designadas Grande Marcha do Retorno foram brutalmente reprimidas pelo exército de Israel, contabilizando-se 223 mortos e mais de nove mil feridos, sob o silêncio da comunidade internacional. «Os assaltos das forças de ocupação israelita às povoações e campos de refugiados palestinos, assim como a violência dos colonos e as prisões arbitrárias são o quotidiano com que os palestinos, homens e mulheres, jovens e menos jovens diariamente se confrontam», lembra o MPPM, salientando que, até este sábado, pelo menos 247 palestinianos, sobretudo jovens, foram mortos pelas forças israelitas e por colonos. Neste sentido, insiste que a paz no Médio Oriente e a solução da questão palestiniana «passam necessariamente por um desenlace que respeite os direitos inalienáveis» do povo palestiniano a uma pátria livre e independente, incluindo o direito de regresso dos refugiados. O MPPM rejeita os «lamentos» daqueles que «hipocritamente condenam as acções violentas de resistência dos oprimidos e se calam desde há décadas (ou pior, colaboram) perante a violência da ocupação», e entre os quais se encontra o Governo português. «Israel tem o direito de se defender. Estes ataques nada resolverão, contribuindo apenas para piorar a situação na região. Estamos solidários com Israel e oferecemos condolências pelas vítimas.», disse o ministro João Gomes Cravinho, este sábado, na rede social X. O governo palestiniano denunciou junto da ONU o assassinato de 44 menores, este ano, por soldados israelitas. Neste contexto, reclamou protecção para a infância e a responsabilização de Telavive. Numa carta enviada esta segunda-feira ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, o Ministério palestiniano dos Negócios Estrangeiros pediu protecção especial urgente para as crianças palestinianas, informa a agência Wafa. Mahmoud Samoudi, de 12 anos, foi, ontem, a vítima mortal mais recente das forças israelitas, não resistindo aos ferimentos quase duas semanas depois de ter sido atingido por uma bala no abdómen, durante uma operação militar na cidade de Jenin (Norte da Cisjordânia ocupada). Só nos últimos dias, «Israel, a potência ocupante, matou cinco crianças e jovens palestinianos, incluindo Adel Adel Daud (14 anos), Mahdi Ladadwa (17), Mahmoud Sous (17), Fayez Khaled Damdoum (17) e Ahmad Draghmeh (19)», indica o texto das autoridades palestinianas. Até 10 de Dezembro, 86 crianças foram mortas nos territórios ocupados da Palestina, fazendo de 2021 o ano mais mortífero para elas desde 2014, segundo os registos de uma organização não governamental. As forças israelitas mataram 76 crianças palestinianas este ano – 61 na Faixa de Gaza cercada e 15 na Cisjordânia ocupada, incluindo Jerusalém Oriental. Civis israelitas armados mataram duas crianças palestinianas na Cisjordânia, revela o relatório agora publicado pela Defense for Children International – Palestine (DCIP). A estas 78 crianças juntam-se sete que foram mortas por foguetes disparados incorrectamente por grupos armados palestinianos na Faixa de Gaza, e uma outra que foi morta por uma munição não detonada, cujas origens a ONG não conseguiu determinar. «Nos termos do direito internacional, a força letal intencional só se justifica em circunstâncias em que esteja presente uma ameaça directa à vida ou de ferimentos graves. No entanto, investigações e provas recolhidas pelo DCIP sugerem que as forças israelitas utilizam regularmente força letal contra crianças palestinianas em circunstâncias que podem equivaler a execuções extrajudiciais ou intencionais», lê-se relatório, traduzido pelo Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente – MPPM. Durante os 11 dias do ataque militar israelita à Faixa de Gaza, em Maio de 2021, naquilo que ficou conhecido como Operação Guardião dos Muros, as forças israelitas mataram 60 crianças palestinianas, segundo os dados recolhidos pela DCIP. «Aviões de guerra israelitas e drones armados bombardearam áreas civis densamente povoadas, matando crianças palestinianas que dormiam nas suas camas, brincavam nos seus bairros, faziam compras nas lojas perto das suas casas e celebravam o Eid al-Fitr [festa no fim do Ramadão] com as suas famílias», disse Ayed Abu Eqtaish, director do programa de responsabilização da DCIP. «A falta de vontade política da comunidade internacional para responsabilizar os funcionários israelitas garante que os soldados israelitas continuarão a matar ilegalmente crianças palestinianas com impunidade», acrescentou. A DCIP lembra que o direito humanitário internacional proíbe ataques indiscriminados e desproporcionados, e exige que todas as partes num conflito armado façam a distinção entre alvos militares, civis e objectos civis. O pico mais recente de assassinatos de crianças ocorrera em 2018, quando forças israelitas e colonos mataram crianças palestinianas a um ritmo médio superior a uma por semana (57). A maioria dessas mortes ocorreu durante os protestos da Marcha do Retorno, na Faixa de Gaza, refere o organismo. De acordo com os dados da DCIP, foram mortas 2196 crianças palestinianas, desde 2000, em resultado da presença de militares e de colonos israelitas nos territórios ocupados da Palestina. A Defense for Children International – Palestine é uma das seis organizações de direitos humanos que Israel pretende silenciar, lembra o MPPM, sublinhando que a medida tem merecido a condenação generalizada a nível internacional e foi denunciada pelo MPPM a 29 de Outubro último. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. A carta afirma que as forças de ocupação estão a utilizar «a política infame de atirar a matar» – de que resultou a morte de centenas de crianças palestinianas –, ao apontarem «deliberadamente» para a parte superior dos seus corpos. «Israel dispara deliberadamente contra os menores palestinianos com o objectivo declarado de os matar e mutilar, negando-lhes o direito à vida», lê-se no texto, sublinhando que «as crianças jamais devem ser mortas ou mutiladas», bem como a necessidade de medidas urgentes para as proteger da «escalada dos crimes israelitas». Neste sentido, o governo palestiniano exigiu medidas contra Telavive, destacando que as «evidências dos seus crimes crescentes contra as crianças palestinianas são, sem dúvida alguma, esmagadoras», violando o direito internacional e as resoluções que constituem a base da protecção das crianças nos conflitos armados. «A protecção das crianças é a maior obrigação moral, legal e política da humanidade», frisa o documento, no qual se pede à comunidade internacional que «ponha fim a este pesadelo intolerável que as nossas crianças vivem diariamente» e que tome medidas para responsabilizar Israel «pelos seus crimes horrendos». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. «Os que há décadas convivem com a ausência de qualquer real processo político conducente a uma solução que respeite os direitos do povo palestino, não têm autoridade moral para hoje se queixarem das tempestades que provocaram», defende o MPPM. Certo de que a violência poderá alastrar-se a todo o Médio Oriente, o movimento recorda que Israel, «com o apoio dos países "ocidentais" e em primeiro lugar dos Estados Unidos da América», é a maior potência militar da região e a única a dispor de armas nucleares. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Em simultâneo, revela a Wafa, têm-se registado múltiplas agressões e raides, da parte de colonos e forças istraelitas, na Margem Ocidental ocupada. Pelo menos cinco palestinianos foram ali mortos nas últimas 24 horas, em vários pontos do território ocupado. A operação israelita de larga escala segue-se à operação, lançada no sábado de manhã, por forças da resistência palestiniana na Faixa de Gaza, onde o Hamas é o elemento predominante. Segundo foi revelado então, a ala militar do Hamas lançou pelo menos 5000 rockets para aquilo que é hoje Israel. As forças da resistência derrubaram, em vários pontos, a vedação que cerca o território e atacaram os colonatos em redor por terra, mar e ar. Pelo menos 700 israelitas foram mortos nessa operação que alguma imprensa israelita classificou como «nunca vista» e mais de cem foram feitos prisioneiros, incluindo militares de alta patente. No domínio político-mediático da «comunidade internacional», o mundo predominantemente ocidental e branco, as vozes sobre «A Guerra» (só havia uma e mais nenhuma: a da Ucrânia) silenciaram-se e, nas fachadas das praças de capitais como Nova Iorque, Berlim ou Bruxelas, as bandeiras da Ucrânia foram substituídas pelas de Israel. Desde o Mandato Britânico que os palestinianos são sujeitos à opressão, que se intensificou com a construção, nas suas terras, do Estado de Israel, erguido à custa das forças paramilitares que expulsaram os palestinianos de suas casas e os mataram ou meteram em guetos. A campanha de limpeza étnica então iniciada mantém-se até hoje, sob um regime de apartheid, por via do saque de territórios e de recursos, a destruição de casas, escolas e outras infra-estruturas, e a expulsão dos palestinianos das terras onde vivem. De forma sistemática, as forças israelitas bombardeiam a Faixa de Gaza, que mantêm fechada e cercada num férreo bloqueio, com mais de dois milhões de pessoas a viver em condições insalubres, sem luz, água potável, mas «a comunidade internacional» projecta as suas bandeiras nos edifícios das suas praças quando a Palestina – reduzida ao Hamas – se ergue e rompe o cerco. Entretanto, no enorme campo de deslocados que é Gaza, cerca de 70 mil pessoas procuraram refúgio dos bombardeamentos nas 64 escolas operadas pela UNRWA – a agência da ONU para os refugiados palestinianos no Médio Oriente. Em comunicado, a UNRWA confirmou que dois alunos em escolas que opera em Khan Younis e Beit Hanoun se encontram entre os mortos. Pelo menos três escolas da organização sofreram danos provocados pelos bombardeamentos, acrescenta o texto. A UNRWA sublinhou que os civis devem ser sempre protegidos, também em período de guerra, e apelou a um cessar-fogo imediato e ao fim da violência em todo o lado. A operação das forças da resistência em território israelita continua. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Neste período, mais de 1350 palestinianos perderam a vida e mais de 6000 ficaram feridos, a grande maioria dos quais na sequência dos bombardeamentos indiscriminados da aviação israelita sobre o enclave costeiro densamente habitado, outros em ataques das forças de ocupação na Margem Ocidental, revelou esta quinta-feira o Ministério palestiniano da Saúde. Já uma agência ONU informou que mais de 338 mil pessoas foram obrigadas a fugir de suas casas devido aos bombardeamentos. Um jornalista palestiniano, Salam Mesma, perdeu a vida na terça-feira, na sequência de um bombardeamento que tirou também a vida a toda a sua família, revelou o Palestine Online. Na véspera, outros três jornalistas palestinianos foram mortos – Mohammad Soboh, Saeed al-Taweel e Hisham al-Nawajha. Taweel, que era o editor-chefe do portal noticioso Al-Khamsa, foi morto com os seus colegas quando saíram para filmar e fotografar a evacuação de um edifício que estava em risco de ser bombardeado pela aviação israelita. Foram atingidos mesmo usando os coletes e os capacetes que os identificavam claramente como jornalistas. Milhares de pessoas participaram no funeral de al-Taweed e Soboh, que perderam a vida de imediato; al-Nawajha ainda foi levado para um hospital, onde viria a falecer. Outros dois jornalistas – Ibrahim Mohammed Lafi e Mohammad Jarghoun – foram mortos quando faziam reportagens sobre a guerra no sábado, em locais diferentes da Faixa de Gaza. Também no sábado, Mohammed el-Salhi, jornalista freelancer, foi morto a na Faixa de Gaza. Já esta quarta-feira a agência Wafa revelou que o jornalista palestiniano Mohammad Fayez Abu Matar, que trabalhava para várias agências internacionais, foi morto durante um bombardeamento israelita na região de Rafah. O Sindicato dos Jornalistas Palestinianos condenou o assassinato de jornalistas na Faixa de Gaza, tendo feito um apelo a associações árabes e mundiais de jornalistas, bem como a instituições ligadas à ONU e à defesa dos direitos humanos «para que tomem medidas para proteger os jornalistas palestinianos e travem os assassinatos perpetrados de forma sistemática e por decisão oficial do governo da ocupação israelita». Milhares de sírios manifestaram-se em solidariedade com o povo palestiniano e contra a brutalidade da máquina de guerra israelita em Gaza, onde mais de 22 mil unidades habitacionais foram destruídas. Em Damasco, os manifestantes concentraram-se esta terça-feira na Praça Arnous, no centro da cidade, ergueram bandeiras palestinianas e sírias, e exibiram faixas com frases que deixam claro o total apoio do povo sírio aos palestinianos, à sua luta de libertação nacional e pela recuperação dos territórios ocupados. Os manifestantes criticaram a impunidade que os Estados Unidos conferem a Israel e a incapacidade das Nações Unidas para travar a crueldade exercida por Telavive contra o povo palestiniano, refere Fady Marouf, correspondente da Prensa Latina no país levantino. Na mobilização damascena, esta terça-feira, os manifestantes afirmaram que a propalada «invencibilidade do Exército israelita foi para sempre arrasada», na sequência da operação «Dilúvio de al-Aqsa», lançada por várias facções da resistência palestiniana em Gaza, onde o movimento Hamas é predominante. Neste mesmo contexto, enquanto edifícios emblemáticos em Nova Iorque, Berlim ou Bruxelas exibiram a bandeira israelita projectada, a Ópera de Damasco fez brilhar as cores da bandeira palestiniana, como expressão de solidariedade e unidade na luta contra um inimigo comum. A nível oficial, Parlamento, Ministério dos Negócios Estrangeiros e o partido Baath, no poder, emitiram comunicados em que reafirmaram a histórico posicionamento de apoio da parte de Damasco aos seus irmãos palestinianos, até que estes recuperem os direitos que lhes assistem, garantidos pelo Direito Internacional. Nos últimos dias, milhares de pessoas manifestaram-se em várias cidades do mundo em solidariedade com o povo palestiniano e contra um novo episódio de barbárie israelita na Faixa de Gaza – desta vez, em resposta à operação da resistência nos territórios ocupados em 1948. Houve grandes manifestações em cidades norte-americanas como Nova Iorque, Chicago, Mineápolis, Los Angeles, Atlanta, San Francisco ou Nova Jérsia, de condenação à agressão israelita contra o povo palestiniano no enclave costeiro. Neste contexto, 33 organizações estudantis universitárias dos EUA condenaram a «brutal agressão» sionista contra Gaza e a Cisjordânia, tendo responsabilizado a ocupação pela deterioração da situação, «obrigando os palestinianos a viver numa prisão a céu aberto», refere a agência Wafa. Também houve grandes mobilizações solidárias com o povo palestiniano no Reino Unido, exigindo um Estado independente para a Palestina e o fim da agressão israelita. No sábado, a resistência palestiniana quebrou a vedação que cerca o enclave e lançou uma ofensiva contra os territórios ocupados em 1948. Desde então, a aviação israelita matou mais de 430 palestinianos. De acordo com os dados divulgados pelo Ministério palestiniano da Saúde esta manhã, os bombardeamentos indiscriminados na Faixa de Gaza, conhecida como «a maior prisão a céu aberto», provocaram a morte a 436 pessoas, incluindo 91 menores, e fizeram 2271 feridos, 244 dos quais crianças. Nas últimas horas, a aviação da ocupação lançou centenas de raides contra o enclave costeiro, onde vivem mais de dois milhões de pessoas, atingindo edifícios residenciais, infra-estruturas oficiais e civis, bem como edifícios religiosos, tendo destruído pelo menos duas mesquitas, indica a agência Wafa. Só no sábado, os bombardeamentos israelitas provocaram 300 mortos, o que, segundo destaca o portal The Cradle, é o número mais elevado de palestinianos mortos em ataques aéreos da ocupação num só dia desde 2008. Enquanto se mantiver a ocupação colonial e a violência das forças militares e dos colonos, não haverá paz, alerta o Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente (MPPM). O MPPM reage assim às acções desencadeadas em Gaza e em Israel na madrugada deste sábado. Eram 4h30 em Lisboa (6h30 no local), quando militantes de organizações da resistência palestiniana lançaram, a partir da Faixa de Gaza, um ataque de surpresa, em larga escala, contra Israel, no que apelidaram de «Operação Dilúvio Al-Aqsa». Segundo as organizações, a acção foi uma resposta à profanação da Mesquita de Al-Aqsa e ao aumento da violência dos colonos, e confirma, insiste o MPPM num comunicado, «que não é possível ter uma situação de paz na Palestina e, por consequência, no Médio Oriente, continuando a espezinhar os legítimos direitos do povo palestino e persistindo em manter a ocupação colonial e a violência das forças militares e dos colonos». Diversos grupos da resistência declararam o apoio à operação lançada contra Israel, esta manhã, a partir da Faixa de Gaza, sublinhando que faz parte da luta de libertação nacional. «Fazemos parte desta batalha e os nossos combatentes estão lado a lado com os seus irmãos nas Brigadas al-Qassam (ala militar do Hamas) até à vitória», afirmou em comunicado Abu Hamza, porta-voz das Brigadas de al-Quds, braço militar da Jihad Islâmica. Em termos semelhantes, refere a Prensa Latina, se pronunciaram as Brigadas al-Nasser Salah al-Din, do Movimento de Resistência Popular: «Unidos numa trincheira neste dia glorioso do nosso povo.» Por seu lado, as Brigadas de Resistência Nacional anunciaram que os seus membros se juntaram à operação, lançada esta manhã pelo Hamas, que incluiu o lançamento de milhares de rockets e uma incursão terrestre em território ocupado em 1948. Atingido por disparos de colonos na cidade de Huwara, Labib Dumaidi, de 19 anos, é a mais recente das quatro vítimas mortais na Margem Ocidental ocupada, revelou o Ministério da Saúde. De acordo com a informação divulgada pelo Ministério, Labib Mohammed Dumaidi ficou gravemente ferido durante um ataque de colonos, ontem à noite, na cidade de Huwara, a sul de Nablus. Levado para um hospital, não resistiu aos ferimentos, já nas primeiras horas de sexta-feira. Residentes de Huwara tentaram fazer frente à provocação levada a cabo por dezenas de colonos, protegidos por forças militares israelitas, indica a Wafa. Registaram-se fortes confrontos e as tropas israelitas usaram fogo real, gás lacrimogéneo e granadas atordoantes para dispersar os palestinianos. Fontes do Crescente Vermelho Palestiniano informaram que pelo menos 25 pessoas, incluindo quatro crianças, sofreram efeitos de asfixia devido à inalação de gás lacrimogéneo. Também em Huwara, as forças israelitas mataram, ontem à tarde, outro palestiniano, cuja identidade ainda não foi revelada. Dias depois de colonos extremistas terem invadido e atacado Huwara, Bezalel Smotrich afirmou que Israel deve «aniquilar» a localidade palestiniana no Norte da Cisjordânia ocupada. «Penso que Huwara precisa de ser destruída», disse o ministro israelita das Finanças, Bezalel Smotrich, esta quarta-feira, defendendo que «o Estado devia fazê-lo e não cidadãos privados», refere a PressTV com base na imprensa israelita. As declarações do ministro de extrema-direita do governo de Benjamin Netanyahu seguem-se ao ataque perpetrado contra a localidade palestiniana, no domingo à noite, por centenas de colonos armados. Tratou-se da «resposta» à morte de dois israelitas de um colonato ilegal, executados por um atacante palestiniano de Huwara. Este ataque, por sua vez, seguiu-se ao massacre de Nablus, em que as forças de ocupação israelitas mataram 11 palestinianos e feriram mais de cem. No domingo à noite, os colonos queimaram pelo menos 150 carros, 52 casas e várias lojas. Uma pessoa foi morta e o número de feridos palestinianos é superior a 390, indica a agência Wafa. Grupos israelitas de defesa dos direitos humanos como Peace Now e B’Tselem referiram-se ao ataque dos colonos como um «pogrom» apoiado pelas autoridades de ocupação. Por seu lado, o Crescente Vermelho palestiniano acusou as forças israelitas de impedirem as ambulâncias e os paramédicos de acederem ao local do ataque, a poucos quilómetros de Nablus. No Knesset, a extrema-direita israelita considerou os ataques a Huwara «legítimos». Hussein al-Sheikh, da Comissão Executiva da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), afirmou, no Twitter, que as afirmações de Smotrich para apagar Huwara do mapa são o apelo de um «racista terrorista». Também o primeiro-ministro da Autoridade Palestiniana (AP), Mohammad Shtayyeh, se referiu às afirmações do ministro israelita como «terroristas» e «racistas», e alertou para o facto de que «fazem prever uma escalada séria» contra o povo palestiniano nos territórios ocupados. Neste sentido, pediu às Nações Unidas, à União Europeia e demais organizações internacionais que condenem as declarações de Smotrich. Antes, já tinha pedido ajuda internacional «contra os crimes de Israel». O Parlamento (da Liga) Árabe, com sede no Cairo, condenou esta quarta-feira os ataques executados por colonos israelitas contra o povo palestiniano na Cisjordânia ocupada, referindo-se em especial ao assalto à localidade de Huwara. Perante os ataques terroristas sistemáticos dos colonos contra cidadãos indefesos, com armas de fogo, incêndios de casas e viaturas, expulsão de agricultores, assassinatos e outros crimes, exortou o mundo e em especial o Conselho de Segurança da ONU a adoptar medidas para proteger o povo palestiniano. Antes, a Liga Árabe já tinha proposto que as milícias de colonos passem a ser incluídas na lista de grupos terroristas. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Na parte da manhã, as forças israelitas já tinham matado dois palestinianos, identificados como Hudhayfah Fares, de 27 anos, e Abd al-Rahman Atta, de 23, na aldeia de Shufa, na sequência de um ataque de colonos a viaturas na região de Tulkarem. De acordo com as Nações Unidas, 2023 está a ser o ano mais mortífero para os palestinianos na Margem Ocidental desde que há registo de fatalidades provocadas pelas forças de ocupação. Nabil Abu Rudeineh, porta-voz da Presidência palestiniana, disse à imprensa que a ocupação israelita pisou todas as linhas vermelhas, com a sua insistência na política de assassinatos e incursões em cidades, aldeias e acampamentos palestinianos. Numa entrevista à Palestine TV, o representante da Presidência responsabilizou o governo israelita e a administração norte-americana pelos «crimes perigosos perpetrados pela ocupação e os seus colonos por todo o território palestiniano», os mais recentes dos quais nas imediações de Nablus e Tulkarem, refere a Wafa. Apesar da «guerra implacável» que a ocupação israelita está a travar contra o povo palestiniano «à vista de todo o mundo», o responsável afirmou que isso não irá impedir «o nosso povo de prosseguir a sua luta legítima» até à «criação do seu Estado independente, com Jerusalém como capital». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Na Cisjordânia, a Cova dos Leões, um dos grupos da resistência mais activos, fez um apelo à mobilização geral dos seus membros, bem como ao «ataque imediato em todos os lugares contra as forças de ocupação e os seus colonos». Com base em fontes israelitas, a agência Prensa Latina indica que o Exército de ocupação deu conta de combates em 21 locais no Sul de Israel, na sequência da operação palestiniana – embora tenha posteriormente reduzido esse número para sete. Ao anunciar a ofensiva desta manhã (às 7h locais), o comandante das Brigadas al-Qassam, Muhammad al-Deif, disse que o grupo palestiniano disparou para território israelita 5000 rockets. Al-Deif afirmou que a operação é uma resposta aos sistemáticos crimes israelitas contra o povo palestiniano e a profanação contínua por colonos judeus da mesquita de al-Aqsa, em Jerusalém, e ocorre num contexto de escalada de agressões, da parte de colonos e forças israelitas, em Jerusalém Oriental e na Cisjordânia ocupada. A Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos registou mais de 135 mil casos de detenções, pelas forças de ocupação israelitas, desde o início da Intifada de al-Aqsa, em 2000. Num relatório emitido por ocasião do 23.º aniversário do início da Segunda Intifada ou Intifada de al-Aqsa (28 de Setembro de 2000), a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos sublinha que as detenções levadas a cabo pelas forças israelitas afectaram todas as camadas da sociedade, e não deixaram de parte menores de idade, idosos e mulheres. Dos mais de 135 mil casos registados pelo organismo, 21 mil dizem respeito a menores, indica o relatório – divulgado pela Wafa –, que dá conta da detenção de metade dos deputados do Conselho Legislativo Palestiniano (Parlamento), de vários ministros, centenas de académicos, jornalistas e funcionários de organizações da sociedade civil e instituições internacionais. Israel mantém nas suas prisões 1264 palestinianos sem acusações nem julgamento, o número mais elevado em 30 anos, revelou a ONG Hamoked. Desde a Primeira Intifada (1987-1993) que não havia tantos palestinianos detidos ao abrigo da polémica norma, alertou a organização não governamental este fim-de-semana, com base nos dados dos serviços prisionais. Jessica Montell, directora executiva da Hamoked, organização israelita que presta assistência jurídica gratuita aos palestinianos que vivem sob a ocupação, afirmou que a detenção administrativa é «massiva e arbitrária» e que Israel mantém nesse regime, sem acusação nem julgamento, mais de 1200 palestinianos, «alguns dos quais durante anos sem uma revisão eficaz». Ao abrigo deste regime, a detenção, decretada por um comandante militar, com base naquilo a que Israel chama «prova secreta» – que nem o advogado do detido tem direito a ver –, pode ser infinitamente renovada por períodos até seis meses. A Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) revelou, este domingo, que nove presos palestinianos sem acusação ou julgamento continuam em greve de fome por tempo indeterminado. Os presos Kayed al-Fasfous e Sultan Khlouf iniciaram o protesto contra a detenção administrativa há 19 dias. Por seu lado, Osama Darkouk encontra-se em greve de fome há 15 dias. Outros seis reclusos palestinianos em cadeias israelitas estão em greve de fome há 12 dias: Hadi Nazzal, Mohammad Taysir Zakarneh, Anas Kmail, Abdelrahman Baraka, Mohammad Basem Ikhmis e Zuhdi Abdo, informa a agência Wafa, com base na SPP. Na semana passada, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos pediu à chamada comunidade internacional que quebre o silêncio em torno do «crime israelita da detenção administrativa», que permite manter na cadeia presos sem acusação ou julgamento, numa clara violação das normas internacionais. Ao abrigo deste regime, a detenção, decretada por um comandante militar, com base naquilo a que Israel chama «prova secreta» – que nem o advogado do detido tem direito a ver –, pode ser infinitamente renovada por períodos até seis meses. A Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) revelou, esta segunda-feira, que quatro presos palestinianos sem acusação ou julgamento tinham iniciado há nove dias uma greve de fome por tempo indeterminado. Em comunicado divulgado pela Wafa, a SPP indicou que Anas Ibrahim Shadid, de 26 anos, Mahmoud Abdel Halim Talahma, de 32, Abdullah Mohammad Abido, de 36, e Mohammad Ahmad Dandis, de 25, iniciaram o protesto para denunciar a sua detenção sem acusação ou julgamento. Acrescentou que todos os detidos estão na cadeia israelita de Ofer, perto de Ramallah, e são originários da província de Hebron (al-Khalil), no Sul da Cisjordânia ocupada. A organização de defesa dos direitos dos presos informa que Shadid foi preso três vezes, sempre no regime de detenção administrativa, tendo passado, no total, três anos atrás das grades. Durante esses períodos, levou a cabo duas greves de fome, uma delas com a duração de 90 dias, em 2016. Os prisioneiros iniciaram uma greve de fome, há uma semana, para exigir a sua libertação e denunciar um regime de detenção que permite mantê-los na cadeia sem acusação ou julgamento. O protesto dos trinta presos palestinianos, membros e simpatizantes da Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP), completou uma semana sem solução aparente à vista, tendo em conta a inflexibilidade das autoridades de Telavive. Em comunicado, a Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) anunciou que os serviços prisionais israelitas têm estado a ameaçar com castigos os reclusos que lutam contra o regime de detenção administrativa. Entre as punições, contam-se privá-los de visitas, retirar-lhes os seus pertences e isolá-los em celas de castigo. Nesta primeira semana de protesto, os serviços prisionais israelitas colocaram 28 dos grevistas em quatro celas de isolamento na prisão de Ofer, informa a Wafa com base no documento divulgado pelo SPP. Um outro, o advogado Salah Hammouri, foi metido na solitária numa cadeia no Norte de Israel, enquanto Ghassan Zawahreh foi levado para uma cela de isolamento numa prisão localizada no Deserto do Neguev (al-Naqab). Os prisioneiros, em cadeias israelitas, iniciaram uma greve de fome por tempo indeterminado contra um regime que permite mantê-los detidos sem acusação ou julgamento, por períodos renováveis de seis meses. O início do protesto, este domingo, por parte de prisioneiros que são membros ou apoiantes da Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP), foi confirmado pela Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos. Em declarações à agência Wafa, Hassan Abed Rabbo, porta-voz da comissão, disse que os presos decidiram avançar contra uma política que permite a Israel manter nas suas prisões, sem acusação ou julgamento, presos palestinianos por tempo indefinido, na medida em que o período de detenção, até seis meses, é infinitamente renovável. Numa mensagem divulgada há alguns dias, os presos sublinharam que a luta contra o regime de detenção administrativa continua e denunciaram que as medidas tomadas pelas autoridades prisionais israelitas «já não se baseiam em obsessões de segurança, mas são actos de vingança devido ao seu passado». Qadri Abu Baker, líder da Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos, disse à Wafa que, na próxima quinta-feira, mais 50 presos se devem juntar à greve de fome, para denunciar o regime de detenção administrativa a que são submetidos e a escalada por parte de Israel no que respeita a este procedimento. O maior número de detenções administrativas – sem julgamento ou acusação – foi decretado em Maio, quando Israel lançou uma ofensiva de 11 dias contra a Faixa de Gaza. A Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) revelou, este domingo, que o número divulgado diz respeito tanto a novas ordens como à renovação de ordens já emitidas nos territórios ocupados, pelas autoridades israelitas. No documento apresentado, o organismo lembra que política de detenção administrativa visa «esmagar os activistas políticos palestinianos» e se baseia num ficheiro secreto não acessível aos presos – nem sequer aos seus advogados –, que são mantidos na cadeia sem acusação ou julgamento, informa a WAFA. O maior número de ordens de detenção administrativa foi emitido em Maio último, quando a Israel lançou uma ofensiva de 11 dias contra a Faixa de Gaza, explicou a organização de defesa dos presos, acrescentado que, ao longo do ano, 60 prisioneiros recorreram à greve de fome com o propósito de reconquistar a liberdade. Uma comissão de apoio aos prisioneiros revelou que 13 palestinianos permaneciam em greve de fome nas cadeias, este domingo, contra o regime que permite mantê-los reclusos sem acusação ou julgamento. Num comunicado ontem emitido, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos informou que o prisioneiro Salem Ziadat, de 40 anos, é, dos 13 que continuavam o protesto, aquele que está em greve de fome há mais tempo, permanecendo em jejum há 28 dias contra a sua detenção administrativa, sem acusação ou julgamento, revelou a agência WAFA. A Comissão informou ainda que o número de reclusos palestinianos em greve de fome até ontem era de 15, mas que Mohammad Khaled Abusill e Ahmad Abdulrahman Abusill tinham chegado a um acordo com o Serviço Prisional Israelita no que respeita à «limitação» da chamada detenção administrativa. Grupos de defesa dos presos apresentaram um relatório sobre o primeiro semestre de 2021. Nas cadeias israelitas, há actualmente 4850 palestinianos, 540 dos quais ao abrigo da «detenção administrativa». Entre os palestinianos que se encontram nos cárceres de Israel, contam-se 43 mulheres e 225 menores, segundo o documento conjunto divulgado este fim-de-semana pela Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos, a Sociedade dos Presos Palestinianos, a Addameer e o Centro de Informação Wadi Hilweh. Os organismos referidos precisaram que 12 presos são membros do Conselho Legislativo Palestiniano (Parlamento), 70 são provenientes dos territórios ocupados em 1948, 350 são originários de Jerusalém ocupada e 240 da Faixa de Gaza cercada. O informe destaca a existência de 540 prisioneiros palestinianos em detenção administrativa, sem acusação formada ou julgamento, por períodos de seis meses indefinidamente renováveis. No que respeita a detenções, os organismos de defesa dos presos revelaram que Israel prendeu 5426 palestinianos entre 1 de Janeiro e 30 de Junho deste ano – um número superior a todas as detenções efectuadas pelas forças israelitas em 2020 e registadas por estas organizações: 4636. Por ocasião do Dia da Criança Palestiniana, que se assinala a 5 de Abril, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos revelou também que 140 menores permanecem em cadeias israelitas. Os menores palestinianos, alguns dos quais crianças, continuam a ser alvo das forças militares israelitas, que os prendem, muitas vezes de forma violenta, nos territórios ocupados. De acordo com um relatório publicado este domingo pela Sociedade dos Prisioneiros Palestinianos, pelo menos 230 foram detidos desde o início do ano, a maioria dos quais em Jerusalém Oriental ocupada. O grupo de defesa dos direitos dos presos sublinhou que «as crianças encarceradas são submetidas a vários tipos de abusos, incluindo «a recusa de comida e de bebida por longas horas, abuso verbal e a detenção em condições duras». O informe veio a lume na véspera do Dia da Criança Palestiniana, que se assinala a 5 de Abril, com actividades culturais, educativas e mediáticas que, refere a PressTV, visam reforçar a consciência sobre o sofrimento dos menores palestinianos. Também no âmbito do Dia da Criança Palestiniana, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos revelou que 140 menores permanecem em cadeias israelitas, incluindo dois que se encontram presos ao abrigo do regime de detenção administrativa. Uma comissão da ONU reafirmou denúncias expostas em vários relatórios sobre detenções de menores palestinianos por Israel – quase sempre presos de noite, algemados e vendados. É o início da «viagem ao inferno». A instância, composta por especialistas independentes das Nações Unidas, expressou particular preocupação pela expansão dos colonatos e o aumento da violência dos colonos israelitas, em que se incluem ataques a crianças e às suas escolas. Segundo se pode ler no portal oficial de notícias da ONU, na semana passada diversas organizações informaram a comissão sobre as operações nocturnas levadas a efeito pelas forças israelitas com o propósito de deter crianças e adolescentes na Cisjordânia ocupada, com «graves consequências para o seu bem-estar e gozo dos seus direitos». «Mais de 300 crianças estão detidas no sistema militar israelita. A maioria por delitos menores, como atirar pedras e publicações nas redes sociais», assinala a comissão, que denuncia o facto de os menores serem «levados para locais desconhecidos, presos em viaturas militares e sujeitos a ameaças e abusos verbais», bem como o facto de, por vezes, serem «obrigados a assinar confissões em hebraico, uma língua que não costumam entender». Estas preocupações reafirmam as que têm sido veiculadas, ao longo do tempo, por várias entidades, nomeadamente a Comissão dos Prisioneiros Palestinianos, órgão dependente da Autoridade Palestiniana que, em diversas ocasiões (também este ano), alertou para o facto de os menores serem torturados e sofrerem abusos nos cárceres israelitas, bem como para o facto de serem espancados, insultados e pressionados no momento da detenção. No final de Março, um relatório publicado pelo Ministério palestiniano da Informação denunciava também esta realidade, afirmando que «95% das crianças palestinianas presas pelas autoridades israelitas foram torturadas durante a detenção». De acordo com o relatório, até 2015 foram documentadas anualmente 700 detenções de menores palestinianos. Já em 2017, Israel prendeu 1467 crianças e adolescentes; 1063 no ano seguinte e, nos dois primeiros dois meses deste ano, 118. Entre 2000 e 2018, foram presos mais de 16 mil menores. Numa peça intitulada «“Endless Trip to Hell”: Israel Jails Hundreds of Palestinian Boys a Year. These Are Their Testimonies», publicada em Março e plenamente actual, o periódico israelita Haaretz aborda esta realidade, em que as crianças, algumas com idades inferiores a 13 anos, «são detidas pela calada da noite, vendadas e algemadas, alvo de abusos e constrangidas» a confessar «crimes» que não cometeram. A peça, que reúne testemunhos de sete jovens da Margem Ocidental ocupada com idades compreendidas entre os dez e os 15 anos, revela as diversas fases do processo de detenção, que começa nas operações nocturnas e passa pelo interrogatório, a prisão, o julgamento e a proposta de um acordo. Na sua maioria, os jovens são presos por, alegadamente, terem atirado pedras ou queimado pneus, mas, como sublinha a advogada Farah Bayadsi o objectivo das detenções «é mais para mostrar controlo do que para aplicar a lei». A experiência traumática é fundamentada por tudo aquilo por que as crianças passam durante uma detenção. Arrancadas de casa quando dormem, são algemadas e vendadas, levadas em veículos militares para colonatos e bases israelitas, passando por todo um processo que envolve intimidação, ameaças, agressões físicas, afastamento da família e pressão para «confessar». O nível de brutalidade varia. Khaled Mahmoud Selvi, preso quando tinha 15 anos, foi levado para a prisão e despido (o que, de acordo com o jornal, ocorre em 55% dos casos), tendo sido obrigado a permanecer dez minutos nu, em pé, durante o Inverno. De acordo com os dados recolhidos pela organização não governamental (ONG) British-Palestinian Military Court Watch, 97% dos jovens palestinianos detidos pelas forças militares israelitas (IDF) vivem em pequenas localidades a menos de dois quilómetros de um colonato. O advogado Gerard Horton, da ONG referida, afirma que a ideia é «assustar toda a aldeia» e que se trata de um «instrumento eficaz» para controlar uma comunidade. Acrescenta que, do ponto de vista dos ocupantes e opressores, a pressão «tem de ser constante»: «Cada geração tem de sentir a mão pesada das IDF.» A experiência é traumática. O pai de Khaled Shtaiwi, preso com 13 anos em Novembro do ano passado, contou ao periódico que criou na sua aldeia o «dia da psicologia», porque o seu filho não é capaz de falar sobre o que se passou e porque quer ajudar todas as crianças que foram presas pelos israelitas. Em Beit Ummar, Omar Ayyash foi preso com dez anos de idade, em Dezembro último. Agora, as crianças que brincam nas ruas da aldeia afastam-se assim que se apercebem da aproximação de soldados israelitas. Tornou-se um hábito desde que as tropas levaram Omar. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Por seu lado, a organização Defense for Children International – Palestine (DCIP) destacou que todos os anos entre 500 e 700 menores palestinianos são processados em tribunais militares israelitas e que 85% das crianças palestinianas detidas em 2020 foram «submetidas a violência física». Num comunicado, a DCIP afirma ter documentado 27 casos em que as crianças foram mantidas na solitária um ou dois dias, alegando as forças israelitas «objectivos de investigação». Esta prática é, segundo o organismo, uma forma de «tortura ou tratamento cruel, desumano e degradante». Desde Outubro de 2015, a DCIP registou a 36 ordens de detenção administrativa decretadas contra menores palestinianos, dois dos quais se mantêm nesse regime. Ainda de acordo com o organismo sediado em Genebra, em 2020, as forças israelitas mataram nove menores palestinianos na Cisjordânia ocupada, incluindo Jerusalém Oriental, e na Faixa de Gaza, seis dos quais com fogo real. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. O relatório divulgado este fim-de-semana informa que, entre os palestinianos detidos pelas forças israelitas, se incluem 854 menores e 107 mulheres, tendo sido emitidas na primeira metade do ano 680 ordens de detenção administrativa, incluindo 312 novas. No mês de Junho foram presos 615 palestinianos, revela o texto, destacando que Maio foi de longe o mês em que se registou um maior número de detenções na primeira metade deste ano. Então, mês de massacre contra Gaza e de múltiplas provocações sionistas no Complexo da Mesquita de al-Aqsa e em Jerusalém Oriental ocupada, as forças israelitas prenderam 3100 palestinianos, incluindo 2000 nos territórios ocupados em 1948 (actual Estado de Israel) e 677 em Jerusalém Oriental ocupada, informa a WAFA. De acordo com a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos, há actualmente nove presos em greve de fome nos cárceres israelitas como forma de protesto contra o regime de detenção administrativa que lhes foi aplicado. A Comissão pediu às instâncias internacionais e regionais de defesa dos direitos humanos que pressionem as autoridades israelitas no sentido de acabar com os maus-tratos aos presos em greve de fome, que passam também pela sua reclusão na solitária. Os presos palestinianos recorrem com frequência a esta forma de luta contra um regime de detenção ilegal, cujo fim exigem. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. De acordo com os grupos de defesa dos direitos dos prisioneiros palestinianos, há actualmente quase 550 nos cárceres israelitas detidos ao abrigo deste regime, que tem merecido ampla condenação internacional e que permite a Israel manter nas suas prisões, sem acusação ou julgamento, presos palestinianos por tempo indefinido, na medida em que o período de detenção, até seis meses, é infinitamente renovável. A detenção, que é decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta» – e é tão «secreta» que nem o advogado do detido tem direito a vê-la. Alguns prisioneiros palestinianos passaram mais de uma década nas cadeias israelitas ao abrigo deste regime de «detenção», que é considerado ilegal à luz do direito internacional. Como forma de protesto contra as suas detenções ilegais e para exigir que Israel ponha fim a esta prática, os presos palestinianos recorrem com frequência a greves de fome por tempo indeterminado. Apesar da pressão internacional e dos protestos dos prisioneiros, as autoridades israelitas não têm dado sinais de querer acabar com este regime. Pelo contrário, tanto a comissão referida como o Centro Palestiniano de Estudos sobre Prisioneiros têm dado conta de novas ordens de detenção administrativa e de múltiplas renovações. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Na maior parte dos casos, estavam presos ao abrigo do regime de detenção administrativa, como Hisham Abu Hawwash, de 40 anos, habitante da localidade de Dura (Cisjordânia ocupada) que se mantém há 140 dias em greve de fome e está numa situação considerada muito crítica. Nos últimos dias, as autoridades palestinianas alertaram para o estado de saúde crítico de Abu Hawwash, responsabilizaram Telavive por aquilo que lhe possa acontecer e pediram à comunidade internacional que pressione as autoridades israelitas para o libertarem. Também a Cruz Vermelha se mostrou preocupada com o caso, sublinhando a necessidade de tratar os reclusos com humanidade e de encontrar uma solução que evite «consequências irreversíveis» para Hawwash. De acordo com a SPP, este domingo cerca de 500 reclusos palestinianos presos em Israel ao abrigo do regime da detenção administrativa – criticado pela ONU – declararam o boicote aos tribunais israelitas, porque «sentem que os tribunais alinham sempre com o governo militar e as suas ordens, e não os tratam com imparcialidade». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. De acordo com a comissão, há actualmente mais de 760 presos nas cadeias israelitas sem acusação ou julgamento. A detenção, decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta», que nem o advogado do detido tem direito a ver. Cerca de 80% dos presos palestinianos neste regime são ex-presos que já passaram anos atrás das grades, revela a Wafa. Em comunicado, emitido há dias, o Ramo Penitenciário da Frente Popular para a Libertação da Palestina afirmou que «estes 30 prisioneiros, juntos, passaram quase 200 anos em detenção administrativa. Duzentos anos de cativeiro sem acusação ou julgamento por capricho dos oficiais de inteligência da ocupação». O texto, divulgado pela Samidoun (rede de solidariedade com os presos palestinianos), sublinha que se trata de uma «pena perpétua», uma vez que muitos presos são libertados durante alguns meses e são novamente detidos. «Temos um mês de liberdade por cada ano de detenção», afirmam. Dizem que são «alimentados pela dignidade» e querem que as autoridades israelitas saibam que, mesmo que os torturem e lhes provoquem dor, «que a nossa luta continua, e que semearemos alegria, vida e esperança, e que nossa luta pela liberdade e pela humanidade livre de tormentos não vai parar». Leila Khaled, membro do Comité Central da FPLP e símbolo da resistência palestiniana, anunciou uma greve de fome solidária com os presos, a quem saudou por estarem «na primeira linha do confronto a este inimigo criminoso fascista». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. De acordo com a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos, dos cerca de 4600 palestinianos actualmente presos nas cadeias israelitas, mais de 760 são reclusos sem acusação ou julgamento, cuja detenção pode ser infinitamente renovada por períodos até seis meses. A detenção, decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta», que nem o advogado do detido tem direito a ver. Após o início da greve de fome, Basil Mizher, outro advogado palestiniano detido sem acusação ou julgamento, viu ser-lhe renovada a detenção administrativa por mais três meses, no passado dia 28. Numa mensagem que Mizher escreveu no início do protesto, lida pela sua mãe numa acção solidária no campo de refugiados de Dheisheh, em Belém, o preso diz que a sua profissão é a de advogado, mas que mal se lembra dela, pois quase não a conseguiu exercer desde que se formou – foi submetido a três detenções administrativas desde que passou no exame. Em vez de ir trabalhar, foi para a prisão, lê-se no texto divulgado pela pela Samidoun (rede de solidariedade com os presos palestinianos). «Ou nos submetemos à opressão e à privação e aceitamos o roubo perpétuo da nossa liberdade e da nossa vida à vista do mundo, ou nos revoltamos contra a injustiça e derrubamos os muros do carcereiro com todas as ferramentas que temos», escreveu Basil Mizher a propósito da greve de fome, que é a «recusa da política de subordinação e domesticação». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Talahma, detido desde Março de 2022, é um advogado e antigo prisioneiro, que passou dois anos e meio nas cadeias israelitas. Abido é também um antigo prisioneiro, que passou cinco anos e meio nas prisões da ocupação – a maior parte do tempo ao abrigo do regime de detenção administrativa. Por seu lado, Dandis foi preso pela primeira vez a 23 de Março último, tendo-lhe sido imposta uma detenção administrativa por um período de seis meses. Este protesto ocorre num contexto em que Israel intensifica o recurso às detenções sem acusação ou julgamento. Segundo revelou a SPP, existem actualmente nas cadeias israelitas 1083 presos palestinianos a quem foi aplicado este regime de detenção, 17 dos quais são menores. O regime de detenção administrativa, que tem merecido ampla condenação internacional, permite a Israel manter nas suas prisões, sem acusação ou julgamento, presos palestinianos por tempo indefinido, na medida em que o período de detenção, até seis meses, é infinitamente renovável. O primeiro-ministro palestiniano, Mohammad Shtayyeh, responsabilizou Israel pelo «assassinato» de Khader Adnan, ao não atender ao protesto contra a sua detenção sem acusação ou julgamento. A Sociedade de Prisioneiros Palestinianos (SPP) afirmou, em comunicado, que Khader Adnan, de 44 anos, foi encontrado inconsciente esta madrugada na sua cela, tendo sido levado para um hospital, onde foi declarado morto. Adnan, natural da cidade de Arraba (perto de Jenin), foi preso 12 vezes ao longo da sua vida, tendo recorrido à greve de fome em diversas ocasiões para protestar contra as suas detenções sem qualquer acusação, afirmou a SPP, citada pela agência Wafa. A última detenção ocorreu a 5 de Fevereiro e Adnan entrou de imediato em greve de fome por tempo indeterminado, refere a fonte, acrescentando que pelo menos 236 presos palestinianos morreram desde 1967. Ao ter conhecimento da notícia, o primeiro-ministro palestiniano, Mohammad Shtayyeh, acusou Israel de ter cometido um assassinato. O número foi destacado pela Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) em conferência de imprensa. A maior parte encontra-se nos centros de detenção de Ofer e de Naqab (Neguev). O regime de detenção administrativa, que tem merecido ampla condenação internacional – até do Departamento de Estado norte-americano e da Amnistia Internacional –, permite a Israel manter nas suas prisões, sem acusação ou julgamento, presos palestinianos por tempo indefinido, na medida em que o período de detenção, até seis meses, é infinitamente renovável. Em relatórios anteriores, a SPP lembrou que esta política visa «esmagar os activistas políticos palestinianos» e se baseia num ficheiro secreto não acessível aos presos – nem sequer aos seus advogados. Os prisioneiros iniciaram uma greve de fome, há uma semana, para exigir a sua libertação e denunciar um regime de detenção que permite mantê-los na cadeia sem acusação ou julgamento. O protesto dos trinta presos palestinianos, membros e simpatizantes da Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP), completou uma semana sem solução aparente à vista, tendo em conta a inflexibilidade das autoridades de Telavive. Em comunicado, a Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) anunciou que os serviços prisionais israelitas têm estado a ameaçar com castigos os reclusos que lutam contra o regime de detenção administrativa. Entre as punições, contam-se privá-los de visitas, retirar-lhes os seus pertences e isolá-los em celas de castigo. Nesta primeira semana de protesto, os serviços prisionais israelitas colocaram 28 dos grevistas em quatro celas de isolamento na prisão de Ofer, informa a Wafa com base no documento divulgado pelo SPP. Um outro, o advogado Salah Hammouri, foi metido na solitária numa cadeia no Norte de Israel, enquanto Ghassan Zawahreh foi levado para uma cela de isolamento numa prisão localizada no Deserto do Neguev (al-Naqab). Os prisioneiros, em cadeias israelitas, iniciaram uma greve de fome por tempo indeterminado contra um regime que permite mantê-los detidos sem acusação ou julgamento, por períodos renováveis de seis meses. O início do protesto, este domingo, por parte de prisioneiros que são membros ou apoiantes da Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP), foi confirmado pela Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos. Em declarações à agência Wafa, Hassan Abed Rabbo, porta-voz da comissão, disse que os presos decidiram avançar contra uma política que permite a Israel manter nas suas prisões, sem acusação ou julgamento, presos palestinianos por tempo indefinido, na medida em que o período de detenção, até seis meses, é infinitamente renovável. Numa mensagem divulgada há alguns dias, os presos sublinharam que a luta contra o regime de detenção administrativa continua e denunciaram que as medidas tomadas pelas autoridades prisionais israelitas «já não se baseiam em obsessões de segurança, mas são actos de vingança devido ao seu passado». Qadri Abu Baker, líder da Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos, disse à Wafa que, na próxima quinta-feira, mais 50 presos se devem juntar à greve de fome, para denunciar o regime de detenção administrativa a que são submetidos e a escalada por parte de Israel no que respeita a este procedimento. O maior número de detenções administrativas – sem julgamento ou acusação – foi decretado em Maio, quando Israel lançou uma ofensiva de 11 dias contra a Faixa de Gaza. A Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) revelou, este domingo, que o número divulgado diz respeito tanto a novas ordens como à renovação de ordens já emitidas nos territórios ocupados, pelas autoridades israelitas. No documento apresentado, o organismo lembra que política de detenção administrativa visa «esmagar os activistas políticos palestinianos» e se baseia num ficheiro secreto não acessível aos presos – nem sequer aos seus advogados –, que são mantidos na cadeia sem acusação ou julgamento, informa a WAFA. O maior número de ordens de detenção administrativa foi emitido em Maio último, quando a Israel lançou uma ofensiva de 11 dias contra a Faixa de Gaza, explicou a organização de defesa dos presos, acrescentado que, ao longo do ano, 60 prisioneiros recorreram à greve de fome com o propósito de reconquistar a liberdade. Uma comissão de apoio aos prisioneiros revelou que 13 palestinianos permaneciam em greve de fome nas cadeias, este domingo, contra o regime que permite mantê-los reclusos sem acusação ou julgamento. Num comunicado ontem emitido, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos informou que o prisioneiro Salem Ziadat, de 40 anos, é, dos 13 que continuavam o protesto, aquele que está em greve de fome há mais tempo, permanecendo em jejum há 28 dias contra a sua detenção administrativa, sem acusação ou julgamento, revelou a agência WAFA. A Comissão informou ainda que o número de reclusos palestinianos em greve de fome até ontem era de 15, mas que Mohammad Khaled Abusill e Ahmad Abdulrahman Abusill tinham chegado a um acordo com o Serviço Prisional Israelita no que respeita à «limitação» da chamada detenção administrativa. Grupos de defesa dos presos apresentaram um relatório sobre o primeiro semestre de 2021. Nas cadeias israelitas, há actualmente 4850 palestinianos, 540 dos quais ao abrigo da «detenção administrativa». Entre os palestinianos que se encontram nos cárceres de Israel, contam-se 43 mulheres e 225 menores, segundo o documento conjunto divulgado este fim-de-semana pela Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos, a Sociedade dos Presos Palestinianos, a Addameer e o Centro de Informação Wadi Hilweh. Os organismos referidos precisaram que 12 presos são membros do Conselho Legislativo Palestiniano (Parlamento), 70 são provenientes dos territórios ocupados em 1948, 350 são originários de Jerusalém ocupada e 240 da Faixa de Gaza cercada. O informe destaca a existência de 540 prisioneiros palestinianos em detenção administrativa, sem acusação formada ou julgamento, por períodos de seis meses indefinidamente renováveis. No que respeita a detenções, os organismos de defesa dos presos revelaram que Israel prendeu 5426 palestinianos entre 1 de Janeiro e 30 de Junho deste ano – um número superior a todas as detenções efectuadas pelas forças israelitas em 2020 e registadas por estas organizações: 4636. Por ocasião do Dia da Criança Palestiniana, que se assinala a 5 de Abril, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos revelou também que 140 menores permanecem em cadeias israelitas. Os menores palestinianos, alguns dos quais crianças, continuam a ser alvo das forças militares israelitas, que os prendem, muitas vezes de forma violenta, nos territórios ocupados. De acordo com um relatório publicado este domingo pela Sociedade dos Prisioneiros Palestinianos, pelo menos 230 foram detidos desde o início do ano, a maioria dos quais em Jerusalém Oriental ocupada. O grupo de defesa dos direitos dos presos sublinhou que «as crianças encarceradas são submetidas a vários tipos de abusos, incluindo «a recusa de comida e de bebida por longas horas, abuso verbal e a detenção em condições duras». O informe veio a lume na véspera do Dia da Criança Palestiniana, que se assinala a 5 de Abril, com actividades culturais, educativas e mediáticas que, refere a PressTV, visam reforçar a consciência sobre o sofrimento dos menores palestinianos. Também no âmbito do Dia da Criança Palestiniana, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos revelou que 140 menores permanecem em cadeias israelitas, incluindo dois que se encontram presos ao abrigo do regime de detenção administrativa. Uma comissão da ONU reafirmou denúncias expostas em vários relatórios sobre detenções de menores palestinianos por Israel – quase sempre presos de noite, algemados e vendados. É o início da «viagem ao inferno». A instância, composta por especialistas independentes das Nações Unidas, expressou particular preocupação pela expansão dos colonatos e o aumento da violência dos colonos israelitas, em que se incluem ataques a crianças e às suas escolas. Segundo se pode ler no portal oficial de notícias da ONU, na semana passada diversas organizações informaram a comissão sobre as operações nocturnas levadas a efeito pelas forças israelitas com o propósito de deter crianças e adolescentes na Cisjordânia ocupada, com «graves consequências para o seu bem-estar e gozo dos seus direitos». «Mais de 300 crianças estão detidas no sistema militar israelita. A maioria por delitos menores, como atirar pedras e publicações nas redes sociais», assinala a comissão, que denuncia o facto de os menores serem «levados para locais desconhecidos, presos em viaturas militares e sujeitos a ameaças e abusos verbais», bem como o facto de, por vezes, serem «obrigados a assinar confissões em hebraico, uma língua que não costumam entender». Estas preocupações reafirmam as que têm sido veiculadas, ao longo do tempo, por várias entidades, nomeadamente a Comissão dos Prisioneiros Palestinianos, órgão dependente da Autoridade Palestiniana que, em diversas ocasiões (também este ano), alertou para o facto de os menores serem torturados e sofrerem abusos nos cárceres israelitas, bem como para o facto de serem espancados, insultados e pressionados no momento da detenção. No final de Março, um relatório publicado pelo Ministério palestiniano da Informação denunciava também esta realidade, afirmando que «95% das crianças palestinianas presas pelas autoridades israelitas foram torturadas durante a detenção». De acordo com o relatório, até 2015 foram documentadas anualmente 700 detenções de menores palestinianos. Já em 2017, Israel prendeu 1467 crianças e adolescentes; 1063 no ano seguinte e, nos dois primeiros dois meses deste ano, 118. Entre 2000 e 2018, foram presos mais de 16 mil menores. Numa peça intitulada «“Endless Trip to Hell”: Israel Jails Hundreds of Palestinian Boys a Year. These Are Their Testimonies», publicada em Março e plenamente actual, o periódico israelita Haaretz aborda esta realidade, em que as crianças, algumas com idades inferiores a 13 anos, «são detidas pela calada da noite, vendadas e algemadas, alvo de abusos e constrangidas» a confessar «crimes» que não cometeram. A peça, que reúne testemunhos de sete jovens da Margem Ocidental ocupada com idades compreendidas entre os dez e os 15 anos, revela as diversas fases do processo de detenção, que começa nas operações nocturnas e passa pelo interrogatório, a prisão, o julgamento e a proposta de um acordo. Na sua maioria, os jovens são presos por, alegadamente, terem atirado pedras ou queimado pneus, mas, como sublinha a advogada Farah Bayadsi o objectivo das detenções «é mais para mostrar controlo do que para aplicar a lei». A experiência traumática é fundamentada por tudo aquilo por que as crianças passam durante uma detenção. Arrancadas de casa quando dormem, são algemadas e vendadas, levadas em veículos militares para colonatos e bases israelitas, passando por todo um processo que envolve intimidação, ameaças, agressões físicas, afastamento da família e pressão para «confessar». O nível de brutalidade varia. Khaled Mahmoud Selvi, preso quando tinha 15 anos, foi levado para a prisão e despido (o que, de acordo com o jornal, ocorre em 55% dos casos), tendo sido obrigado a permanecer dez minutos nu, em pé, durante o Inverno. De acordo com os dados recolhidos pela organização não governamental (ONG) British-Palestinian Military Court Watch, 97% dos jovens palestinianos detidos pelas forças militares israelitas (IDF) vivem em pequenas localidades a menos de dois quilómetros de um colonato. O advogado Gerard Horton, da ONG referida, afirma que a ideia é «assustar toda a aldeia» e que se trata de um «instrumento eficaz» para controlar uma comunidade. Acrescenta que, do ponto de vista dos ocupantes e opressores, a pressão «tem de ser constante»: «Cada geração tem de sentir a mão pesada das IDF.» A experiência é traumática. O pai de Khaled Shtaiwi, preso com 13 anos em Novembro do ano passado, contou ao periódico que criou na sua aldeia o «dia da psicologia», porque o seu filho não é capaz de falar sobre o que se passou e porque quer ajudar todas as crianças que foram presas pelos israelitas. Em Beit Ummar, Omar Ayyash foi preso com dez anos de idade, em Dezembro último. Agora, as crianças que brincam nas ruas da aldeia afastam-se assim que se apercebem da aproximação de soldados israelitas. Tornou-se um hábito desde que as tropas levaram Omar. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Por seu lado, a organização Defense for Children International – Palestine (DCIP) destacou que todos os anos entre 500 e 700 menores palestinianos são processados em tribunais militares israelitas e que 85% das crianças palestinianas detidas em 2020 foram «submetidas a violência física». Num comunicado, a DCIP afirma ter documentado 27 casos em que as crianças foram mantidas na solitária um ou dois dias, alegando as forças israelitas «objectivos de investigação». Esta prática é, segundo o organismo, uma forma de «tortura ou tratamento cruel, desumano e degradante». Desde Outubro de 2015, a DCIP registou a 36 ordens de detenção administrativa decretadas contra menores palestinianos, dois dos quais se mantêm nesse regime. Ainda de acordo com o organismo sediado em Genebra, em 2020, as forças israelitas mataram nove menores palestinianos na Cisjordânia ocupada, incluindo Jerusalém Oriental, e na Faixa de Gaza, seis dos quais com fogo real. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. O relatório divulgado este fim-de-semana informa que, entre os palestinianos detidos pelas forças israelitas, se incluem 854 menores e 107 mulheres, tendo sido emitidas na primeira metade do ano 680 ordens de detenção administrativa, incluindo 312 novas. No mês de Junho foram presos 615 palestinianos, revela o texto, destacando que Maio foi de longe o mês em que se registou um maior número de detenções na primeira metade deste ano. Então, mês de massacre contra Gaza e de múltiplas provocações sionistas no Complexo da Mesquita de al-Aqsa e em Jerusalém Oriental ocupada, as forças israelitas prenderam 3100 palestinianos, incluindo 2000 nos territórios ocupados em 1948 (actual Estado de Israel) e 677 em Jerusalém Oriental ocupada, informa a WAFA. De acordo com a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos, há actualmente nove presos em greve de fome nos cárceres israelitas como forma de protesto contra o regime de detenção administrativa que lhes foi aplicado. A Comissão pediu às instâncias internacionais e regionais de defesa dos direitos humanos que pressionem as autoridades israelitas no sentido de acabar com os maus-tratos aos presos em greve de fome, que passam também pela sua reclusão na solitária. Os presos palestinianos recorrem com frequência a esta forma de luta contra um regime de detenção ilegal, cujo fim exigem. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. De acordo com os grupos de defesa dos direitos dos prisioneiros palestinianos, há actualmente quase 550 nos cárceres israelitas detidos ao abrigo deste regime, que tem merecido ampla condenação internacional e que permite a Israel manter nas suas prisões, sem acusação ou julgamento, presos palestinianos por tempo indefinido, na medida em que o período de detenção, até seis meses, é infinitamente renovável. A detenção, que é decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta» – e é tão «secreta» que nem o advogado do detido tem direito a vê-la. Alguns prisioneiros palestinianos passaram mais de uma década nas cadeias israelitas ao abrigo deste regime de «detenção», que é considerado ilegal à luz do direito internacional. Como forma de protesto contra as suas detenções ilegais e para exigir que Israel ponha fim a esta prática, os presos palestinianos recorrem com frequência a greves de fome por tempo indeterminado. Apesar da pressão internacional e dos protestos dos prisioneiros, as autoridades israelitas não têm dado sinais de querer acabar com este regime. Pelo contrário, tanto a comissão referida como o Centro Palestiniano de Estudos sobre Prisioneiros têm dado conta de novas ordens de detenção administrativa e de múltiplas renovações. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Na maior parte dos casos, estavam presos ao abrigo do regime de detenção administrativa, como Hisham Abu Hawwash, de 40 anos, habitante da localidade de Dura (Cisjordânia ocupada) que se mantém há 140 dias em greve de fome e está numa situação considerada muito crítica. Nos últimos dias, as autoridades palestinianas alertaram para o estado de saúde crítico de Abu Hawwash, responsabilizaram Telavive por aquilo que lhe possa acontecer e pediram à comunidade internacional que pressione as autoridades israelitas para o libertarem. Também a Cruz Vermelha se mostrou preocupada com o caso, sublinhando a necessidade de tratar os reclusos com humanidade e de encontrar uma solução que evite «consequências irreversíveis» para Hawwash. De acordo com a SPP, este domingo cerca de 500 reclusos palestinianos presos em Israel ao abrigo do regime da detenção administrativa – criticado pela ONU – declararam o boicote aos tribunais israelitas, porque «sentem que os tribunais alinham sempre com o governo militar e as suas ordens, e não os tratam com imparcialidade». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. De acordo com a comissão, há actualmente mais de 760 presos nas cadeias israelitas sem acusação ou julgamento. A detenção, decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta», que nem o advogado do detido tem direito a ver. Cerca de 80% dos presos palestinianos neste regime são ex-presos que já passaram anos atrás das grades, revela a Wafa. Em comunicado, emitido há dias, o Ramo Penitenciário da Frente Popular para a Libertação da Palestina afirmou que «estes 30 prisioneiros, juntos, passaram quase 200 anos em detenção administrativa. Duzentos anos de cativeiro sem acusação ou julgamento por capricho dos oficiais de inteligência da ocupação». O texto, divulgado pela Samidoun (rede de solidariedade com os presos palestinianos), sublinha que se trata de uma «pena perpétua», uma vez que muitos presos são libertados durante alguns meses e são novamente detidos. «Temos um mês de liberdade por cada ano de detenção», afirmam. Dizem que são «alimentados pela dignidade» e querem que as autoridades israelitas saibam que, mesmo que os torturem e lhes provoquem dor, «que a nossa luta continua, e que semearemos alegria, vida e esperança, e que nossa luta pela liberdade e pela humanidade livre de tormentos não vai parar». Leila Khaled, membro do Comité Central da FPLP e símbolo da resistência palestiniana, anunciou uma greve de fome solidária com os presos, a quem saudou por estarem «na primeira linha do confronto a este inimigo criminoso fascista». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. De acordo com a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos, dos cerca de 4600 palestinianos actualmente presos nas cadeias israelitas, mais de 760 são reclusos sem acusação ou julgamento, cuja detenção pode ser infinitamente renovada por períodos até seis meses. A detenção, decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta», que nem o advogado do detido tem direito a ver. Após o início da greve de fome, Basil Mizher, outro advogado palestiniano detido sem acusação ou julgamento, viu ser-lhe renovada a detenção administrativa por mais três meses, no passado dia 28. Numa mensagem que Mizher escreveu no início do protesto, lida pela sua mãe numa acção solidária no campo de refugiados de Dheisheh, em Belém, o preso diz que a sua profissão é a de advogado, mas que mal se lembra dela, pois quase não a conseguiu exercer desde que se formou – foi submetido a três detenções administrativas desde que passou no exame. Em vez de ir trabalhar, foi para a prisão, lê-se no texto divulgado pela pela Samidoun (rede de solidariedade com os presos palestinianos). «Ou nos submetemos à opressão e à privação e aceitamos o roubo perpétuo da nossa liberdade e da nossa vida à vista do mundo, ou nos revoltamos contra a injustiça e derrubamos os muros do carcereiro com todas as ferramentas que temos», escreveu Basil Mizher a propósito da greve de fome, que é a «recusa da política de subordinação e domesticação». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Alguns prisioneiros palestinianos passaram mais de uma década nas cadeias israelitas ao abrigo deste sistema, e é comum os presos recorrerem a greves de fome por tempo indeterminado como forma de chamar a atenção para os seus casos e fazer pressão junto das autoridades israelitas para que os libertem. Agora, a SPP revelou também que, dos 835 palestinianos actualmente presos ao abrigo deste regime, 80 são mulheres, indica a agência Wafa. Além disso, a organização não governamental (ONG) informou que, ao longo de 2022, as autoridades israelitas emitiram 2134 ordens de detenção administrativa, 242 das quais em Novembro (o ano passado foram 1595). Desde o início de 2022 até ao fim de Novembro, as forças israelitas prenderam 6500 palestinianos, revelou a SPP, citada pela agência turca Anadolu. Entre os detidos, contavam-se 153 mulheres e 811 menores de idade acrescentou. As forças de ocupação israelitas detiveram 5300 palestinianos desde o princípio deste ano, incluindo 111 mulheres e 620 menores de idade, revelou esta segunda-feira uma organização não governamental. Em comunicado, a Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) afirmou que, com 2353 detenções registadas, Jerusalém Oriental ocupada se situa no primeiro lugar por regiões, e que Abril foi o mês com maior número de detenções (1228 casos), noticia a agência Wafa. A SPP condenou os ataques e raides israelitas contra cidades, aldeias e campos de refugiados na Cisjordânia ocupada para prender activistas, referindo que muitos palestinianos foram mortos, nesse processo, pelas balas do Exército. Neste contexto, o número de execuções extrajudiciais no terreno, em 2022, é mais elevado por comparação com anos anteriores, alertou a SPP, que também questionou os bloqueios militares a localidades e campos de refugiados palestinianos, classificando-os como uma punição colectiva. No que respeita às detenções administrativas, a organização afirmou que este ano, até à data, foram emitidas 1160. Só no mês de Agosto, foram decretadas 272, pelo que, no final de Setembro, havia cerca de 800 palestinianos nas prisões israelitas detidos sem acusação ou julgamento. Ao abrigo deste regime, os períodos de detenção podem ser infinitamente renovados por períodos até seis meses. A detenção, decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta», que nem o advogado do detido tem direito a ver. De forma reiterada, os presos palestinianos detidos sob este regime iniciam greves de fome para denunciar os seus casos e a política de detenção administrativa, exigindo a sua libertação. Diversas instâncias das Nações Unidas têm denunciado repetidamente este regime israelita de detenção, na medida em que não faculta aos detidos palestinianos as «salvaguardas jurídicas básicas» e violam o direito internacional humanitário. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Só no mês de Novembro, foram detidos 490 palestinianos, incluindo 76 menores e 12 mulheres, informaram, num relatório conjunto, a SPP, a Addameer, o Centro de Informação Wadi Hilweh e a Comissão dos Assuntos dos Presos e Ex-Presos Palestinianos. No relatório mensal a que o Middle East Monitor faz referência, as quatro organizações de defesa dos direitos presos afirmaram que, no mês passado, o maior número de detenções ocorreu em Hebron (al-Khalil; 135 casos), seguida por Jerusalém (123), Ramallah (52), Jenin e Nablus. De acordo com os grupos, há actualmente nas cadeias israelitas cerca de 4700 palestinianos presos, incluindo 34 mulheres e 150 menores. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. «A ocupação israelita e a sua administração prisional levaram a cabo o assassinato deliberado do preso Khader Adnan ao rejeitar o seu pedido de libertação, ao negligenciá-lo medicamente e ao mantê-lo na sua cela apesar da gravidade do seu estado de saúde», afirmou Shtayyeh em comunicado. Várias facções palestinianas pronunciaram-se no mesmo sentido, responsabilizando Israel pela morte de Khader Adnan e sublinhando o crime «premeditado e a sangue-frio». Por seu lado, o Ministério palestiniano dos Negócios Estrangeiros pediu uma investigação internacional sobre a morte do prisioneiro e instou o Tribunal Penal Internacional a incluir este caso no processo relativo aos crimes de guerra cometidos por Israel contra o povo palestiniano nos territórios ocupados. Para denunciar «o crime que levou à morte» de Khader Adnan numa prisão israelita, foi declarada, esta terça-feira, uma greve geral que «afecta todos os aspectos da vida», tanto na Faixa de Gaza cercada como na Margem Ocidental ocupada, incluindo Jerusalém Oriental, indica a Wafa. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Em relatórios anteriores, a SPP lembrou que esta política visa «esmagar os activistas políticos palestinianos» e se baseia num ficheiro secreto não acessível aos presos – nem sequer aos seus advogados. Alguns prisioneiros palestinianos passaram mais de uma década nas cadeias israelitas ao abrigo deste sistema, e é comum os presos recorrerem a greves de fome por tempo indeterminado como forma de chamar a atenção para os seus casos e fazer pressão junto das autoridades israelitas para que os libertem. A 2 de Maio último, Khader Adnan, de 44 anos, morreu na cadeia, quase três meses depois de ter iniciado uma greve de fome contra a sua detenção sem acusação ou julgamento. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Num comunicado de imprensa, que a Wafa cita, a Comissão exigiu «acção real e tangível, no sentido de formar um comité internacional de direitos humanos que vá imediatamente às prisões da ocupação israelita, analise o crime [de detenção administrativa] em todos os seus detalhes e observe de perto o sofrimento dos detidos administrativos, que estão presos sem quaisquer acusações ou julgamentos, e vivem à mercê dos chamados oficiais dos serviços de inteligência israelitas». «Os abusos imorais e desumanos associados à utilização desta política pela potência ocupante violam todos os princípios do direito internacional e da humanidade, e estão em contradição real com os teóricos da democracia e aqueles que afirmam ser democráticos em todo o mundo, especialmente na América e na Europa», acrescenta a nota. De acordo com os dados divulgados em Junho último pela organização israelita de defesa dos direitos B'Tselem, em Março deste ano, Israel mantinha nas suas prisões 1017 pessoas em regime de detenção administrativa. É preciso recuar duas décadas, até Abril de 2003, para encontrar um número mais elevado de detidos administrativos nas prisões israelitas – 1140 –, referiu a organização. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. «De acordo com a lei militar que se aplica na Cisjordânia, uma pessoa pode ser detida administrativamente durante seis meses, mas a ordem pode ser renovada, pelo que a reclusão na prática é indefinida e os detidos nunca sabem quando serão libertados», alertou a B'Tselem, outra organização israelita de defesa dos direitos humanos nos territórios ocupados. De forma sistemática, presos administrativos entram em greve de fome por tempo indeterminado para chamar a atenção para os seus casos e forçar a sua libertação. Em meados de Agosto, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos pediu à chamada comunidade internacional que quebre o silêncio em torno do «crime israelita da detenção administrativa». Num comunicado de imprensa, divulgado pela Wafa, a Comissão exigiu «acção real e tangível, no sentido de formar um comité internacional de direitos humanos que vá imediatamente às prisões da ocupação israelita, analise o crime [de detenção administrativa] em todos os seus detalhes e observe de perto o sofrimento dos detidos administrativos, que estão presos sem quaisquer acusações ou julgamentos, e vivem à mercê dos chamados oficiais dos serviços de inteligência israelitas». «Os abusos imorais e desumanos associados à utilização desta política pela potência ocupante violam todos os princípios do direito internacional e da humanidade, e estão em contradição real com os teóricos da democracia e aqueles que afirmam ser democráticos em todo o mundo, especialmente na América e na Europa», afirmou o organismo. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Desde 28 de Setembro de 2000 até à data, refere a Comissão, foram detidas mais de 2600 raparigas e mulheres, incluindo quatro que deram à luz na cadeia. No mesmo período, foram emitidas 32 mil ordens de detenção administrativa, a que Israel recorre para manter reclusos nas cadeias sem acusação nem julgamento, com base numa «prova secreta» que nem o advogado do detido pode ver. A Comissão registou um aumento «assinalável» no recurso a este regime, amplamente condenado a nível internacional, contra o qual os presos palestinianos protestam, de forma reiterada, entrando em greve de fome por tempo indeterminado, para exigir a sua libertação e o fim da aplicação da política de detenção referida. «De acordo com a lei militar que se aplica na Cisjordânia, uma pessoa pode ser detida administrativamente durante seis meses, mas a ordem pode ser renovada, pelo que a reclusão na prática é indefinida e os detidos nunca sabem quando serão libertados», alertou recentemente a B'Tselem, uma organização israelita de defesa dos direitos humanos nos territórios ocupados. Uma comissão da ONU reafirmou denúncias expostas em vários relatórios sobre detenções de menores palestinianos por Israel – quase sempre presos de noite, algemados e vendados. É o início da «viagem ao inferno». A instância, composta por especialistas independentes das Nações Unidas, expressou particular preocupação pela expansão dos colonatos e o aumento da violência dos colonos israelitas, em que se incluem ataques a crianças e às suas escolas. Segundo se pode ler no portal oficial de notícias da ONU, na semana passada diversas organizações informaram a comissão sobre as operações nocturnas levadas a efeito pelas forças israelitas com o propósito de deter crianças e adolescentes na Cisjordânia ocupada, com «graves consequências para o seu bem-estar e gozo dos seus direitos». «Mais de 300 crianças estão detidas no sistema militar israelita. A maioria por delitos menores, como atirar pedras e publicações nas redes sociais», assinala a comissão, que denuncia o facto de os menores serem «levados para locais desconhecidos, presos em viaturas militares e sujeitos a ameaças e abusos verbais», bem como o facto de, por vezes, serem «obrigados a assinar confissões em hebraico, uma língua que não costumam entender». Estas preocupações reafirmam as que têm sido veiculadas, ao longo do tempo, por várias entidades, nomeadamente a Comissão dos Prisioneiros Palestinianos, órgão dependente da Autoridade Palestiniana que, em diversas ocasiões (também este ano), alertou para o facto de os menores serem torturados e sofrerem abusos nos cárceres israelitas, bem como para o facto de serem espancados, insultados e pressionados no momento da detenção. No final de Março, um relatório publicado pelo Ministério palestiniano da Informação denunciava também esta realidade, afirmando que «95% das crianças palestinianas presas pelas autoridades israelitas foram torturadas durante a detenção». De acordo com o relatório, até 2015 foram documentadas anualmente 700 detenções de menores palestinianos. Já em 2017, Israel prendeu 1467 crianças e adolescentes; 1063 no ano seguinte e, nos dois primeiros dois meses deste ano, 118. Entre 2000 e 2018, foram presos mais de 16 mil menores. Numa peça intitulada «“Endless Trip to Hell”: Israel Jails Hundreds of Palestinian Boys a Year. These Are Their Testimonies», publicada em Março e plenamente actual, o periódico israelita Haaretz aborda esta realidade, em que as crianças, algumas com idades inferiores a 13 anos, «são detidas pela calada da noite, vendadas e algemadas, alvo de abusos e constrangidas» a confessar «crimes» que não cometeram. A peça, que reúne testemunhos de sete jovens da Margem Ocidental ocupada com idades compreendidas entre os dez e os 15 anos, revela as diversas fases do processo de detenção, que começa nas operações nocturnas e passa pelo interrogatório, a prisão, o julgamento e a proposta de um acordo. Na sua maioria, os jovens são presos por, alegadamente, terem atirado pedras ou queimado pneus, mas, como sublinha a advogada Farah Bayadsi o objectivo das detenções «é mais para mostrar controlo do que para aplicar a lei». A experiência traumática é fundamentada por tudo aquilo por que as crianças passam durante uma detenção. Arrancadas de casa quando dormem, são algemadas e vendadas, levadas em veículos militares para colonatos e bases israelitas, passando por todo um processo que envolve intimidação, ameaças, agressões físicas, afastamento da família e pressão para «confessar». O nível de brutalidade varia. Khaled Mahmoud Selvi, preso quando tinha 15 anos, foi levado para a prisão e despido (o que, de acordo com o jornal, ocorre em 55% dos casos), tendo sido obrigado a permanecer dez minutos nu, em pé, durante o Inverno. De acordo com os dados recolhidos pela organização não governamental (ONG) British-Palestinian Military Court Watch, 97% dos jovens palestinianos detidos pelas forças militares israelitas (IDF) vivem em pequenas localidades a menos de dois quilómetros de um colonato. O advogado Gerard Horton, da ONG referida, afirma que a ideia é «assustar toda a aldeia» e que se trata de um «instrumento eficaz» para controlar uma comunidade. Acrescenta que, do ponto de vista dos ocupantes e opressores, a pressão «tem de ser constante»: «Cada geração tem de sentir a mão pesada das IDF.» A experiência é traumática. O pai de Khaled Shtaiwi, preso com 13 anos em Novembro do ano passado, contou ao periódico que criou na sua aldeia o «dia da psicologia», porque o seu filho não é capaz de falar sobre o que se passou e porque quer ajudar todas as crianças que foram presas pelos israelitas. Em Beit Ummar, Omar Ayyash foi preso com dez anos de idade, em Dezembro último. Agora, as crianças que brincam nas ruas da aldeia afastam-se assim que se apercebem da aproximação de soldados israelitas. Tornou-se um hábito desde que as tropas levaram Omar. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. No relatório agora publicado, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos refere-se ainda ao recurso à tortura nos cárceres israelitas, bem como aos assassinatos e às «execuções lentas» por falta de cuidados médicos. Denuncia igualmente a «escalada de casos de opressão, abuso e incitação racista» contra os presos palestinianos. De acordo com o organismo, estão actualmente detidos em cadeias israelitas, nos territórios ocupados em 1948, cerca de 5200 palestinianos. Destes, 38 são mulheres e 170 são menores de idade. Há ainda mais de 1250 presos palestinianos em regime de detenção administrativa e 700 reclusos doentes, 24 dos quais com enfermidades oncológicas. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Num comunicado posterior, as Brigadas al-Qassam afirmaram ter capturado «mais de 35 soldados e civis israelitas do colonato sionista de Sderot». A operação desta manhã apanhou de surpresa o Exército da ocupação, o que está a valer múltiplas críticas ao governo de Netanyahu, em Israel. Entretanto, foi declarado o «estado de preparação para a guerra» entre as forças militares israelitas, e o ministro da Defesa, que aprovou o recrutamento de soldados na reserva, declarou o estado de emergência numa faixa de 80 quilómetros em redor da Faixa de Gaza. A agência Wafa já deu conta de bombardeamentos israelitas contra o enclave costeiro nas últimas horas, dos quais resultaram vários mortos. A mesma fonte refere que o Ministério palestiniano da Saúde colocou todas as unidades hospitalares do país em situação de emergência. De acordo com as autoridades de saúde no enclave costeiro, pelo menos 198 pessoas morreram e mais de 1600 ficaram feridas (muitas das quais em estado grave) como consequência dos bombardeamentos israelitas contra a Faixa e Gaza ao longo do dia, refere a Wafa, em retaliação contra o ataque da resistência palestiniana, esta manhã. Por seu lado, a agência Prensa Latina refere-se à morte de uma centena de israelitas e cerca de 900 feridos, no contexto da operação de grande escala da resistência palestiniana, que ocupou diversas localidades e bases militares da ocupação próximas do enclave cercado. Entretanto, a Wafa dá conta de vários ataques da parte de colonos e forças israelitas contra diversas localidades e bairros palestinianos na Cisjordânia e Jerusalém ocupadas, dos quais resultaram pelo menos um morto e um número indeterminado de feridos. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Israel retaliou com a «Operação Espadas de Ferro», com ataques aéreos sobre a Faixa de Gaza sitiada e, de acordo com a última contagem do Ministério da Saúde palestiniano, 313 habitantes de Gaza morreram na ofensiva, incluindo 20 crianças, enquanto outros 1990 palestinianos ficaram feridos no enclave. Do lado israelita, foram confirmadas até à manhã de hoje cerca de 300 pessoas mortas e 1864 feridas, das quais 19 estão em estado crítico, 326 em estado grave e as restantes em estado moderado ou ligeiro. No ano em que se assinalam os 75 anos da Nakba (catástrofe), «mais de cinco décadas depois de Israel ocupar militarmente a totalidade do território da Palestina histórica», o MPPM lembra que a campanha de limpeza étnica que acompanhou a formação de Israel se prolonga até hoje. «Em Gaza, de onde partiu esta acção, vivem cerca de 2,2 milhões de pessoas, descendentes dessas sucessivas vagas de limpeza étnica», alerta o movimento. Apesar de as Nações Unidas o considerarem «impróprio para sustentar a vida humana», desde 2006 que o Estado israelita impõe um «bloqueio criminoso» sobre aquele território. Uma ONG palestiniana e outra israelita acusam Israel de ter trabalhado para «branquear a verdade» sobre os crimes cometidos pelas suas tropas durante os protestos da Grande Marcha do Retorno, em Gaza. Num relatório conjunto, o Centro Palestiniano para os Direitos Humanos (PCHR), sediado em Gaza, e a organização israelita B'Tselem analisam as investigações que Israel diz ter levado a cabo na sequência da repressão exercida pelas forças israelitas sobre os manifestantes que, na Faixa de Gaza, reclamaram o direito de regresso dos refugiados a suas casas. Os protestos conhecidos como Grande Marcha do Retorno começaram a 30 de Março de 2018 e prolongaram-se por mais de um ano e meio. Pelo menos 200 palestinianos foram mortos e 13 500 ficaram feridos – seguindo os números por baixo, uma vez que outras fontes apontam para mais de 300 mortos e cerca de 18 mil feridos, várias dezenas dos quais menores. O vento e a chuva forte que se abateram esta semana sobre Gaza não impediram centenas de manifestantes de participarem, na sexta-feira, na última manifestação de 2019 da Grande Marcha do Retorno. Dezenas de palestinianos foram feridos esta sexta-feira pelas forças israelitas na Faixa de Gaza, quando participavam na 86.ª manifestação da Grande Marcha do Retorno, perto da vedação com que Israel isola o território palestino, segundo o Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente (MPPM). Vários dos participantes nas manifestações, segundo o MPPM, foram feridos por balas reais e revestidas de borracha, enquanto dezenas de outros sofreram de asfixia por efeito do gás lacrimogéneo disparado pelas forças de ocupação. Centenas de manifestantes participaram nos protestos apesar das adversas condições climatéricas. A Faixa de Gaza tem sido batida por vento e chuva forte na última semana, com as inundações a porem em risco cerca de 235 mil pessoas nas áreas mais baixas da Faixa de Gaza, segundo um relatório do Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA) no território palestiniano ocupado. A 30 de Março os palestinianos comemoram o Dia da Terra. Nesse dia, em 1976, no Norte de Israel, foram assassinados seis palestinianos que protestavam contra a expropriação de terras para dar lugar a aldeamentos judaicos. Cerca de 100 outras pessoas ficaram feridas e centenas foram presas durante a greve geral e as grandes manifestações de protesto que, no mesmo dia, ocorreram no território do Estado de Israel. A 30 de Março de 2018 a comemoração atingiu uma dimensão inusitada, ao tornar a celebração deste dia como o primeiro de uma «Grande Marcha do Retorno», uma reclamação do direito de regresso dos refugiados aos seus lares – tal como prescreve a resolução 194 das Nações Unidas – à Palestina histórica, de onde mais de 700 mil pessoas foram expulsas pelas tropas israelitas em 1948, durante a chamada «catástrofe» («Nakba», em árabe). Desde então o protesto repete-se semanalmente, violentamente reprimido pelas forças israelitas, incluindo com o recurso a snipers e fogo real directo. Como resultado, pelo menos 348 palestinos foram mortos em Gaza por fogo israelita desde o início das marchas, a maioria deles durante as manifestações, segundo uma contagem da AFP citada pelo MPPM. Para além disso, o Ministério da Saúde de Gaza regista mais de 18 mil feridos pelas forças repressivas sionistas. Entre as baixas contam-se crianças, mulheres, muitos adolescentes, jornalistas e trabalhadores dos serviços de saúde que tentam socorrer os manifestantes. Em Março, uma missão de averiguação da ONU concluiu que as forças israelitas cometeram violações de direitos humanos na repressão dos manifestantes em Gaza, o que pode constituir crimes de guerra. Os organizadores da Grande Marcha do Retorno anunciaram nesta quinta-feira que os protestos seriam suspensos até Março de 2020, altura em que serão retomados, coincidindo com o seu segundo aniversário e também com o Dia da Terra palestina (30 de Março). A partir daí realizar-se-ão a um ritmo mensal. Além do bloqueio a que sujeita a Faixa de Gaza, na última década Israel lançou três guerras de agressão contra o pequeno território palestino e dezenas de ataques de escala mais limitada, matando milhares de pessoas e causando enormes destruições de casas e infra-estruturas. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. As duas organizações não governamentais (ONG) acusam Israel de proteger os responsáveis políticos e militares, «em vez de tomar medidas contra as pessoas que conceberam e implementaram a política ilegal de atirar a matar». Israel foi célere a anunciar que estava a investigar os protestos, sobretudo devido aos procedimentos em curso no Tribunal Penal Internacional (TPI), afirmaram as organizações numa conferência de imprensa, a que a agência WAFA faz referência. Isso deve-se ao princípio da complementaridade do TPI, ou seja, se um Estado «estiver disposto e tiver capacidade» para realizar a investigação e a efectuar, o TPI não intervém. No entanto, não basta declarar que uma investigação está a ser feita; ela tem de ser eficaz, dirigida às altas patentes responsáveis e conduzir a uma acção contra elas, sublinham, acrescentando que isso não ocorre neste caso. «As investigações conduzidas por Israel não são mais do que uma cortina de fumo erguida para proteger do TPI os funcionários responsáveis. Israel não quer e não consegue investigar as violações de direitos humanos perpetradas pelas suas forças durante os protestos da Grande Marcha de Retorno na Faixa de Gaza. Tendo isto em conta, cabe agora ao TPI garantir a responsabilização penal», disseram as duas organizações. «Estas investigações – tal como as levadas a cabo pelo sistema de aplicação da lei militar noutros casos em que soldados causaram danos aos palestinianos – fazem parte do mecanismo de branqueamento de Israel, e o seu principal objectivo continua a ser silenciar as críticas externas, para que Israel possa continuar a implementar sua política sem mudanças», lê-se no portal da B'Tselem. A mudança da embaixada norte-americana de Telavive para Jerusalém fica associada a um «Dia de Raiva» na Palestina. Na Faixa de Gaza cercada, os franco-atiradores israelitas massacram os manifestantes. Quando o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel e a intenção de mudar a Embaixada do seu país de Telavive para essa cidade, ficou claro que tal passo constituía uma declaração de apoio ao Estado de Israel e à sua política de ocupação e repressão na Palestina, nomeadamente em Jerusalém. Várias organizações têm denunciado o número crescente de ameaças em locais religiosos não-judaicos, na cidade, bem como a intensificação do plano de «judaização» de Jerusalém Oriental, com o aumento da construção de colonatos e a expulsão da população palestiniana de suas casas, que são muitas vezes demolidas. Declarada por Israel como sua capital, Jerusalém tem o estatuto, reconhecido pelas Nações Unidas, de cidade ocupada, sendo Israel a potência ocupante (desde 1967). Os palestinianos querem-na como sua capital e quem apoia a solução dos «dois estados» reconhece que o Estado da Palestina tem em Jerusalém Oriental a sua capital. Logo em Dezembro, foi generalizado o repúdio internacional pela decisão da administração norte-americana e, a 21 desse mês, materializou-se na aprovação, por esmagadora maioria, na Assembleia Geral das Nações Unidas, de uma resolução que rejeita essa decisão e insta todos os estados-membros a não estabelecerem missões diplomáticas em Jerusalém, de acordo com a resolução 478 do Conselho de Segurança, de 1980. Esse repúdio face ao reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel também se fez sentir no interior de Israel, onde académicos, antigos embaixadores e defensores da paz enviaram uma carta a um representante de Trump, seguntou reportou o periódico Haaretz. Inicialmente, não ficou explícito que a concretização da mudança da Embaixada dos EUA para Jerusalém estaria associada ao 70.º aniversário da criação do Estado de Israel, que hoje se assinala, e que teria lugar na véspera da Nakba – a limpeza étnica levada a cabo pelas forças sionistas e pelo Estado de Israel, em que mais de 750 mil palestinianos foram expulsos das suas casas e terras –, uma «catástrofe» que todos os anos os palestinianos marcam a 15 de Maio. Na visita que efectuou em Janeiro a Israel, o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, afirmou que essa mudança deveria ocorrer no final de 2019. No entanto, a 23 de Fevereiro, o Departamento de Estado anunciou a antecipação da mudança para 14 de Maio, o que foi encarado pelos palestinianos como mais uma acção de «provocação». Em protesto contra a mudança da Embaixada dos EUA para Jerusalém, os palestinianos chamaram «Dia de Raiva» a este 14 de Maio. Nos territórios ocupados da Cisjordância, há notícia de mobilizações pelo menos em Ramallah e Hebron. Mas a grande mobilização está a ter lugar na Faixa de Gaza cercada, junto às vedações que enclausuram perto de 2 milhões de palestinianos – 80% dos quais são descendentes de refugiados – no pequeno enclave. De acordo com a PressTV, as forças militares israelitas, que reforçaram a sua presença tanto em redor de Gaza como na Margem Ocidental ocupada –, esperavam que 100 mil pessoas se manifestassem nos pontos habituais, hoje, dia da mudança da Embaixada norte-americana para Jerusalém. «os palestinianos querem mandar a mensagem de que não se adaptaram nem se vão adaptar à condição de refugiados» Sobre o culminar dos protestos pacíficos da Grande Marcha do Retorno, que se iniciaram a 30 de Março, o ministro israelita da Educação, Naftali Bennet, do partido de extrema-direita Lar Judaico, disse a uma rádio israelita que a vedação seria encarada como uma «Muralha de Ferro» e que quem se aproximasse dela seria tratado como um «terrorista», refere a PressTV. A mesma fonte indica ainda que a Força Aérea israelita lançou panfletos sobre a Faixa de Gaza, ontem e hoje, para demover os manifestantes de se aproximarem da vedação, mas sem sucesso, já que estes, segundo refere a Al Jazeera, têm estado a tentar atravessá-la, «defendendo o seu direito ao regresso, ao retorno, aconteça o que acontecer». Um membro do comité organizador da Grande Marcha do Retorno disse à Al Jazeera que, ao tentarem atravessar a vedação, «os palestinianos querem mandar a mensagem de que não se adaptaram nem se vão adaptar à condição de refugiados». Os franco-atiradores responderam de forma brutal, matando mais de quatro dezenas de pessoas que se manifestavam perto da vedação e ferindo perto de 2000, até ao momento. De acordo com a organização, os protestos de hoje e os que estão previstos para amanhã – dia da Nakba – devem ser os mais massivos, sendo o ponto culminante das sete semanas de mobilizações, fortemente reprimidas pelas forças israelitas, junto à vedação com a Faixa de Gaza. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Apesar dos milhares de feridos palestinianos resultantes da política de «atirar a matar» e de mais de centena e meia ter ficado sem membros inferiores ou superiores – as tropas israelitas usaram balas explosivas, as chamadas butterfly bullets, que se expandem no contacto com o corpo, provocando danos severos nos tecidos, nos ossos, nas veias –, nenhum destes casos foi investigado. Sem explicação, os militares decidiram investigar apenas os casos em que palestinianos foram mortos. Dos 234 casos recebidos pelos procuradores do Exército, foi completa a revisão de 143 e um deles, o da morte do adolescente Othman Hiles, de 14 anos, levou à condenação de um soldado por «abuso de autoridade ao ponto de pôr em risco a vida e a saúde». Foi condenado a um mês de serviço comunitário. No seu portal, a B'Tselem sublinha que «a conduta de Israel respeitante à investigação dos protestos em Gaza não é nova nem surpreendente», e recorda o que se passou depois da Operação Chumbo Fundido, em 2009, e da Operação Margem Protectora, em 2014. «Então, também, Israel desrespeitou o direito internacional, recusou-se a reformar a sua política apesar dos resultados letais e desviou as críticas prometendo investigar a sua conduta. Então, também, nada resultou dessa promessa», afirma. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Por outro lado, entre Março de 2018 e Dezembro de 2019, uma série de manifestações pacíficas designadas Grande Marcha do Retorno foram brutalmente reprimidas pelo exército de Israel, contabilizando-se 223 mortos e mais de nove mil feridos, sob o silêncio da comunidade internacional. «Os assaltos das forças de ocupação israelita às povoações e campos de refugiados palestinos, assim como a violência dos colonos e as prisões arbitrárias são o quotidiano com que os palestinos, homens e mulheres, jovens e menos jovens diariamente se confrontam», lembra o MPPM, salientando que, até este sábado, pelo menos 247 palestinianos, sobretudo jovens, foram mortos pelas forças israelitas e por colonos. Neste sentido, insiste que a paz no Médio Oriente e a solução da questão palestiniana «passam necessariamente por um desenlace que respeite os direitos inalienáveis» do povo palestiniano a uma pátria livre e independente, incluindo o direito de regresso dos refugiados. O MPPM rejeita os «lamentos» daqueles que «hipocritamente condenam as acções violentas de resistência dos oprimidos e se calam desde há décadas (ou pior, colaboram) perante a violência da ocupação», e entre os quais se encontra o Governo português. «Israel tem o direito de se defender. Estes ataques nada resolverão, contribuindo apenas para piorar a situação na região. Estamos solidários com Israel e oferecemos condolências pelas vítimas.», disse o ministro João Gomes Cravinho, este sábado, na rede social X. O governo palestiniano denunciou junto da ONU o assassinato de 44 menores, este ano, por soldados israelitas. Neste contexto, reclamou protecção para a infância e a responsabilização de Telavive. Numa carta enviada esta segunda-feira ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, o Ministério palestiniano dos Negócios Estrangeiros pediu protecção especial urgente para as crianças palestinianas, informa a agência Wafa. Mahmoud Samoudi, de 12 anos, foi, ontem, a vítima mortal mais recente das forças israelitas, não resistindo aos ferimentos quase duas semanas depois de ter sido atingido por uma bala no abdómen, durante uma operação militar na cidade de Jenin (Norte da Cisjordânia ocupada). Só nos últimos dias, «Israel, a potência ocupante, matou cinco crianças e jovens palestinianos, incluindo Adel Adel Daud (14 anos), Mahdi Ladadwa (17), Mahmoud Sous (17), Fayez Khaled Damdoum (17) e Ahmad Draghmeh (19)», indica o texto das autoridades palestinianas. Até 10 de Dezembro, 86 crianças foram mortas nos territórios ocupados da Palestina, fazendo de 2021 o ano mais mortífero para elas desde 2014, segundo os registos de uma organização não governamental. As forças israelitas mataram 76 crianças palestinianas este ano – 61 na Faixa de Gaza cercada e 15 na Cisjordânia ocupada, incluindo Jerusalém Oriental. Civis israelitas armados mataram duas crianças palestinianas na Cisjordânia, revela o relatório agora publicado pela Defense for Children International – Palestine (DCIP). A estas 78 crianças juntam-se sete que foram mortas por foguetes disparados incorrectamente por grupos armados palestinianos na Faixa de Gaza, e uma outra que foi morta por uma munição não detonada, cujas origens a ONG não conseguiu determinar. «Nos termos do direito internacional, a força letal intencional só se justifica em circunstâncias em que esteja presente uma ameaça directa à vida ou de ferimentos graves. No entanto, investigações e provas recolhidas pelo DCIP sugerem que as forças israelitas utilizam regularmente força letal contra crianças palestinianas em circunstâncias que podem equivaler a execuções extrajudiciais ou intencionais», lê-se relatório, traduzido pelo Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente – MPPM. Durante os 11 dias do ataque militar israelita à Faixa de Gaza, em Maio de 2021, naquilo que ficou conhecido como Operação Guardião dos Muros, as forças israelitas mataram 60 crianças palestinianas, segundo os dados recolhidos pela DCIP. «Aviões de guerra israelitas e drones armados bombardearam áreas civis densamente povoadas, matando crianças palestinianas que dormiam nas suas camas, brincavam nos seus bairros, faziam compras nas lojas perto das suas casas e celebravam o Eid al-Fitr [festa no fim do Ramadão] com as suas famílias», disse Ayed Abu Eqtaish, director do programa de responsabilização da DCIP. «A falta de vontade política da comunidade internacional para responsabilizar os funcionários israelitas garante que os soldados israelitas continuarão a matar ilegalmente crianças palestinianas com impunidade», acrescentou. A DCIP lembra que o direito humanitário internacional proíbe ataques indiscriminados e desproporcionados, e exige que todas as partes num conflito armado façam a distinção entre alvos militares, civis e objectos civis. O pico mais recente de assassinatos de crianças ocorrera em 2018, quando forças israelitas e colonos mataram crianças palestinianas a um ritmo médio superior a uma por semana (57). A maioria dessas mortes ocorreu durante os protestos da Marcha do Retorno, na Faixa de Gaza, refere o organismo. De acordo com os dados da DCIP, foram mortas 2196 crianças palestinianas, desde 2000, em resultado da presença de militares e de colonos israelitas nos territórios ocupados da Palestina. A Defense for Children International – Palestine é uma das seis organizações de direitos humanos que Israel pretende silenciar, lembra o MPPM, sublinhando que a medida tem merecido a condenação generalizada a nível internacional e foi denunciada pelo MPPM a 29 de Outubro último. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. A carta afirma que as forças de ocupação estão a utilizar «a política infame de atirar a matar» – de que resultou a morte de centenas de crianças palestinianas –, ao apontarem «deliberadamente» para a parte superior dos seus corpos. «Israel dispara deliberadamente contra os menores palestinianos com o objectivo declarado de os matar e mutilar, negando-lhes o direito à vida», lê-se no texto, sublinhando que «as crianças jamais devem ser mortas ou mutiladas», bem como a necessidade de medidas urgentes para as proteger da «escalada dos crimes israelitas». Neste sentido, o governo palestiniano exigiu medidas contra Telavive, destacando que as «evidências dos seus crimes crescentes contra as crianças palestinianas são, sem dúvida alguma, esmagadoras», violando o direito internacional e as resoluções que constituem a base da protecção das crianças nos conflitos armados. «A protecção das crianças é a maior obrigação moral, legal e política da humanidade», frisa o documento, no qual se pede à comunidade internacional que «ponha fim a este pesadelo intolerável que as nossas crianças vivem diariamente» e que tome medidas para responsabilizar Israel «pelos seus crimes horrendos». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. «Os que há décadas convivem com a ausência de qualquer real processo político conducente a uma solução que respeite os direitos do povo palestino, não têm autoridade moral para hoje se queixarem das tempestades que provocaram», defende o MPPM. Certo de que a violência poderá alastrar-se a todo o Médio Oriente, o movimento recorda que Israel, «com o apoio dos países "ocidentais" e em primeiro lugar dos Estados Unidos da América», é a maior potência militar da região e a única a dispor de armas nucleares. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Em simultâneo, revela a Wafa, têm-se registado múltiplas agressões e raides, da parte de colonos e forças istraelitas, na Margem Ocidental ocupada. Pelo menos cinco palestinianos foram ali mortos nas últimas 24 horas, em vários pontos do território ocupado. A operação israelita de larga escala segue-se à operação, lançada no sábado de manhã, por forças da resistência palestiniana na Faixa de Gaza, onde o Hamas é o elemento predominante. Segundo foi revelado então, a ala militar do Hamas lançou pelo menos 5000 rockets para aquilo que é hoje Israel. As forças da resistência derrubaram, em vários pontos, a vedação que cerca o território e atacaram os colonatos em redor por terra, mar e ar. Pelo menos 700 israelitas foram mortos nessa operação que alguma imprensa israelita classificou como «nunca vista» e mais de cem foram feitos prisioneiros, incluindo militares de alta patente. No domínio político-mediático da «comunidade internacional», o mundo predominantemente ocidental e branco, as vozes sobre «A Guerra» (só havia uma e mais nenhuma: a da Ucrânia) silenciaram-se e, nas fachadas das praças de capitais como Nova Iorque, Berlim ou Bruxelas, as bandeiras da Ucrânia foram substituídas pelas de Israel. Desde o Mandato Britânico que os palestinianos são sujeitos à opressão, que se intensificou com a construção, nas suas terras, do Estado de Israel, erguido à custa das forças paramilitares que expulsaram os palestinianos de suas casas e os mataram ou meteram em guetos. A campanha de limpeza étnica então iniciada mantém-se até hoje, sob um regime de apartheid, por via do saque de territórios e de recursos, a destruição de casas, escolas e outras infra-estruturas, e a expulsão dos palestinianos das terras onde vivem. De forma sistemática, as forças israelitas bombardeiam a Faixa de Gaza, que mantêm fechada e cercada num férreo bloqueio, com mais de dois milhões de pessoas a viver em condições insalubres, sem luz, água potável, mas «a comunidade internacional» projecta as suas bandeiras nos edifícios das suas praças quando a Palestina – reduzida ao Hamas – se ergue e rompe o cerco. Entretanto, no enorme campo de deslocados que é Gaza, cerca de 70 mil pessoas procuraram refúgio dos bombardeamentos nas 64 escolas operadas pela UNRWA – a agência da ONU para os refugiados palestinianos no Médio Oriente. Em comunicado, a UNRWA confirmou que dois alunos em escolas que opera em Khan Younis e Beit Hanoun se encontram entre os mortos. Pelo menos três escolas da organização sofreram danos provocados pelos bombardeamentos, acrescenta o texto. A UNRWA sublinhou que os civis devem ser sempre protegidos, também em período de guerra, e apelou a um cessar-fogo imediato e ao fim da violência em todo o lado. A operação das forças da resistência em território israelita continua. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. No Estado espanhol, o movimento solidário com a Palestina teve uma enorme expressão em Madrid, bem como em várias cidades catalãs, bascas e galegas, onde se clamou «Liberdade para a Palestina» e «Boicote a Israel». França, Alemanha, Iémen, Tunísia, Argentina, Brasil, Chile, Bolívia, Líbano, Austrália, Koweit, Marrocos, Turquia e Canadá foram outros países onde ocorreram concentrações e manifestações de apoio à Palestina, exigindo liberdade para o povo palestiniano e o fim da «barbárie sionista». Em Portugal, está convocado um acto público de solidariedade com o povo palestiniano para esta tarde em Lisboa (Martim Moniz, 18h). Esta manhã, o Ministério palestiniano da Saúde actualizou os registos da mortandade provocada pelos bombardeamentos indiscriminados na Faixa de Gaza, tendo revelado em comunicado que, desde sábado, 974 pessoas foram mortas em resultado da agressão israelita em curso e mais de 5000 ficaram feridas. Destas, precisou, 950 foram mortas como consequência dos bombardeamentos no enclave cuja vedação a resistência rompeu no sábado passado. No mesmo período, 24 palestinianos perderam a vida e 150 ficaram feridos na Cisjordânia, como resultado de ataques das forças de ocupação, indica a Wafa. Também esta terça-feira, a Wafa revelou, com base em dados de instituições locais, que a aviação israelita destruiu 22 639 unidades habitacionais, de forma total ou parcial, na Faixa de Gaza. Além disso, foram bombardeadas dez instituições médicas, incluindo sete hospitais, e 12 ambulâncias, enquanto 48 escolas sofreram danos, mais e menos intensos. A mesma fonte revelou que, segundo dados da ONU, mais de 263 mil pessoas foram obrigadas a sair de suas casas e a procurar refúgio pelos bombardeamentos israelitas, que se seguiram ao início da operação da resistência, que ontem continuava. «A paz não é possível enquanto continuarem a ser espezinhados os legítimos direitos do povo palestino». Concentração convocada pelo MPPM, CPPC e a CGTP-IN para o Martim Moniz, 11 de Outubro, às 18h. «A situação dramática que se vive, desde o passado sábado, em Gaza e Israel, e que já causou centenas de vítimas» (de acordo com os dados mais recentes, após bombardeamentos israelitas, são já milhares de mortos e pelo menos 5 mil feridos) é lamentável, «com trágicas consequências para as populações». Enquanto se mantiver a ocupação colonial e a violência das forças militares e dos colonos, não haverá paz, alerta o Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente (MPPM). O MPPM reage assim às acções desencadeadas em Gaza e em Israel na madrugada deste sábado. Eram 4h30 em Lisboa (6h30 no local), quando militantes de organizações da resistência palestiniana lançaram, a partir da Faixa de Gaza, um ataque de surpresa, em larga escala, contra Israel, no que apelidaram de «Operação Dilúvio Al-Aqsa». Segundo as organizações, a acção foi uma resposta à profanação da Mesquita de Al-Aqsa e ao aumento da violência dos colonos, e confirma, insiste o MPPM num comunicado, «que não é possível ter uma situação de paz na Palestina e, por consequência, no Médio Oriente, continuando a espezinhar os legítimos direitos do povo palestino e persistindo em manter a ocupação colonial e a violência das forças militares e dos colonos». Diversos grupos da resistência declararam o apoio à operação lançada contra Israel, esta manhã, a partir da Faixa de Gaza, sublinhando que faz parte da luta de libertação nacional. «Fazemos parte desta batalha e os nossos combatentes estão lado a lado com os seus irmãos nas Brigadas al-Qassam (ala militar do Hamas) até à vitória», afirmou em comunicado Abu Hamza, porta-voz das Brigadas de al-Quds, braço militar da Jihad Islâmica. Em termos semelhantes, refere a Prensa Latina, se pronunciaram as Brigadas al-Nasser Salah al-Din, do Movimento de Resistência Popular: «Unidos numa trincheira neste dia glorioso do nosso povo.» Por seu lado, as Brigadas de Resistência Nacional anunciaram que os seus membros se juntaram à operação, lançada esta manhã pelo Hamas, que incluiu o lançamento de milhares de rockets e uma incursão terrestre em território ocupado em 1948. Atingido por disparos de colonos na cidade de Huwara, Labib Dumaidi, de 19 anos, é a mais recente das quatro vítimas mortais na Margem Ocidental ocupada, revelou o Ministério da Saúde. De acordo com a informação divulgada pelo Ministério, Labib Mohammed Dumaidi ficou gravemente ferido durante um ataque de colonos, ontem à noite, na cidade de Huwara, a sul de Nablus. Levado para um hospital, não resistiu aos ferimentos, já nas primeiras horas de sexta-feira. Residentes de Huwara tentaram fazer frente à provocação levada a cabo por dezenas de colonos, protegidos por forças militares israelitas, indica a Wafa. Registaram-se fortes confrontos e as tropas israelitas usaram fogo real, gás lacrimogéneo e granadas atordoantes para dispersar os palestinianos. Fontes do Crescente Vermelho Palestiniano informaram que pelo menos 25 pessoas, incluindo quatro crianças, sofreram efeitos de asfixia devido à inalação de gás lacrimogéneo. Também em Huwara, as forças israelitas mataram, ontem à tarde, outro palestiniano, cuja identidade ainda não foi revelada. Dias depois de colonos extremistas terem invadido e atacado Huwara, Bezalel Smotrich afirmou que Israel deve «aniquilar» a localidade palestiniana no Norte da Cisjordânia ocupada. «Penso que Huwara precisa de ser destruída», disse o ministro israelita das Finanças, Bezalel Smotrich, esta quarta-feira, defendendo que «o Estado devia fazê-lo e não cidadãos privados», refere a PressTV com base na imprensa israelita. As declarações do ministro de extrema-direita do governo de Benjamin Netanyahu seguem-se ao ataque perpetrado contra a localidade palestiniana, no domingo à noite, por centenas de colonos armados. Tratou-se da «resposta» à morte de dois israelitas de um colonato ilegal, executados por um atacante palestiniano de Huwara. Este ataque, por sua vez, seguiu-se ao massacre de Nablus, em que as forças de ocupação israelitas mataram 11 palestinianos e feriram mais de cem. No domingo à noite, os colonos queimaram pelo menos 150 carros, 52 casas e várias lojas. Uma pessoa foi morta e o número de feridos palestinianos é superior a 390, indica a agência Wafa. Grupos israelitas de defesa dos direitos humanos como Peace Now e B’Tselem referiram-se ao ataque dos colonos como um «pogrom» apoiado pelas autoridades de ocupação. Por seu lado, o Crescente Vermelho palestiniano acusou as forças israelitas de impedirem as ambulâncias e os paramédicos de acederem ao local do ataque, a poucos quilómetros de Nablus. No Knesset, a extrema-direita israelita considerou os ataques a Huwara «legítimos». Hussein al-Sheikh, da Comissão Executiva da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), afirmou, no Twitter, que as afirmações de Smotrich para apagar Huwara do mapa são o apelo de um «racista terrorista». Também o primeiro-ministro da Autoridade Palestiniana (AP), Mohammad Shtayyeh, se referiu às afirmações do ministro israelita como «terroristas» e «racistas», e alertou para o facto de que «fazem prever uma escalada séria» contra o povo palestiniano nos territórios ocupados. Neste sentido, pediu às Nações Unidas, à União Europeia e demais organizações internacionais que condenem as declarações de Smotrich. Antes, já tinha pedido ajuda internacional «contra os crimes de Israel». O Parlamento (da Liga) Árabe, com sede no Cairo, condenou esta quarta-feira os ataques executados por colonos israelitas contra o povo palestiniano na Cisjordânia ocupada, referindo-se em especial ao assalto à localidade de Huwara. Perante os ataques terroristas sistemáticos dos colonos contra cidadãos indefesos, com armas de fogo, incêndios de casas e viaturas, expulsão de agricultores, assassinatos e outros crimes, exortou o mundo e em especial o Conselho de Segurança da ONU a adoptar medidas para proteger o povo palestiniano. Antes, a Liga Árabe já tinha proposto que as milícias de colonos passem a ser incluídas na lista de grupos terroristas. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Na parte da manhã, as forças israelitas já tinham matado dois palestinianos, identificados como Hudhayfah Fares, de 27 anos, e Abd al-Rahman Atta, de 23, na aldeia de Shufa, na sequência de um ataque de colonos a viaturas na região de Tulkarem. De acordo com as Nações Unidas, 2023 está a ser o ano mais mortífero para os palestinianos na Margem Ocidental desde que há registo de fatalidades provocadas pelas forças de ocupação. Nabil Abu Rudeineh, porta-voz da Presidência palestiniana, disse à imprensa que a ocupação israelita pisou todas as linhas vermelhas, com a sua insistência na política de assassinatos e incursões em cidades, aldeias e acampamentos palestinianos. Numa entrevista à Palestine TV, o representante da Presidência responsabilizou o governo israelita e a administração norte-americana pelos «crimes perigosos perpetrados pela ocupação e os seus colonos por todo o território palestiniano», os mais recentes dos quais nas imediações de Nablus e Tulkarem, refere a Wafa. Apesar da «guerra implacável» que a ocupação israelita está a travar contra o povo palestiniano «à vista de todo o mundo», o responsável afirmou que isso não irá impedir «o nosso povo de prosseguir a sua luta legítima» até à «criação do seu Estado independente, com Jerusalém como capital». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Na Cisjordânia, a Cova dos Leões, um dos grupos da resistência mais activos, fez um apelo à mobilização geral dos seus membros, bem como ao «ataque imediato em todos os lugares contra as forças de ocupação e os seus colonos». Com base em fontes israelitas, a agência Prensa Latina indica que o Exército de ocupação deu conta de combates em 21 locais no Sul de Israel, na sequência da operação palestiniana – embora tenha posteriormente reduzido esse número para sete. Ao anunciar a ofensiva desta manhã (às 7h locais), o comandante das Brigadas al-Qassam, Muhammad al-Deif, disse que o grupo palestiniano disparou para território israelita 5000 rockets. Al-Deif afirmou que a operação é uma resposta aos sistemáticos crimes israelitas contra o povo palestiniano e a profanação contínua por colonos judeus da mesquita de al-Aqsa, em Jerusalém, e ocorre num contexto de escalada de agressões, da parte de colonos e forças israelitas, em Jerusalém Oriental e na Cisjordânia ocupada. A Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos registou mais de 135 mil casos de detenções, pelas forças de ocupação israelitas, desde o início da Intifada de al-Aqsa, em 2000. Num relatório emitido por ocasião do 23.º aniversário do início da Segunda Intifada ou Intifada de al-Aqsa (28 de Setembro de 2000), a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos sublinha que as detenções levadas a cabo pelas forças israelitas afectaram todas as camadas da sociedade, e não deixaram de parte menores de idade, idosos e mulheres. Dos mais de 135 mil casos registados pelo organismo, 21 mil dizem respeito a menores, indica o relatório – divulgado pela Wafa –, que dá conta da detenção de metade dos deputados do Conselho Legislativo Palestiniano (Parlamento), de vários ministros, centenas de académicos, jornalistas e funcionários de organizações da sociedade civil e instituições internacionais. Israel mantém nas suas prisões 1264 palestinianos sem acusações nem julgamento, o número mais elevado em 30 anos, revelou a ONG Hamoked. Desde a Primeira Intifada (1987-1993) que não havia tantos palestinianos detidos ao abrigo da polémica norma, alertou a organização não governamental este fim-de-semana, com base nos dados dos serviços prisionais. Jessica Montell, directora executiva da Hamoked, organização israelita que presta assistência jurídica gratuita aos palestinianos que vivem sob a ocupação, afirmou que a detenção administrativa é «massiva e arbitrária» e que Israel mantém nesse regime, sem acusação nem julgamento, mais de 1200 palestinianos, «alguns dos quais durante anos sem uma revisão eficaz». Ao abrigo deste regime, a detenção, decretada por um comandante militar, com base naquilo a que Israel chama «prova secreta» – que nem o advogado do detido tem direito a ver –, pode ser infinitamente renovada por períodos até seis meses. A Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) revelou, este domingo, que nove presos palestinianos sem acusação ou julgamento continuam em greve de fome por tempo indeterminado. Os presos Kayed al-Fasfous e Sultan Khlouf iniciaram o protesto contra a detenção administrativa há 19 dias. Por seu lado, Osama Darkouk encontra-se em greve de fome há 15 dias. Outros seis reclusos palestinianos em cadeias israelitas estão em greve de fome há 12 dias: Hadi Nazzal, Mohammad Taysir Zakarneh, Anas Kmail, Abdelrahman Baraka, Mohammad Basem Ikhmis e Zuhdi Abdo, informa a agência Wafa, com base na SPP. Na semana passada, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos pediu à chamada comunidade internacional que quebre o silêncio em torno do «crime israelita da detenção administrativa», que permite manter na cadeia presos sem acusação ou julgamento, numa clara violação das normas internacionais. Ao abrigo deste regime, a detenção, decretada por um comandante militar, com base naquilo a que Israel chama «prova secreta» – que nem o advogado do detido tem direito a ver –, pode ser infinitamente renovada por períodos até seis meses. A Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) revelou, esta segunda-feira, que quatro presos palestinianos sem acusação ou julgamento tinham iniciado há nove dias uma greve de fome por tempo indeterminado. Em comunicado divulgado pela Wafa, a SPP indicou que Anas Ibrahim Shadid, de 26 anos, Mahmoud Abdel Halim Talahma, de 32, Abdullah Mohammad Abido, de 36, e Mohammad Ahmad Dandis, de 25, iniciaram o protesto para denunciar a sua detenção sem acusação ou julgamento. Acrescentou que todos os detidos estão na cadeia israelita de Ofer, perto de Ramallah, e são originários da província de Hebron (al-Khalil), no Sul da Cisjordânia ocupada. A organização de defesa dos direitos dos presos informa que Shadid foi preso três vezes, sempre no regime de detenção administrativa, tendo passado, no total, três anos atrás das grades. Durante esses períodos, levou a cabo duas greves de fome, uma delas com a duração de 90 dias, em 2016. Os prisioneiros iniciaram uma greve de fome, há uma semana, para exigir a sua libertação e denunciar um regime de detenção que permite mantê-los na cadeia sem acusação ou julgamento. O protesto dos trinta presos palestinianos, membros e simpatizantes da Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP), completou uma semana sem solução aparente à vista, tendo em conta a inflexibilidade das autoridades de Telavive. Em comunicado, a Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) anunciou que os serviços prisionais israelitas têm estado a ameaçar com castigos os reclusos que lutam contra o regime de detenção administrativa. Entre as punições, contam-se privá-los de visitas, retirar-lhes os seus pertences e isolá-los em celas de castigo. Nesta primeira semana de protesto, os serviços prisionais israelitas colocaram 28 dos grevistas em quatro celas de isolamento na prisão de Ofer, informa a Wafa com base no documento divulgado pelo SPP. Um outro, o advogado Salah Hammouri, foi metido na solitária numa cadeia no Norte de Israel, enquanto Ghassan Zawahreh foi levado para uma cela de isolamento numa prisão localizada no Deserto do Neguev (al-Naqab). Os prisioneiros, em cadeias israelitas, iniciaram uma greve de fome por tempo indeterminado contra um regime que permite mantê-los detidos sem acusação ou julgamento, por períodos renováveis de seis meses. O início do protesto, este domingo, por parte de prisioneiros que são membros ou apoiantes da Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP), foi confirmado pela Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos. Em declarações à agência Wafa, Hassan Abed Rabbo, porta-voz da comissão, disse que os presos decidiram avançar contra uma política que permite a Israel manter nas suas prisões, sem acusação ou julgamento, presos palestinianos por tempo indefinido, na medida em que o período de detenção, até seis meses, é infinitamente renovável. Numa mensagem divulgada há alguns dias, os presos sublinharam que a luta contra o regime de detenção administrativa continua e denunciaram que as medidas tomadas pelas autoridades prisionais israelitas «já não se baseiam em obsessões de segurança, mas são actos de vingança devido ao seu passado». Qadri Abu Baker, líder da Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos, disse à Wafa que, na próxima quinta-feira, mais 50 presos se devem juntar à greve de fome, para denunciar o regime de detenção administrativa a que são submetidos e a escalada por parte de Israel no que respeita a este procedimento. O maior número de detenções administrativas – sem julgamento ou acusação – foi decretado em Maio, quando Israel lançou uma ofensiva de 11 dias contra a Faixa de Gaza. A Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) revelou, este domingo, que o número divulgado diz respeito tanto a novas ordens como à renovação de ordens já emitidas nos territórios ocupados, pelas autoridades israelitas. No documento apresentado, o organismo lembra que política de detenção administrativa visa «esmagar os activistas políticos palestinianos» e se baseia num ficheiro secreto não acessível aos presos – nem sequer aos seus advogados –, que são mantidos na cadeia sem acusação ou julgamento, informa a WAFA. O maior número de ordens de detenção administrativa foi emitido em Maio último, quando a Israel lançou uma ofensiva de 11 dias contra a Faixa de Gaza, explicou a organização de defesa dos presos, acrescentado que, ao longo do ano, 60 prisioneiros recorreram à greve de fome com o propósito de reconquistar a liberdade. Uma comissão de apoio aos prisioneiros revelou que 13 palestinianos permaneciam em greve de fome nas cadeias, este domingo, contra o regime que permite mantê-los reclusos sem acusação ou julgamento. Num comunicado ontem emitido, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos informou que o prisioneiro Salem Ziadat, de 40 anos, é, dos 13 que continuavam o protesto, aquele que está em greve de fome há mais tempo, permanecendo em jejum há 28 dias contra a sua detenção administrativa, sem acusação ou julgamento, revelou a agência WAFA. A Comissão informou ainda que o número de reclusos palestinianos em greve de fome até ontem era de 15, mas que Mohammad Khaled Abusill e Ahmad Abdulrahman Abusill tinham chegado a um acordo com o Serviço Prisional Israelita no que respeita à «limitação» da chamada detenção administrativa. Grupos de defesa dos presos apresentaram um relatório sobre o primeiro semestre de 2021. Nas cadeias israelitas, há actualmente 4850 palestinianos, 540 dos quais ao abrigo da «detenção administrativa». Entre os palestinianos que se encontram nos cárceres de Israel, contam-se 43 mulheres e 225 menores, segundo o documento conjunto divulgado este fim-de-semana pela Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos, a Sociedade dos Presos Palestinianos, a Addameer e o Centro de Informação Wadi Hilweh. Os organismos referidos precisaram que 12 presos são membros do Conselho Legislativo Palestiniano (Parlamento), 70 são provenientes dos territórios ocupados em 1948, 350 são originários de Jerusalém ocupada e 240 da Faixa de Gaza cercada. O informe destaca a existência de 540 prisioneiros palestinianos em detenção administrativa, sem acusação formada ou julgamento, por períodos de seis meses indefinidamente renováveis. No que respeita a detenções, os organismos de defesa dos presos revelaram que Israel prendeu 5426 palestinianos entre 1 de Janeiro e 30 de Junho deste ano – um número superior a todas as detenções efectuadas pelas forças israelitas em 2020 e registadas por estas organizações: 4636. Por ocasião do Dia da Criança Palestiniana, que se assinala a 5 de Abril, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos revelou também que 140 menores permanecem em cadeias israelitas. Os menores palestinianos, alguns dos quais crianças, continuam a ser alvo das forças militares israelitas, que os prendem, muitas vezes de forma violenta, nos territórios ocupados. De acordo com um relatório publicado este domingo pela Sociedade dos Prisioneiros Palestinianos, pelo menos 230 foram detidos desde o início do ano, a maioria dos quais em Jerusalém Oriental ocupada. O grupo de defesa dos direitos dos presos sublinhou que «as crianças encarceradas são submetidas a vários tipos de abusos, incluindo «a recusa de comida e de bebida por longas horas, abuso verbal e a detenção em condições duras». O informe veio a lume na véspera do Dia da Criança Palestiniana, que se assinala a 5 de Abril, com actividades culturais, educativas e mediáticas que, refere a PressTV, visam reforçar a consciência sobre o sofrimento dos menores palestinianos. Também no âmbito do Dia da Criança Palestiniana, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos revelou que 140 menores permanecem em cadeias israelitas, incluindo dois que se encontram presos ao abrigo do regime de detenção administrativa. Uma comissão da ONU reafirmou denúncias expostas em vários relatórios sobre detenções de menores palestinianos por Israel – quase sempre presos de noite, algemados e vendados. É o início da «viagem ao inferno». A instância, composta por especialistas independentes das Nações Unidas, expressou particular preocupação pela expansão dos colonatos e o aumento da violência dos colonos israelitas, em que se incluem ataques a crianças e às suas escolas. Segundo se pode ler no portal oficial de notícias da ONU, na semana passada diversas organizações informaram a comissão sobre as operações nocturnas levadas a efeito pelas forças israelitas com o propósito de deter crianças e adolescentes na Cisjordânia ocupada, com «graves consequências para o seu bem-estar e gozo dos seus direitos». «Mais de 300 crianças estão detidas no sistema militar israelita. A maioria por delitos menores, como atirar pedras e publicações nas redes sociais», assinala a comissão, que denuncia o facto de os menores serem «levados para locais desconhecidos, presos em viaturas militares e sujeitos a ameaças e abusos verbais», bem como o facto de, por vezes, serem «obrigados a assinar confissões em hebraico, uma língua que não costumam entender». Estas preocupações reafirmam as que têm sido veiculadas, ao longo do tempo, por várias entidades, nomeadamente a Comissão dos Prisioneiros Palestinianos, órgão dependente da Autoridade Palestiniana que, em diversas ocasiões (também este ano), alertou para o facto de os menores serem torturados e sofrerem abusos nos cárceres israelitas, bem como para o facto de serem espancados, insultados e pressionados no momento da detenção. No final de Março, um relatório publicado pelo Ministério palestiniano da Informação denunciava também esta realidade, afirmando que «95% das crianças palestinianas presas pelas autoridades israelitas foram torturadas durante a detenção». De acordo com o relatório, até 2015 foram documentadas anualmente 700 detenções de menores palestinianos. Já em 2017, Israel prendeu 1467 crianças e adolescentes; 1063 no ano seguinte e, nos dois primeiros dois meses deste ano, 118. Entre 2000 e 2018, foram presos mais de 16 mil menores. Numa peça intitulada «“Endless Trip to Hell”: Israel Jails Hundreds of Palestinian Boys a Year. These Are Their Testimonies», publicada em Março e plenamente actual, o periódico israelita Haaretz aborda esta realidade, em que as crianças, algumas com idades inferiores a 13 anos, «são detidas pela calada da noite, vendadas e algemadas, alvo de abusos e constrangidas» a confessar «crimes» que não cometeram. A peça, que reúne testemunhos de sete jovens da Margem Ocidental ocupada com idades compreendidas entre os dez e os 15 anos, revela as diversas fases do processo de detenção, que começa nas operações nocturnas e passa pelo interrogatório, a prisão, o julgamento e a proposta de um acordo. Na sua maioria, os jovens são presos por, alegadamente, terem atirado pedras ou queimado pneus, mas, como sublinha a advogada Farah Bayadsi o objectivo das detenções «é mais para mostrar controlo do que para aplicar a lei». A experiência traumática é fundamentada por tudo aquilo por que as crianças passam durante uma detenção. Arrancadas de casa quando dormem, são algemadas e vendadas, levadas em veículos militares para colonatos e bases israelitas, passando por todo um processo que envolve intimidação, ameaças, agressões físicas, afastamento da família e pressão para «confessar». O nível de brutalidade varia. Khaled Mahmoud Selvi, preso quando tinha 15 anos, foi levado para a prisão e despido (o que, de acordo com o jornal, ocorre em 55% dos casos), tendo sido obrigado a permanecer dez minutos nu, em pé, durante o Inverno. De acordo com os dados recolhidos pela organização não governamental (ONG) British-Palestinian Military Court Watch, 97% dos jovens palestinianos detidos pelas forças militares israelitas (IDF) vivem em pequenas localidades a menos de dois quilómetros de um colonato. O advogado Gerard Horton, da ONG referida, afirma que a ideia é «assustar toda a aldeia» e que se trata de um «instrumento eficaz» para controlar uma comunidade. Acrescenta que, do ponto de vista dos ocupantes e opressores, a pressão «tem de ser constante»: «Cada geração tem de sentir a mão pesada das IDF.» A experiência é traumática. O pai de Khaled Shtaiwi, preso com 13 anos em Novembro do ano passado, contou ao periódico que criou na sua aldeia o «dia da psicologia», porque o seu filho não é capaz de falar sobre o que se passou e porque quer ajudar todas as crianças que foram presas pelos israelitas. Em Beit Ummar, Omar Ayyash foi preso com dez anos de idade, em Dezembro último. Agora, as crianças que brincam nas ruas da aldeia afastam-se assim que se apercebem da aproximação de soldados israelitas. Tornou-se um hábito desde que as tropas levaram Omar. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Por seu lado, a organização Defense for Children International – Palestine (DCIP) destacou que todos os anos entre 500 e 700 menores palestinianos são processados em tribunais militares israelitas e que 85% das crianças palestinianas detidas em 2020 foram «submetidas a violência física». Num comunicado, a DCIP afirma ter documentado 27 casos em que as crianças foram mantidas na solitária um ou dois dias, alegando as forças israelitas «objectivos de investigação». Esta prática é, segundo o organismo, uma forma de «tortura ou tratamento cruel, desumano e degradante». Desde Outubro de 2015, a DCIP registou a 36 ordens de detenção administrativa decretadas contra menores palestinianos, dois dos quais se mantêm nesse regime. Ainda de acordo com o organismo sediado em Genebra, em 2020, as forças israelitas mataram nove menores palestinianos na Cisjordânia ocupada, incluindo Jerusalém Oriental, e na Faixa de Gaza, seis dos quais com fogo real. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. O relatório divulgado este fim-de-semana informa que, entre os palestinianos detidos pelas forças israelitas, se incluem 854 menores e 107 mulheres, tendo sido emitidas na primeira metade do ano 680 ordens de detenção administrativa, incluindo 312 novas. No mês de Junho foram presos 615 palestinianos, revela o texto, destacando que Maio foi de longe o mês em que se registou um maior número de detenções na primeira metade deste ano. Então, mês de massacre contra Gaza e de múltiplas provocações sionistas no Complexo da Mesquita de al-Aqsa e em Jerusalém Oriental ocupada, as forças israelitas prenderam 3100 palestinianos, incluindo 2000 nos territórios ocupados em 1948 (actual Estado de Israel) e 677 em Jerusalém Oriental ocupada, informa a WAFA. De acordo com a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos, há actualmente nove presos em greve de fome nos cárceres israelitas como forma de protesto contra o regime de detenção administrativa que lhes foi aplicado. A Comissão pediu às instâncias internacionais e regionais de defesa dos direitos humanos que pressionem as autoridades israelitas no sentido de acabar com os maus-tratos aos presos em greve de fome, que passam também pela sua reclusão na solitária. Os presos palestinianos recorrem com frequência a esta forma de luta contra um regime de detenção ilegal, cujo fim exigem. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. De acordo com os grupos de defesa dos direitos dos prisioneiros palestinianos, há actualmente quase 550 nos cárceres israelitas detidos ao abrigo deste regime, que tem merecido ampla condenação internacional e que permite a Israel manter nas suas prisões, sem acusação ou julgamento, presos palestinianos por tempo indefinido, na medida em que o período de detenção, até seis meses, é infinitamente renovável. A detenção, que é decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta» – e é tão «secreta» que nem o advogado do detido tem direito a vê-la. Alguns prisioneiros palestinianos passaram mais de uma década nas cadeias israelitas ao abrigo deste regime de «detenção», que é considerado ilegal à luz do direito internacional. Como forma de protesto contra as suas detenções ilegais e para exigir que Israel ponha fim a esta prática, os presos palestinianos recorrem com frequência a greves de fome por tempo indeterminado. Apesar da pressão internacional e dos protestos dos prisioneiros, as autoridades israelitas não têm dado sinais de querer acabar com este regime. Pelo contrário, tanto a comissão referida como o Centro Palestiniano de Estudos sobre Prisioneiros têm dado conta de novas ordens de detenção administrativa e de múltiplas renovações. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Na maior parte dos casos, estavam presos ao abrigo do regime de detenção administrativa, como Hisham Abu Hawwash, de 40 anos, habitante da localidade de Dura (Cisjordânia ocupada) que se mantém há 140 dias em greve de fome e está numa situação considerada muito crítica. Nos últimos dias, as autoridades palestinianas alertaram para o estado de saúde crítico de Abu Hawwash, responsabilizaram Telavive por aquilo que lhe possa acontecer e pediram à comunidade internacional que pressione as autoridades israelitas para o libertarem. Também a Cruz Vermelha se mostrou preocupada com o caso, sublinhando a necessidade de tratar os reclusos com humanidade e de encontrar uma solução que evite «consequências irreversíveis» para Hawwash. De acordo com a SPP, este domingo cerca de 500 reclusos palestinianos presos em Israel ao abrigo do regime da detenção administrativa – criticado pela ONU – declararam o boicote aos tribunais israelitas, porque «sentem que os tribunais alinham sempre com o governo militar e as suas ordens, e não os tratam com imparcialidade». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. De acordo com a comissão, há actualmente mais de 760 presos nas cadeias israelitas sem acusação ou julgamento. A detenção, decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta», que nem o advogado do detido tem direito a ver. Cerca de 80% dos presos palestinianos neste regime são ex-presos que já passaram anos atrás das grades, revela a Wafa. Em comunicado, emitido há dias, o Ramo Penitenciário da Frente Popular para a Libertação da Palestina afirmou que «estes 30 prisioneiros, juntos, passaram quase 200 anos em detenção administrativa. Duzentos anos de cativeiro sem acusação ou julgamento por capricho dos oficiais de inteligência da ocupação». O texto, divulgado pela Samidoun (rede de solidariedade com os presos palestinianos), sublinha que se trata de uma «pena perpétua», uma vez que muitos presos são libertados durante alguns meses e são novamente detidos. «Temos um mês de liberdade por cada ano de detenção», afirmam. Dizem que são «alimentados pela dignidade» e querem que as autoridades israelitas saibam que, mesmo que os torturem e lhes provoquem dor, «que a nossa luta continua, e que semearemos alegria, vida e esperança, e que nossa luta pela liberdade e pela humanidade livre de tormentos não vai parar». Leila Khaled, membro do Comité Central da FPLP e símbolo da resistência palestiniana, anunciou uma greve de fome solidária com os presos, a quem saudou por estarem «na primeira linha do confronto a este inimigo criminoso fascista». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. De acordo com a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos, dos cerca de 4600 palestinianos actualmente presos nas cadeias israelitas, mais de 760 são reclusos sem acusação ou julgamento, cuja detenção pode ser infinitamente renovada por períodos até seis meses. A detenção, decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta», que nem o advogado do detido tem direito a ver. Após o início da greve de fome, Basil Mizher, outro advogado palestiniano detido sem acusação ou julgamento, viu ser-lhe renovada a detenção administrativa por mais três meses, no passado dia 28. Numa mensagem que Mizher escreveu no início do protesto, lida pela sua mãe numa acção solidária no campo de refugiados de Dheisheh, em Belém, o preso diz que a sua profissão é a de advogado, mas que mal se lembra dela, pois quase não a conseguiu exercer desde que se formou – foi submetido a três detenções administrativas desde que passou no exame. Em vez de ir trabalhar, foi para a prisão, lê-se no texto divulgado pela pela Samidoun (rede de solidariedade com os presos palestinianos). «Ou nos submetemos à opressão e à privação e aceitamos o roubo perpétuo da nossa liberdade e da nossa vida à vista do mundo, ou nos revoltamos contra a injustiça e derrubamos os muros do carcereiro com todas as ferramentas que temos», escreveu Basil Mizher a propósito da greve de fome, que é a «recusa da política de subordinação e domesticação». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Talahma, detido desde Março de 2022, é um advogado e antigo prisioneiro, que passou dois anos e meio nas cadeias israelitas. Abido é também um antigo prisioneiro, que passou cinco anos e meio nas prisões da ocupação – a maior parte do tempo ao abrigo do regime de detenção administrativa. Por seu lado, Dandis foi preso pela primeira vez a 23 de Março último, tendo-lhe sido imposta uma detenção administrativa por um período de seis meses. Este protesto ocorre num contexto em que Israel intensifica o recurso às detenções sem acusação ou julgamento. Segundo revelou a SPP, existem actualmente nas cadeias israelitas 1083 presos palestinianos a quem foi aplicado este regime de detenção, 17 dos quais são menores. O regime de detenção administrativa, que tem merecido ampla condenação internacional, permite a Israel manter nas suas prisões, sem acusação ou julgamento, presos palestinianos por tempo indefinido, na medida em que o período de detenção, até seis meses, é infinitamente renovável. O primeiro-ministro palestiniano, Mohammad Shtayyeh, responsabilizou Israel pelo «assassinato» de Khader Adnan, ao não atender ao protesto contra a sua detenção sem acusação ou julgamento. A Sociedade de Prisioneiros Palestinianos (SPP) afirmou, em comunicado, que Khader Adnan, de 44 anos, foi encontrado inconsciente esta madrugada na sua cela, tendo sido levado para um hospital, onde foi declarado morto. Adnan, natural da cidade de Arraba (perto de Jenin), foi preso 12 vezes ao longo da sua vida, tendo recorrido à greve de fome em diversas ocasiões para protestar contra as suas detenções sem qualquer acusação, afirmou a SPP, citada pela agência Wafa. A última detenção ocorreu a 5 de Fevereiro e Adnan entrou de imediato em greve de fome por tempo indeterminado, refere a fonte, acrescentando que pelo menos 236 presos palestinianos morreram desde 1967. Ao ter conhecimento da notícia, o primeiro-ministro palestiniano, Mohammad Shtayyeh, acusou Israel de ter cometido um assassinato. O número foi destacado pela Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) em conferência de imprensa. A maior parte encontra-se nos centros de detenção de Ofer e de Naqab (Neguev). O regime de detenção administrativa, que tem merecido ampla condenação internacional – até do Departamento de Estado norte-americano e da Amnistia Internacional –, permite a Israel manter nas suas prisões, sem acusação ou julgamento, presos palestinianos por tempo indefinido, na medida em que o período de detenção, até seis meses, é infinitamente renovável. Em relatórios anteriores, a SPP lembrou que esta política visa «esmagar os activistas políticos palestinianos» e se baseia num ficheiro secreto não acessível aos presos – nem sequer aos seus advogados. Os prisioneiros iniciaram uma greve de fome, há uma semana, para exigir a sua libertação e denunciar um regime de detenção que permite mantê-los na cadeia sem acusação ou julgamento. O protesto dos trinta presos palestinianos, membros e simpatizantes da Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP), completou uma semana sem solução aparente à vista, tendo em conta a inflexibilidade das autoridades de Telavive. Em comunicado, a Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) anunciou que os serviços prisionais israelitas têm estado a ameaçar com castigos os reclusos que lutam contra o regime de detenção administrativa. Entre as punições, contam-se privá-los de visitas, retirar-lhes os seus pertences e isolá-los em celas de castigo. Nesta primeira semana de protesto, os serviços prisionais israelitas colocaram 28 dos grevistas em quatro celas de isolamento na prisão de Ofer, informa a Wafa com base no documento divulgado pelo SPP. Um outro, o advogado Salah Hammouri, foi metido na solitária numa cadeia no Norte de Israel, enquanto Ghassan Zawahreh foi levado para uma cela de isolamento numa prisão localizada no Deserto do Neguev (al-Naqab). Os prisioneiros, em cadeias israelitas, iniciaram uma greve de fome por tempo indeterminado contra um regime que permite mantê-los detidos sem acusação ou julgamento, por períodos renováveis de seis meses. O início do protesto, este domingo, por parte de prisioneiros que são membros ou apoiantes da Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP), foi confirmado pela Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos. Em declarações à agência Wafa, Hassan Abed Rabbo, porta-voz da comissão, disse que os presos decidiram avançar contra uma política que permite a Israel manter nas suas prisões, sem acusação ou julgamento, presos palestinianos por tempo indefinido, na medida em que o período de detenção, até seis meses, é infinitamente renovável. Numa mensagem divulgada há alguns dias, os presos sublinharam que a luta contra o regime de detenção administrativa continua e denunciaram que as medidas tomadas pelas autoridades prisionais israelitas «já não se baseiam em obsessões de segurança, mas são actos de vingança devido ao seu passado». Qadri Abu Baker, líder da Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos, disse à Wafa que, na próxima quinta-feira, mais 50 presos se devem juntar à greve de fome, para denunciar o regime de detenção administrativa a que são submetidos e a escalada por parte de Israel no que respeita a este procedimento. O maior número de detenções administrativas – sem julgamento ou acusação – foi decretado em Maio, quando Israel lançou uma ofensiva de 11 dias contra a Faixa de Gaza. A Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) revelou, este domingo, que o número divulgado diz respeito tanto a novas ordens como à renovação de ordens já emitidas nos territórios ocupados, pelas autoridades israelitas. No documento apresentado, o organismo lembra que política de detenção administrativa visa «esmagar os activistas políticos palestinianos» e se baseia num ficheiro secreto não acessível aos presos – nem sequer aos seus advogados –, que são mantidos na cadeia sem acusação ou julgamento, informa a WAFA. O maior número de ordens de detenção administrativa foi emitido em Maio último, quando a Israel lançou uma ofensiva de 11 dias contra a Faixa de Gaza, explicou a organização de defesa dos presos, acrescentado que, ao longo do ano, 60 prisioneiros recorreram à greve de fome com o propósito de reconquistar a liberdade. Uma comissão de apoio aos prisioneiros revelou que 13 palestinianos permaneciam em greve de fome nas cadeias, este domingo, contra o regime que permite mantê-los reclusos sem acusação ou julgamento. Num comunicado ontem emitido, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos informou que o prisioneiro Salem Ziadat, de 40 anos, é, dos 13 que continuavam o protesto, aquele que está em greve de fome há mais tempo, permanecendo em jejum há 28 dias contra a sua detenção administrativa, sem acusação ou julgamento, revelou a agência WAFA. A Comissão informou ainda que o número de reclusos palestinianos em greve de fome até ontem era de 15, mas que Mohammad Khaled Abusill e Ahmad Abdulrahman Abusill tinham chegado a um acordo com o Serviço Prisional Israelita no que respeita à «limitação» da chamada detenção administrativa. Grupos de defesa dos presos apresentaram um relatório sobre o primeiro semestre de 2021. Nas cadeias israelitas, há actualmente 4850 palestinianos, 540 dos quais ao abrigo da «detenção administrativa». Entre os palestinianos que se encontram nos cárceres de Israel, contam-se 43 mulheres e 225 menores, segundo o documento conjunto divulgado este fim-de-semana pela Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos, a Sociedade dos Presos Palestinianos, a Addameer e o Centro de Informação Wadi Hilweh. Os organismos referidos precisaram que 12 presos são membros do Conselho Legislativo Palestiniano (Parlamento), 70 são provenientes dos territórios ocupados em 1948, 350 são originários de Jerusalém ocupada e 240 da Faixa de Gaza cercada. O informe destaca a existência de 540 prisioneiros palestinianos em detenção administrativa, sem acusação formada ou julgamento, por períodos de seis meses indefinidamente renováveis. No que respeita a detenções, os organismos de defesa dos presos revelaram que Israel prendeu 5426 palestinianos entre 1 de Janeiro e 30 de Junho deste ano – um número superior a todas as detenções efectuadas pelas forças israelitas em 2020 e registadas por estas organizações: 4636. Por ocasião do Dia da Criança Palestiniana, que se assinala a 5 de Abril, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos revelou também que 140 menores permanecem em cadeias israelitas. Os menores palestinianos, alguns dos quais crianças, continuam a ser alvo das forças militares israelitas, que os prendem, muitas vezes de forma violenta, nos territórios ocupados. De acordo com um relatório publicado este domingo pela Sociedade dos Prisioneiros Palestinianos, pelo menos 230 foram detidos desde o início do ano, a maioria dos quais em Jerusalém Oriental ocupada. O grupo de defesa dos direitos dos presos sublinhou que «as crianças encarceradas são submetidas a vários tipos de abusos, incluindo «a recusa de comida e de bebida por longas horas, abuso verbal e a detenção em condições duras». O informe veio a lume na véspera do Dia da Criança Palestiniana, que se assinala a 5 de Abril, com actividades culturais, educativas e mediáticas que, refere a PressTV, visam reforçar a consciência sobre o sofrimento dos menores palestinianos. Também no âmbito do Dia da Criança Palestiniana, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos revelou que 140 menores permanecem em cadeias israelitas, incluindo dois que se encontram presos ao abrigo do regime de detenção administrativa. Uma comissão da ONU reafirmou denúncias expostas em vários relatórios sobre detenções de menores palestinianos por Israel – quase sempre presos de noite, algemados e vendados. É o início da «viagem ao inferno». A instância, composta por especialistas independentes das Nações Unidas, expressou particular preocupação pela expansão dos colonatos e o aumento da violência dos colonos israelitas, em que se incluem ataques a crianças e às suas escolas. Segundo se pode ler no portal oficial de notícias da ONU, na semana passada diversas organizações informaram a comissão sobre as operações nocturnas levadas a efeito pelas forças israelitas com o propósito de deter crianças e adolescentes na Cisjordânia ocupada, com «graves consequências para o seu bem-estar e gozo dos seus direitos». «Mais de 300 crianças estão detidas no sistema militar israelita. A maioria por delitos menores, como atirar pedras e publicações nas redes sociais», assinala a comissão, que denuncia o facto de os menores serem «levados para locais desconhecidos, presos em viaturas militares e sujeitos a ameaças e abusos verbais», bem como o facto de, por vezes, serem «obrigados a assinar confissões em hebraico, uma língua que não costumam entender». Estas preocupações reafirmam as que têm sido veiculadas, ao longo do tempo, por várias entidades, nomeadamente a Comissão dos Prisioneiros Palestinianos, órgão dependente da Autoridade Palestiniana que, em diversas ocasiões (também este ano), alertou para o facto de os menores serem torturados e sofrerem abusos nos cárceres israelitas, bem como para o facto de serem espancados, insultados e pressionados no momento da detenção. No final de Março, um relatório publicado pelo Ministério palestiniano da Informação denunciava também esta realidade, afirmando que «95% das crianças palestinianas presas pelas autoridades israelitas foram torturadas durante a detenção». De acordo com o relatório, até 2015 foram documentadas anualmente 700 detenções de menores palestinianos. Já em 2017, Israel prendeu 1467 crianças e adolescentes; 1063 no ano seguinte e, nos dois primeiros dois meses deste ano, 118. Entre 2000 e 2018, foram presos mais de 16 mil menores. Numa peça intitulada «“Endless Trip to Hell”: Israel Jails Hundreds of Palestinian Boys a Year. These Are Their Testimonies», publicada em Março e plenamente actual, o periódico israelita Haaretz aborda esta realidade, em que as crianças, algumas com idades inferiores a 13 anos, «são detidas pela calada da noite, vendadas e algemadas, alvo de abusos e constrangidas» a confessar «crimes» que não cometeram. A peça, que reúne testemunhos de sete jovens da Margem Ocidental ocupada com idades compreendidas entre os dez e os 15 anos, revela as diversas fases do processo de detenção, que começa nas operações nocturnas e passa pelo interrogatório, a prisão, o julgamento e a proposta de um acordo. Na sua maioria, os jovens são presos por, alegadamente, terem atirado pedras ou queimado pneus, mas, como sublinha a advogada Farah Bayadsi o objectivo das detenções «é mais para mostrar controlo do que para aplicar a lei». A experiência traumática é fundamentada por tudo aquilo por que as crianças passam durante uma detenção. Arrancadas de casa quando dormem, são algemadas e vendadas, levadas em veículos militares para colonatos e bases israelitas, passando por todo um processo que envolve intimidação, ameaças, agressões físicas, afastamento da família e pressão para «confessar». O nível de brutalidade varia. Khaled Mahmoud Selvi, preso quando tinha 15 anos, foi levado para a prisão e despido (o que, de acordo com o jornal, ocorre em 55% dos casos), tendo sido obrigado a permanecer dez minutos nu, em pé, durante o Inverno. De acordo com os dados recolhidos pela organização não governamental (ONG) British-Palestinian Military Court Watch, 97% dos jovens palestinianos detidos pelas forças militares israelitas (IDF) vivem em pequenas localidades a menos de dois quilómetros de um colonato. O advogado Gerard Horton, da ONG referida, afirma que a ideia é «assustar toda a aldeia» e que se trata de um «instrumento eficaz» para controlar uma comunidade. Acrescenta que, do ponto de vista dos ocupantes e opressores, a pressão «tem de ser constante»: «Cada geração tem de sentir a mão pesada das IDF.» A experiência é traumática. O pai de Khaled Shtaiwi, preso com 13 anos em Novembro do ano passado, contou ao periódico que criou na sua aldeia o «dia da psicologia», porque o seu filho não é capaz de falar sobre o que se passou e porque quer ajudar todas as crianças que foram presas pelos israelitas. Em Beit Ummar, Omar Ayyash foi preso com dez anos de idade, em Dezembro último. Agora, as crianças que brincam nas ruas da aldeia afastam-se assim que se apercebem da aproximação de soldados israelitas. Tornou-se um hábito desde que as tropas levaram Omar. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Por seu lado, a organização Defense for Children International – Palestine (DCIP) destacou que todos os anos entre 500 e 700 menores palestinianos são processados em tribunais militares israelitas e que 85% das crianças palestinianas detidas em 2020 foram «submetidas a violência física». Num comunicado, a DCIP afirma ter documentado 27 casos em que as crianças foram mantidas na solitária um ou dois dias, alegando as forças israelitas «objectivos de investigação». Esta prática é, segundo o organismo, uma forma de «tortura ou tratamento cruel, desumano e degradante». Desde Outubro de 2015, a DCIP registou a 36 ordens de detenção administrativa decretadas contra menores palestinianos, dois dos quais se mantêm nesse regime. Ainda de acordo com o organismo sediado em Genebra, em 2020, as forças israelitas mataram nove menores palestinianos na Cisjordânia ocupada, incluindo Jerusalém Oriental, e na Faixa de Gaza, seis dos quais com fogo real. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. O relatório divulgado este fim-de-semana informa que, entre os palestinianos detidos pelas forças israelitas, se incluem 854 menores e 107 mulheres, tendo sido emitidas na primeira metade do ano 680 ordens de detenção administrativa, incluindo 312 novas. No mês de Junho foram presos 615 palestinianos, revela o texto, destacando que Maio foi de longe o mês em que se registou um maior número de detenções na primeira metade deste ano. Então, mês de massacre contra Gaza e de múltiplas provocações sionistas no Complexo da Mesquita de al-Aqsa e em Jerusalém Oriental ocupada, as forças israelitas prenderam 3100 palestinianos, incluindo 2000 nos territórios ocupados em 1948 (actual Estado de Israel) e 677 em Jerusalém Oriental ocupada, informa a WAFA. De acordo com a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos, há actualmente nove presos em greve de fome nos cárceres israelitas como forma de protesto contra o regime de detenção administrativa que lhes foi aplicado. A Comissão pediu às instâncias internacionais e regionais de defesa dos direitos humanos que pressionem as autoridades israelitas no sentido de acabar com os maus-tratos aos presos em greve de fome, que passam também pela sua reclusão na solitária. Os presos palestinianos recorrem com frequência a esta forma de luta contra um regime de detenção ilegal, cujo fim exigem. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. De acordo com os grupos de defesa dos direitos dos prisioneiros palestinianos, há actualmente quase 550 nos cárceres israelitas detidos ao abrigo deste regime, que tem merecido ampla condenação internacional e que permite a Israel manter nas suas prisões, sem acusação ou julgamento, presos palestinianos por tempo indefinido, na medida em que o período de detenção, até seis meses, é infinitamente renovável. A detenção, que é decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta» – e é tão «secreta» que nem o advogado do detido tem direito a vê-la. Alguns prisioneiros palestinianos passaram mais de uma década nas cadeias israelitas ao abrigo deste regime de «detenção», que é considerado ilegal à luz do direito internacional. Como forma de protesto contra as suas detenções ilegais e para exigir que Israel ponha fim a esta prática, os presos palestinianos recorrem com frequência a greves de fome por tempo indeterminado. Apesar da pressão internacional e dos protestos dos prisioneiros, as autoridades israelitas não têm dado sinais de querer acabar com este regime. Pelo contrário, tanto a comissão referida como o Centro Palestiniano de Estudos sobre Prisioneiros têm dado conta de novas ordens de detenção administrativa e de múltiplas renovações. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Na maior parte dos casos, estavam presos ao abrigo do regime de detenção administrativa, como Hisham Abu Hawwash, de 40 anos, habitante da localidade de Dura (Cisjordânia ocupada) que se mantém há 140 dias em greve de fome e está numa situação considerada muito crítica. Nos últimos dias, as autoridades palestinianas alertaram para o estado de saúde crítico de Abu Hawwash, responsabilizaram Telavive por aquilo que lhe possa acontecer e pediram à comunidade internacional que pressione as autoridades israelitas para o libertarem. Também a Cruz Vermelha se mostrou preocupada com o caso, sublinhando a necessidade de tratar os reclusos com humanidade e de encontrar uma solução que evite «consequências irreversíveis» para Hawwash. De acordo com a SPP, este domingo cerca de 500 reclusos palestinianos presos em Israel ao abrigo do regime da detenção administrativa – criticado pela ONU – declararam o boicote aos tribunais israelitas, porque «sentem que os tribunais alinham sempre com o governo militar e as suas ordens, e não os tratam com imparcialidade». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. De acordo com a comissão, há actualmente mais de 760 presos nas cadeias israelitas sem acusação ou julgamento. A detenção, decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta», que nem o advogado do detido tem direito a ver. Cerca de 80% dos presos palestinianos neste regime são ex-presos que já passaram anos atrás das grades, revela a Wafa. Em comunicado, emitido há dias, o Ramo Penitenciário da Frente Popular para a Libertação da Palestina afirmou que «estes 30 prisioneiros, juntos, passaram quase 200 anos em detenção administrativa. Duzentos anos de cativeiro sem acusação ou julgamento por capricho dos oficiais de inteligência da ocupação». O texto, divulgado pela Samidoun (rede de solidariedade com os presos palestinianos), sublinha que se trata de uma «pena perpétua», uma vez que muitos presos são libertados durante alguns meses e são novamente detidos. «Temos um mês de liberdade por cada ano de detenção», afirmam. Dizem que são «alimentados pela dignidade» e querem que as autoridades israelitas saibam que, mesmo que os torturem e lhes provoquem dor, «que a nossa luta continua, e que semearemos alegria, vida e esperança, e que nossa luta pela liberdade e pela humanidade livre de tormentos não vai parar». Leila Khaled, membro do Comité Central da FPLP e símbolo da resistência palestiniana, anunciou uma greve de fome solidária com os presos, a quem saudou por estarem «na primeira linha do confronto a este inimigo criminoso fascista». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. De acordo com a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos, dos cerca de 4600 palestinianos actualmente presos nas cadeias israelitas, mais de 760 são reclusos sem acusação ou julgamento, cuja detenção pode ser infinitamente renovada por períodos até seis meses. A detenção, decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta», que nem o advogado do detido tem direito a ver. Após o início da greve de fome, Basil Mizher, outro advogado palestiniano detido sem acusação ou julgamento, viu ser-lhe renovada a detenção administrativa por mais três meses, no passado dia 28. Numa mensagem que Mizher escreveu no início do protesto, lida pela sua mãe numa acção solidária no campo de refugiados de Dheisheh, em Belém, o preso diz que a sua profissão é a de advogado, mas que mal se lembra dela, pois quase não a conseguiu exercer desde que se formou – foi submetido a três detenções administrativas desde que passou no exame. Em vez de ir trabalhar, foi para a prisão, lê-se no texto divulgado pela pela Samidoun (rede de solidariedade com os presos palestinianos). «Ou nos submetemos à opressão e à privação e aceitamos o roubo perpétuo da nossa liberdade e da nossa vida à vista do mundo, ou nos revoltamos contra a injustiça e derrubamos os muros do carcereiro com todas as ferramentas que temos», escreveu Basil Mizher a propósito da greve de fome, que é a «recusa da política de subordinação e domesticação». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Alguns prisioneiros palestinianos passaram mais de uma década nas cadeias israelitas ao abrigo deste sistema, e é comum os presos recorrerem a greves de fome por tempo indeterminado como forma de chamar a atenção para os seus casos e fazer pressão junto das autoridades israelitas para que os libertem. Agora, a SPP revelou também que, dos 835 palestinianos actualmente presos ao abrigo deste regime, 80 são mulheres, indica a agência Wafa. Além disso, a organização não governamental (ONG) informou que, ao longo de 2022, as autoridades israelitas emitiram 2134 ordens de detenção administrativa, 242 das quais em Novembro (o ano passado foram 1595). Desde o início de 2022 até ao fim de Novembro, as forças israelitas prenderam 6500 palestinianos, revelou a SPP, citada pela agência turca Anadolu. Entre os detidos, contavam-se 153 mulheres e 811 menores de idade acrescentou. As forças de ocupação israelitas detiveram 5300 palestinianos desde o princípio deste ano, incluindo 111 mulheres e 620 menores de idade, revelou esta segunda-feira uma organização não governamental. Em comunicado, a Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) afirmou que, com 2353 detenções registadas, Jerusalém Oriental ocupada se situa no primeiro lugar por regiões, e que Abril foi o mês com maior número de detenções (1228 casos), noticia a agência Wafa. A SPP condenou os ataques e raides israelitas contra cidades, aldeias e campos de refugiados na Cisjordânia ocupada para prender activistas, referindo que muitos palestinianos foram mortos, nesse processo, pelas balas do Exército. Neste contexto, o número de execuções extrajudiciais no terreno, em 2022, é mais elevado por comparação com anos anteriores, alertou a SPP, que também questionou os bloqueios militares a localidades e campos de refugiados palestinianos, classificando-os como uma punição colectiva. No que respeita às detenções administrativas, a organização afirmou que este ano, até à data, foram emitidas 1160. Só no mês de Agosto, foram decretadas 272, pelo que, no final de Setembro, havia cerca de 800 palestinianos nas prisões israelitas detidos sem acusação ou julgamento. Ao abrigo deste regime, os períodos de detenção podem ser infinitamente renovados por períodos até seis meses. A detenção, decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta», que nem o advogado do detido tem direito a ver. De forma reiterada, os presos palestinianos detidos sob este regime iniciam greves de fome para denunciar os seus casos e a política de detenção administrativa, exigindo a sua libertação. Diversas instâncias das Nações Unidas têm denunciado repetidamente este regime israelita de detenção, na medida em que não faculta aos detidos palestinianos as «salvaguardas jurídicas básicas» e violam o direito internacional humanitário. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Só no mês de Novembro, foram detidos 490 palestinianos, incluindo 76 menores e 12 mulheres, informaram, num relatório conjunto, a SPP, a Addameer, o Centro de Informação Wadi Hilweh e a Comissão dos Assuntos dos Presos e Ex-Presos Palestinianos. No relatório mensal a que o Middle East Monitor faz referência, as quatro organizações de defesa dos direitos presos afirmaram que, no mês passado, o maior número de detenções ocorreu em Hebron (al-Khalil; 135 casos), seguida por Jerusalém (123), Ramallah (52), Jenin e Nablus. De acordo com os grupos, há actualmente nas cadeias israelitas cerca de 4700 palestinianos presos, incluindo 34 mulheres e 150 menores. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. «A ocupação israelita e a sua administração prisional levaram a cabo o assassinato deliberado do preso Khader Adnan ao rejeitar o seu pedido de libertação, ao negligenciá-lo medicamente e ao mantê-lo na sua cela apesar da gravidade do seu estado de saúde», afirmou Shtayyeh em comunicado. Várias facções palestinianas pronunciaram-se no mesmo sentido, responsabilizando Israel pela morte de Khader Adnan e sublinhando o crime «premeditado e a sangue-frio». Por seu lado, o Ministério palestiniano dos Negócios Estrangeiros pediu uma investigação internacional sobre a morte do prisioneiro e instou o Tribunal Penal Internacional a incluir este caso no processo relativo aos crimes de guerra cometidos por Israel contra o povo palestiniano nos territórios ocupados. Para denunciar «o crime que levou à morte» de Khader Adnan numa prisão israelita, foi declarada, esta terça-feira, uma greve geral que «afecta todos os aspectos da vida», tanto na Faixa de Gaza cercada como na Margem Ocidental ocupada, incluindo Jerusalém Oriental, indica a Wafa. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Em relatórios anteriores, a SPP lembrou que esta política visa «esmagar os activistas políticos palestinianos» e se baseia num ficheiro secreto não acessível aos presos – nem sequer aos seus advogados. Alguns prisioneiros palestinianos passaram mais de uma década nas cadeias israelitas ao abrigo deste sistema, e é comum os presos recorrerem a greves de fome por tempo indeterminado como forma de chamar a atenção para os seus casos e fazer pressão junto das autoridades israelitas para que os libertem. A 2 de Maio último, Khader Adnan, de 44 anos, morreu na cadeia, quase três meses depois de ter iniciado uma greve de fome contra a sua detenção sem acusação ou julgamento. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Num comunicado de imprensa, que a Wafa cita, a Comissão exigiu «acção real e tangível, no sentido de formar um comité internacional de direitos humanos que vá imediatamente às prisões da ocupação israelita, analise o crime [de detenção administrativa] em todos os seus detalhes e observe de perto o sofrimento dos detidos administrativos, que estão presos sem quaisquer acusações ou julgamentos, e vivem à mercê dos chamados oficiais dos serviços de inteligência israelitas». «Os abusos imorais e desumanos associados à utilização desta política pela potência ocupante violam todos os princípios do direito internacional e da humanidade, e estão em contradição real com os teóricos da democracia e aqueles que afirmam ser democráticos em todo o mundo, especialmente na América e na Europa», acrescenta a nota. De acordo com os dados divulgados em Junho último pela organização israelita de defesa dos direitos B'Tselem, em Março deste ano, Israel mantinha nas suas prisões 1017 pessoas em regime de detenção administrativa. É preciso recuar duas décadas, até Abril de 2003, para encontrar um número mais elevado de detidos administrativos nas prisões israelitas – 1140 –, referiu a organização. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. «De acordo com a lei militar que se aplica na Cisjordânia, uma pessoa pode ser detida administrativamente durante seis meses, mas a ordem pode ser renovada, pelo que a reclusão na prática é indefinida e os detidos nunca sabem quando serão libertados», alertou a B'Tselem, outra organização israelita de defesa dos direitos humanos nos territórios ocupados. De forma sistemática, presos administrativos entram em greve de fome por tempo indeterminado para chamar a atenção para os seus casos e forçar a sua libertação. Em meados de Agosto, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos pediu à chamada comunidade internacional que quebre o silêncio em torno do «crime israelita da detenção administrativa». Num comunicado de imprensa, divulgado pela Wafa, a Comissão exigiu «acção real e tangível, no sentido de formar um comité internacional de direitos humanos que vá imediatamente às prisões da ocupação israelita, analise o crime [de detenção administrativa] em todos os seus detalhes e observe de perto o sofrimento dos detidos administrativos, que estão presos sem quaisquer acusações ou julgamentos, e vivem à mercê dos chamados oficiais dos serviços de inteligência israelitas». «Os abusos imorais e desumanos associados à utilização desta política pela potência ocupante violam todos os princípios do direito internacional e da humanidade, e estão em contradição real com os teóricos da democracia e aqueles que afirmam ser democráticos em todo o mundo, especialmente na América e na Europa», afirmou o organismo. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Desde 28 de Setembro de 2000 até à data, refere a Comissão, foram detidas mais de 2600 raparigas e mulheres, incluindo quatro que deram à luz na cadeia. No mesmo período, foram emitidas 32 mil ordens de detenção administrativa, a que Israel recorre para manter reclusos nas cadeias sem acusação nem julgamento, com base numa «prova secreta» que nem o advogado do detido pode ver. A Comissão registou um aumento «assinalável» no recurso a este regime, amplamente condenado a nível internacional, contra o qual os presos palestinianos protestam, de forma reiterada, entrando em greve de fome por tempo indeterminado, para exigir a sua libertação e o fim da aplicação da política de detenção referida. «De acordo com a lei militar que se aplica na Cisjordânia, uma pessoa pode ser detida administrativamente durante seis meses, mas a ordem pode ser renovada, pelo que a reclusão na prática é indefinida e os detidos nunca sabem quando serão libertados», alertou recentemente a B'Tselem, uma organização israelita de defesa dos direitos humanos nos territórios ocupados. Uma comissão da ONU reafirmou denúncias expostas em vários relatórios sobre detenções de menores palestinianos por Israel – quase sempre presos de noite, algemados e vendados. É o início da «viagem ao inferno». A instância, composta por especialistas independentes das Nações Unidas, expressou particular preocupação pela expansão dos colonatos e o aumento da violência dos colonos israelitas, em que se incluem ataques a crianças e às suas escolas. Segundo se pode ler no portal oficial de notícias da ONU, na semana passada diversas organizações informaram a comissão sobre as operações nocturnas levadas a efeito pelas forças israelitas com o propósito de deter crianças e adolescentes na Cisjordânia ocupada, com «graves consequências para o seu bem-estar e gozo dos seus direitos». «Mais de 300 crianças estão detidas no sistema militar israelita. A maioria por delitos menores, como atirar pedras e publicações nas redes sociais», assinala a comissão, que denuncia o facto de os menores serem «levados para locais desconhecidos, presos em viaturas militares e sujeitos a ameaças e abusos verbais», bem como o facto de, por vezes, serem «obrigados a assinar confissões em hebraico, uma língua que não costumam entender». Estas preocupações reafirmam as que têm sido veiculadas, ao longo do tempo, por várias entidades, nomeadamente a Comissão dos Prisioneiros Palestinianos, órgão dependente da Autoridade Palestiniana que, em diversas ocasiões (também este ano), alertou para o facto de os menores serem torturados e sofrerem abusos nos cárceres israelitas, bem como para o facto de serem espancados, insultados e pressionados no momento da detenção. No final de Março, um relatório publicado pelo Ministério palestiniano da Informação denunciava também esta realidade, afirmando que «95% das crianças palestinianas presas pelas autoridades israelitas foram torturadas durante a detenção». De acordo com o relatório, até 2015 foram documentadas anualmente 700 detenções de menores palestinianos. Já em 2017, Israel prendeu 1467 crianças e adolescentes; 1063 no ano seguinte e, nos dois primeiros dois meses deste ano, 118. Entre 2000 e 2018, foram presos mais de 16 mil menores. Numa peça intitulada «“Endless Trip to Hell”: Israel Jails Hundreds of Palestinian Boys a Year. These Are Their Testimonies», publicada em Março e plenamente actual, o periódico israelita Haaretz aborda esta realidade, em que as crianças, algumas com idades inferiores a 13 anos, «são detidas pela calada da noite, vendadas e algemadas, alvo de abusos e constrangidas» a confessar «crimes» que não cometeram. A peça, que reúne testemunhos de sete jovens da Margem Ocidental ocupada com idades compreendidas entre os dez e os 15 anos, revela as diversas fases do processo de detenção, que começa nas operações nocturnas e passa pelo interrogatório, a prisão, o julgamento e a proposta de um acordo. Na sua maioria, os jovens são presos por, alegadamente, terem atirado pedras ou queimado pneus, mas, como sublinha a advogada Farah Bayadsi o objectivo das detenções «é mais para mostrar controlo do que para aplicar a lei». A experiência traumática é fundamentada por tudo aquilo por que as crianças passam durante uma detenção. Arrancadas de casa quando dormem, são algemadas e vendadas, levadas em veículos militares para colonatos e bases israelitas, passando por todo um processo que envolve intimidação, ameaças, agressões físicas, afastamento da família e pressão para «confessar». O nível de brutalidade varia. Khaled Mahmoud Selvi, preso quando tinha 15 anos, foi levado para a prisão e despido (o que, de acordo com o jornal, ocorre em 55% dos casos), tendo sido obrigado a permanecer dez minutos nu, em pé, durante o Inverno. De acordo com os dados recolhidos pela organização não governamental (ONG) British-Palestinian Military Court Watch, 97% dos jovens palestinianos detidos pelas forças militares israelitas (IDF) vivem em pequenas localidades a menos de dois quilómetros de um colonato. O advogado Gerard Horton, da ONG referida, afirma que a ideia é «assustar toda a aldeia» e que se trata de um «instrumento eficaz» para controlar uma comunidade. Acrescenta que, do ponto de vista dos ocupantes e opressores, a pressão «tem de ser constante»: «Cada geração tem de sentir a mão pesada das IDF.» A experiência é traumática. O pai de Khaled Shtaiwi, preso com 13 anos em Novembro do ano passado, contou ao periódico que criou na sua aldeia o «dia da psicologia», porque o seu filho não é capaz de falar sobre o que se passou e porque quer ajudar todas as crianças que foram presas pelos israelitas. Em Beit Ummar, Omar Ayyash foi preso com dez anos de idade, em Dezembro último. Agora, as crianças que brincam nas ruas da aldeia afastam-se assim que se apercebem da aproximação de soldados israelitas. Tornou-se um hábito desde que as tropas levaram Omar. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. No relatório agora publicado, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos refere-se ainda ao recurso à tortura nos cárceres israelitas, bem como aos assassinatos e às «execuções lentas» por falta de cuidados médicos. Denuncia igualmente a «escalada de casos de opressão, abuso e incitação racista» contra os presos palestinianos. De acordo com o organismo, estão actualmente detidos em cadeias israelitas, nos territórios ocupados em 1948, cerca de 5200 palestinianos. Destes, 38 são mulheres e 170 são menores de idade. Há ainda mais de 1250 presos palestinianos em regime de detenção administrativa e 700 reclusos doentes, 24 dos quais com enfermidades oncológicas. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Num comunicado posterior, as Brigadas al-Qassam afirmaram ter capturado «mais de 35 soldados e civis israelitas do colonato sionista de Sderot». A operação desta manhã apanhou de surpresa o Exército da ocupação, o que está a valer múltiplas críticas ao governo de Netanyahu, em Israel. Entretanto, foi declarado o «estado de preparação para a guerra» entre as forças militares israelitas, e o ministro da Defesa, que aprovou o recrutamento de soldados na reserva, declarou o estado de emergência numa faixa de 80 quilómetros em redor da Faixa de Gaza. A agência Wafa já deu conta de bombardeamentos israelitas contra o enclave costeiro nas últimas horas, dos quais resultaram vários mortos. A mesma fonte refere que o Ministério palestiniano da Saúde colocou todas as unidades hospitalares do país em situação de emergência. De acordo com as autoridades de saúde no enclave costeiro, pelo menos 198 pessoas morreram e mais de 1600 ficaram feridas (muitas das quais em estado grave) como consequência dos bombardeamentos israelitas contra a Faixa e Gaza ao longo do dia, refere a Wafa, em retaliação contra o ataque da resistência palestiniana, esta manhã. Por seu lado, a agência Prensa Latina refere-se à morte de uma centena de israelitas e cerca de 900 feridos, no contexto da operação de grande escala da resistência palestiniana, que ocupou diversas localidades e bases militares da ocupação próximas do enclave cercado. Entretanto, a Wafa dá conta de vários ataques da parte de colonos e forças israelitas contra diversas localidades e bairros palestinianos na Cisjordânia e Jerusalém ocupadas, dos quais resultaram pelo menos um morto e um número indeterminado de feridos. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Israel retaliou com a «Operação Espadas de Ferro», com ataques aéreos sobre a Faixa de Gaza sitiada e, de acordo com a última contagem do Ministério da Saúde palestiniano, 313 habitantes de Gaza morreram na ofensiva, incluindo 20 crianças, enquanto outros 1990 palestinianos ficaram feridos no enclave. Do lado israelita, foram confirmadas até à manhã de hoje cerca de 300 pessoas mortas e 1864 feridas, das quais 19 estão em estado crítico, 326 em estado grave e as restantes em estado moderado ou ligeiro. No ano em que se assinalam os 75 anos da Nakba (catástrofe), «mais de cinco décadas depois de Israel ocupar militarmente a totalidade do território da Palestina histórica», o MPPM lembra que a campanha de limpeza étnica que acompanhou a formação de Israel se prolonga até hoje. «Em Gaza, de onde partiu esta acção, vivem cerca de 2,2 milhões de pessoas, descendentes dessas sucessivas vagas de limpeza étnica», alerta o movimento. Apesar de as Nações Unidas o considerarem «impróprio para sustentar a vida humana», desde 2006 que o Estado israelita impõe um «bloqueio criminoso» sobre aquele território. Uma ONG palestiniana e outra israelita acusam Israel de ter trabalhado para «branquear a verdade» sobre os crimes cometidos pelas suas tropas durante os protestos da Grande Marcha do Retorno, em Gaza. Num relatório conjunto, o Centro Palestiniano para os Direitos Humanos (PCHR), sediado em Gaza, e a organização israelita B'Tselem analisam as investigações que Israel diz ter levado a cabo na sequência da repressão exercida pelas forças israelitas sobre os manifestantes que, na Faixa de Gaza, reclamaram o direito de regresso dos refugiados a suas casas. Os protestos conhecidos como Grande Marcha do Retorno começaram a 30 de Março de 2018 e prolongaram-se por mais de um ano e meio. Pelo menos 200 palestinianos foram mortos e 13 500 ficaram feridos – seguindo os números por baixo, uma vez que outras fontes apontam para mais de 300 mortos e cerca de 18 mil feridos, várias dezenas dos quais menores. O vento e a chuva forte que se abateram esta semana sobre Gaza não impediram centenas de manifestantes de participarem, na sexta-feira, na última manifestação de 2019 da Grande Marcha do Retorno. Dezenas de palestinianos foram feridos esta sexta-feira pelas forças israelitas na Faixa de Gaza, quando participavam na 86.ª manifestação da Grande Marcha do Retorno, perto da vedação com que Israel isola o território palestino, segundo o Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente (MPPM). Vários dos participantes nas manifestações, segundo o MPPM, foram feridos por balas reais e revestidas de borracha, enquanto dezenas de outros sofreram de asfixia por efeito do gás lacrimogéneo disparado pelas forças de ocupação. Centenas de manifestantes participaram nos protestos apesar das adversas condições climatéricas. A Faixa de Gaza tem sido batida por vento e chuva forte na última semana, com as inundações a porem em risco cerca de 235 mil pessoas nas áreas mais baixas da Faixa de Gaza, segundo um relatório do Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA) no território palestiniano ocupado. A 30 de Março os palestinianos comemoram o Dia da Terra. Nesse dia, em 1976, no Norte de Israel, foram assassinados seis palestinianos que protestavam contra a expropriação de terras para dar lugar a aldeamentos judaicos. Cerca de 100 outras pessoas ficaram feridas e centenas foram presas durante a greve geral e as grandes manifestações de protesto que, no mesmo dia, ocorreram no território do Estado de Israel. A 30 de Março de 2018 a comemoração atingiu uma dimensão inusitada, ao tornar a celebração deste dia como o primeiro de uma «Grande Marcha do Retorno», uma reclamação do direito de regresso dos refugiados aos seus lares – tal como prescreve a resolução 194 das Nações Unidas – à Palestina histórica, de onde mais de 700 mil pessoas foram expulsas pelas tropas israelitas em 1948, durante a chamada «catástrofe» («Nakba», em árabe). Desde então o protesto repete-se semanalmente, violentamente reprimido pelas forças israelitas, incluindo com o recurso a snipers e fogo real directo. Como resultado, pelo menos 348 palestinos foram mortos em Gaza por fogo israelita desde o início das marchas, a maioria deles durante as manifestações, segundo uma contagem da AFP citada pelo MPPM. Para além disso, o Ministério da Saúde de Gaza regista mais de 18 mil feridos pelas forças repressivas sionistas. Entre as baixas contam-se crianças, mulheres, muitos adolescentes, jornalistas e trabalhadores dos serviços de saúde que tentam socorrer os manifestantes. Em Março, uma missão de averiguação da ONU concluiu que as forças israelitas cometeram violações de direitos humanos na repressão dos manifestantes em Gaza, o que pode constituir crimes de guerra. Os organizadores da Grande Marcha do Retorno anunciaram nesta quinta-feira que os protestos seriam suspensos até Março de 2020, altura em que serão retomados, coincidindo com o seu segundo aniversário e também com o Dia da Terra palestina (30 de Março). A partir daí realizar-se-ão a um ritmo mensal. Além do bloqueio a que sujeita a Faixa de Gaza, na última década Israel lançou três guerras de agressão contra o pequeno território palestino e dezenas de ataques de escala mais limitada, matando milhares de pessoas e causando enormes destruições de casas e infra-estruturas. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. As duas organizações não governamentais (ONG) acusam Israel de proteger os responsáveis políticos e militares, «em vez de tomar medidas contra as pessoas que conceberam e implementaram a política ilegal de atirar a matar». Israel foi célere a anunciar que estava a investigar os protestos, sobretudo devido aos procedimentos em curso no Tribunal Penal Internacional (TPI), afirmaram as organizações numa conferência de imprensa, a que a agência WAFA faz referência. Isso deve-se ao princípio da complementaridade do TPI, ou seja, se um Estado «estiver disposto e tiver capacidade» para realizar a investigação e a efectuar, o TPI não intervém. No entanto, não basta declarar que uma investigação está a ser feita; ela tem de ser eficaz, dirigida às altas patentes responsáveis e conduzir a uma acção contra elas, sublinham, acrescentando que isso não ocorre neste caso. «As investigações conduzidas por Israel não são mais do que uma cortina de fumo erguida para proteger do TPI os funcionários responsáveis. Israel não quer e não consegue investigar as violações de direitos humanos perpetradas pelas suas forças durante os protestos da Grande Marcha de Retorno na Faixa de Gaza. Tendo isto em conta, cabe agora ao TPI garantir a responsabilização penal», disseram as duas organizações. «Estas investigações – tal como as levadas a cabo pelo sistema de aplicação da lei militar noutros casos em que soldados causaram danos aos palestinianos – fazem parte do mecanismo de branqueamento de Israel, e o seu principal objectivo continua a ser silenciar as críticas externas, para que Israel possa continuar a implementar sua política sem mudanças», lê-se no portal da B'Tselem. A mudança da embaixada norte-americana de Telavive para Jerusalém fica associada a um «Dia de Raiva» na Palestina. Na Faixa de Gaza cercada, os franco-atiradores israelitas massacram os manifestantes. Quando o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel e a intenção de mudar a Embaixada do seu país de Telavive para essa cidade, ficou claro que tal passo constituía uma declaração de apoio ao Estado de Israel e à sua política de ocupação e repressão na Palestina, nomeadamente em Jerusalém. Várias organizações têm denunciado o número crescente de ameaças em locais religiosos não-judaicos, na cidade, bem como a intensificação do plano de «judaização» de Jerusalém Oriental, com o aumento da construção de colonatos e a expulsão da população palestiniana de suas casas, que são muitas vezes demolidas. Declarada por Israel como sua capital, Jerusalém tem o estatuto, reconhecido pelas Nações Unidas, de cidade ocupada, sendo Israel a potência ocupante (desde 1967). Os palestinianos querem-na como sua capital e quem apoia a solução dos «dois estados» reconhece que o Estado da Palestina tem em Jerusalém Oriental a sua capital. Logo em Dezembro, foi generalizado o repúdio internacional pela decisão da administração norte-americana e, a 21 desse mês, materializou-se na aprovação, por esmagadora maioria, na Assembleia Geral das Nações Unidas, de uma resolução que rejeita essa decisão e insta todos os estados-membros a não estabelecerem missões diplomáticas em Jerusalém, de acordo com a resolução 478 do Conselho de Segurança, de 1980. Esse repúdio face ao reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel também se fez sentir no interior de Israel, onde académicos, antigos embaixadores e defensores da paz enviaram uma carta a um representante de Trump, seguntou reportou o periódico Haaretz. Inicialmente, não ficou explícito que a concretização da mudança da Embaixada dos EUA para Jerusalém estaria associada ao 70.º aniversário da criação do Estado de Israel, que hoje se assinala, e que teria lugar na véspera da Nakba – a limpeza étnica levada a cabo pelas forças sionistas e pelo Estado de Israel, em que mais de 750 mil palestinianos foram expulsos das suas casas e terras –, uma «catástrofe» que todos os anos os palestinianos marcam a 15 de Maio. Na visita que efectuou em Janeiro a Israel, o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, afirmou que essa mudança deveria ocorrer no final de 2019. No entanto, a 23 de Fevereiro, o Departamento de Estado anunciou a antecipação da mudança para 14 de Maio, o que foi encarado pelos palestinianos como mais uma acção de «provocação». Em protesto contra a mudança da Embaixada dos EUA para Jerusalém, os palestinianos chamaram «Dia de Raiva» a este 14 de Maio. Nos territórios ocupados da Cisjordância, há notícia de mobilizações pelo menos em Ramallah e Hebron. Mas a grande mobilização está a ter lugar na Faixa de Gaza cercada, junto às vedações que enclausuram perto de 2 milhões de palestinianos – 80% dos quais são descendentes de refugiados – no pequeno enclave. De acordo com a PressTV, as forças militares israelitas, que reforçaram a sua presença tanto em redor de Gaza como na Margem Ocidental ocupada –, esperavam que 100 mil pessoas se manifestassem nos pontos habituais, hoje, dia da mudança da Embaixada norte-americana para Jerusalém. «os palestinianos querem mandar a mensagem de que não se adaptaram nem se vão adaptar à condição de refugiados» Sobre o culminar dos protestos pacíficos da Grande Marcha do Retorno, que se iniciaram a 30 de Março, o ministro israelita da Educação, Naftali Bennet, do partido de extrema-direita Lar Judaico, disse a uma rádio israelita que a vedação seria encarada como uma «Muralha de Ferro» e que quem se aproximasse dela seria tratado como um «terrorista», refere a PressTV. A mesma fonte indica ainda que a Força Aérea israelita lançou panfletos sobre a Faixa de Gaza, ontem e hoje, para demover os manifestantes de se aproximarem da vedação, mas sem sucesso, já que estes, segundo refere a Al Jazeera, têm estado a tentar atravessá-la, «defendendo o seu direito ao regresso, ao retorno, aconteça o que acontecer». Um membro do comité organizador da Grande Marcha do Retorno disse à Al Jazeera que, ao tentarem atravessar a vedação, «os palestinianos querem mandar a mensagem de que não se adaptaram nem se vão adaptar à condição de refugiados». Os franco-atiradores responderam de forma brutal, matando mais de quatro dezenas de pessoas que se manifestavam perto da vedação e ferindo perto de 2000, até ao momento. De acordo com a organização, os protestos de hoje e os que estão previstos para amanhã – dia da Nakba – devem ser os mais massivos, sendo o ponto culminante das sete semanas de mobilizações, fortemente reprimidas pelas forças israelitas, junto à vedação com a Faixa de Gaza. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Apesar dos milhares de feridos palestinianos resultantes da política de «atirar a matar» e de mais de centena e meia ter ficado sem membros inferiores ou superiores – as tropas israelitas usaram balas explosivas, as chamadas butterfly bullets, que se expandem no contacto com o corpo, provocando danos severos nos tecidos, nos ossos, nas veias –, nenhum destes casos foi investigado. Sem explicação, os militares decidiram investigar apenas os casos em que palestinianos foram mortos. Dos 234 casos recebidos pelos procuradores do Exército, foi completa a revisão de 143 e um deles, o da morte do adolescente Othman Hiles, de 14 anos, levou à condenação de um soldado por «abuso de autoridade ao ponto de pôr em risco a vida e a saúde». Foi condenado a um mês de serviço comunitário. No seu portal, a B'Tselem sublinha que «a conduta de Israel respeitante à investigação dos protestos em Gaza não é nova nem surpreendente», e recorda o que se passou depois da Operação Chumbo Fundido, em 2009, e da Operação Margem Protectora, em 2014. «Então, também, Israel desrespeitou o direito internacional, recusou-se a reformar a sua política apesar dos resultados letais e desviou as críticas prometendo investigar a sua conduta. Então, também, nada resultou dessa promessa», afirma. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Por outro lado, entre Março de 2018 e Dezembro de 2019, uma série de manifestações pacíficas designadas Grande Marcha do Retorno foram brutalmente reprimidas pelo exército de Israel, contabilizando-se 223 mortos e mais de nove mil feridos, sob o silêncio da comunidade internacional. «Os assaltos das forças de ocupação israelita às povoações e campos de refugiados palestinos, assim como a violência dos colonos e as prisões arbitrárias são o quotidiano com que os palestinos, homens e mulheres, jovens e menos jovens diariamente se confrontam», lembra o MPPM, salientando que, até este sábado, pelo menos 247 palestinianos, sobretudo jovens, foram mortos pelas forças israelitas e por colonos. Neste sentido, insiste que a paz no Médio Oriente e a solução da questão palestiniana «passam necessariamente por um desenlace que respeite os direitos inalienáveis» do povo palestiniano a uma pátria livre e independente, incluindo o direito de regresso dos refugiados. O MPPM rejeita os «lamentos» daqueles que «hipocritamente condenam as acções violentas de resistência dos oprimidos e se calam desde há décadas (ou pior, colaboram) perante a violência da ocupação», e entre os quais se encontra o Governo português. «Israel tem o direito de se defender. Estes ataques nada resolverão, contribuindo apenas para piorar a situação na região. Estamos solidários com Israel e oferecemos condolências pelas vítimas.», disse o ministro João Gomes Cravinho, este sábado, na rede social X. O governo palestiniano denunciou junto da ONU o assassinato de 44 menores, este ano, por soldados israelitas. Neste contexto, reclamou protecção para a infância e a responsabilização de Telavive. Numa carta enviada esta segunda-feira ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, o Ministério palestiniano dos Negócios Estrangeiros pediu protecção especial urgente para as crianças palestinianas, informa a agência Wafa. Mahmoud Samoudi, de 12 anos, foi, ontem, a vítima mortal mais recente das forças israelitas, não resistindo aos ferimentos quase duas semanas depois de ter sido atingido por uma bala no abdómen, durante uma operação militar na cidade de Jenin (Norte da Cisjordânia ocupada). Só nos últimos dias, «Israel, a potência ocupante, matou cinco crianças e jovens palestinianos, incluindo Adel Adel Daud (14 anos), Mahdi Ladadwa (17), Mahmoud Sous (17), Fayez Khaled Damdoum (17) e Ahmad Draghmeh (19)», indica o texto das autoridades palestinianas. Até 10 de Dezembro, 86 crianças foram mortas nos territórios ocupados da Palestina, fazendo de 2021 o ano mais mortífero para elas desde 2014, segundo os registos de uma organização não governamental. As forças israelitas mataram 76 crianças palestinianas este ano – 61 na Faixa de Gaza cercada e 15 na Cisjordânia ocupada, incluindo Jerusalém Oriental. Civis israelitas armados mataram duas crianças palestinianas na Cisjordânia, revela o relatório agora publicado pela Defense for Children International – Palestine (DCIP). A estas 78 crianças juntam-se sete que foram mortas por foguetes disparados incorrectamente por grupos armados palestinianos na Faixa de Gaza, e uma outra que foi morta por uma munição não detonada, cujas origens a ONG não conseguiu determinar. «Nos termos do direito internacional, a força letal intencional só se justifica em circunstâncias em que esteja presente uma ameaça directa à vida ou de ferimentos graves. No entanto, investigações e provas recolhidas pelo DCIP sugerem que as forças israelitas utilizam regularmente força letal contra crianças palestinianas em circunstâncias que podem equivaler a execuções extrajudiciais ou intencionais», lê-se relatório, traduzido pelo Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente – MPPM. Durante os 11 dias do ataque militar israelita à Faixa de Gaza, em Maio de 2021, naquilo que ficou conhecido como Operação Guardião dos Muros, as forças israelitas mataram 60 crianças palestinianas, segundo os dados recolhidos pela DCIP. «Aviões de guerra israelitas e drones armados bombardearam áreas civis densamente povoadas, matando crianças palestinianas que dormiam nas suas camas, brincavam nos seus bairros, faziam compras nas lojas perto das suas casas e celebravam o Eid al-Fitr [festa no fim do Ramadão] com as suas famílias», disse Ayed Abu Eqtaish, director do programa de responsabilização da DCIP. «A falta de vontade política da comunidade internacional para responsabilizar os funcionários israelitas garante que os soldados israelitas continuarão a matar ilegalmente crianças palestinianas com impunidade», acrescentou. A DCIP lembra que o direito humanitário internacional proíbe ataques indiscriminados e desproporcionados, e exige que todas as partes num conflito armado façam a distinção entre alvos militares, civis e objectos civis. O pico mais recente de assassinatos de crianças ocorrera em 2018, quando forças israelitas e colonos mataram crianças palestinianas a um ritmo médio superior a uma por semana (57). A maioria dessas mortes ocorreu durante os protestos da Marcha do Retorno, na Faixa de Gaza, refere o organismo. De acordo com os dados da DCIP, foram mortas 2196 crianças palestinianas, desde 2000, em resultado da presença de militares e de colonos israelitas nos territórios ocupados da Palestina. A Defense for Children International – Palestine é uma das seis organizações de direitos humanos que Israel pretende silenciar, lembra o MPPM, sublinhando que a medida tem merecido a condenação generalizada a nível internacional e foi denunciada pelo MPPM a 29 de Outubro último. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. A carta afirma que as forças de ocupação estão a utilizar «a política infame de atirar a matar» – de que resultou a morte de centenas de crianças palestinianas –, ao apontarem «deliberadamente» para a parte superior dos seus corpos. «Israel dispara deliberadamente contra os menores palestinianos com o objectivo declarado de os matar e mutilar, negando-lhes o direito à vida», lê-se no texto, sublinhando que «as crianças jamais devem ser mortas ou mutiladas», bem como a necessidade de medidas urgentes para as proteger da «escalada dos crimes israelitas». Neste sentido, o governo palestiniano exigiu medidas contra Telavive, destacando que as «evidências dos seus crimes crescentes contra as crianças palestinianas são, sem dúvida alguma, esmagadoras», violando o direito internacional e as resoluções que constituem a base da protecção das crianças nos conflitos armados. «A protecção das crianças é a maior obrigação moral, legal e política da humanidade», frisa o documento, no qual se pede à comunidade internacional que «ponha fim a este pesadelo intolerável que as nossas crianças vivem diariamente» e que tome medidas para responsabilizar Israel «pelos seus crimes horrendos». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. «Os que há décadas convivem com a ausência de qualquer real processo político conducente a uma solução que respeite os direitos do povo palestino, não têm autoridade moral para hoje se queixarem das tempestades que provocaram», defende o MPPM. Certo de que a violência poderá alastrar-se a todo o Médio Oriente, o movimento recorda que Israel, «com o apoio dos países "ocidentais" e em primeiro lugar dos Estados Unidos da América», é a maior potência militar da região e a única a dispor de armas nucleares. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Em nota divulgada pelo Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente (MPPM), um dos organizadores da concentração que se vai realizar a 11 de Outubro, às 18h, na Praça do Martim Moniz em Lisboa, a organização defende que a segurança de todos os povos da região passa, necessariamente, «pelo respeito do direito inalienável do povo palestino a uma pátria livre e independente, incluindo o direito de regresso dos refugiados». Já a CGTP-IN, em comunicado, denuncia «a política racista e de humilhação do Estado de Israel sobre os palestinianos» que se agravou nos últimos anos com «acções provocatórias dos sectores mais reaccionários da sociedade israelita, com a cumplicidade do governo de Netanyahu». A central sindical exprimiu ainda o seu «profundo pesar» pelas vítimas dos últimos dias. «Uma situação que só se mantém e agrava pelo incumprimento das dezenas de resoluções da ONU e pela manutenção e aprofundamento da política de ocupação e genocídio que, desde 1948, reprime e oprime o povo palestiniano», nomeadamente através da ocupação de terras, da expansão de colonatos e de crimes cometidos por Israel com vista à «limpeza étnica» da região. «Recordamos a destruição de escolas e serviços públicos, o ataque e prisão arbitrária (incluindo de 1200 crianças que desde o ano 2000 conheceram as prisões israelitas), a invasão de mesquitas, nomeadamente de Al-Aqsa, a destruição e inutilização de água potável e terrenos agrícolas, a manutenção do bloqueio e cerco de Israel a Gaza desde 2007 – onde os mais de dois milhões de palestinianos aí residentes permanecem encarcerados e sujeitos às maiores privações e à violação dos seus direitos mais básicos». No sábado, a resistência palestiniana quebrou a vedação que cerca o enclave e lançou uma ofensiva contra os territórios ocupados em 1948. Desde então, a aviação israelita matou mais de 430 palestinianos. De acordo com os dados divulgados pelo Ministério palestiniano da Saúde esta manhã, os bombardeamentos indiscriminados na Faixa de Gaza, conhecida como «a maior prisão a céu aberto», provocaram a morte a 436 pessoas, incluindo 91 menores, e fizeram 2271 feridos, 244 dos quais crianças. Nas últimas horas, a aviação da ocupação lançou centenas de raides contra o enclave costeiro, onde vivem mais de dois milhões de pessoas, atingindo edifícios residenciais, infra-estruturas oficiais e civis, bem como edifícios religiosos, tendo destruído pelo menos duas mesquitas, indica a agência Wafa. Só no sábado, os bombardeamentos israelitas provocaram 300 mortos, o que, segundo destaca o portal The Cradle, é o número mais elevado de palestinianos mortos em ataques aéreos da ocupação num só dia desde 2008. Enquanto se mantiver a ocupação colonial e a violência das forças militares e dos colonos, não haverá paz, alerta o Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente (MPPM). O MPPM reage assim às acções desencadeadas em Gaza e em Israel na madrugada deste sábado. Eram 4h30 em Lisboa (6h30 no local), quando militantes de organizações da resistência palestiniana lançaram, a partir da Faixa de Gaza, um ataque de surpresa, em larga escala, contra Israel, no que apelidaram de «Operação Dilúvio Al-Aqsa». Segundo as organizações, a acção foi uma resposta à profanação da Mesquita de Al-Aqsa e ao aumento da violência dos colonos, e confirma, insiste o MPPM num comunicado, «que não é possível ter uma situação de paz na Palestina e, por consequência, no Médio Oriente, continuando a espezinhar os legítimos direitos do povo palestino e persistindo em manter a ocupação colonial e a violência das forças militares e dos colonos». Diversos grupos da resistência declararam o apoio à operação lançada contra Israel, esta manhã, a partir da Faixa de Gaza, sublinhando que faz parte da luta de libertação nacional. «Fazemos parte desta batalha e os nossos combatentes estão lado a lado com os seus irmãos nas Brigadas al-Qassam (ala militar do Hamas) até à vitória», afirmou em comunicado Abu Hamza, porta-voz das Brigadas de al-Quds, braço militar da Jihad Islâmica. Em termos semelhantes, refere a Prensa Latina, se pronunciaram as Brigadas al-Nasser Salah al-Din, do Movimento de Resistência Popular: «Unidos numa trincheira neste dia glorioso do nosso povo.» Por seu lado, as Brigadas de Resistência Nacional anunciaram que os seus membros se juntaram à operação, lançada esta manhã pelo Hamas, que incluiu o lançamento de milhares de rockets e uma incursão terrestre em território ocupado em 1948. Atingido por disparos de colonos na cidade de Huwara, Labib Dumaidi, de 19 anos, é a mais recente das quatro vítimas mortais na Margem Ocidental ocupada, revelou o Ministério da Saúde. De acordo com a informação divulgada pelo Ministério, Labib Mohammed Dumaidi ficou gravemente ferido durante um ataque de colonos, ontem à noite, na cidade de Huwara, a sul de Nablus. Levado para um hospital, não resistiu aos ferimentos, já nas primeiras horas de sexta-feira. Residentes de Huwara tentaram fazer frente à provocação levada a cabo por dezenas de colonos, protegidos por forças militares israelitas, indica a Wafa. Registaram-se fortes confrontos e as tropas israelitas usaram fogo real, gás lacrimogéneo e granadas atordoantes para dispersar os palestinianos. Fontes do Crescente Vermelho Palestiniano informaram que pelo menos 25 pessoas, incluindo quatro crianças, sofreram efeitos de asfixia devido à inalação de gás lacrimogéneo. Também em Huwara, as forças israelitas mataram, ontem à tarde, outro palestiniano, cuja identidade ainda não foi revelada. Dias depois de colonos extremistas terem invadido e atacado Huwara, Bezalel Smotrich afirmou que Israel deve «aniquilar» a localidade palestiniana no Norte da Cisjordânia ocupada. «Penso que Huwara precisa de ser destruída», disse o ministro israelita das Finanças, Bezalel Smotrich, esta quarta-feira, defendendo que «o Estado devia fazê-lo e não cidadãos privados», refere a PressTV com base na imprensa israelita. As declarações do ministro de extrema-direita do governo de Benjamin Netanyahu seguem-se ao ataque perpetrado contra a localidade palestiniana, no domingo à noite, por centenas de colonos armados. Tratou-se da «resposta» à morte de dois israelitas de um colonato ilegal, executados por um atacante palestiniano de Huwara. Este ataque, por sua vez, seguiu-se ao massacre de Nablus, em que as forças de ocupação israelitas mataram 11 palestinianos e feriram mais de cem. No domingo à noite, os colonos queimaram pelo menos 150 carros, 52 casas e várias lojas. Uma pessoa foi morta e o número de feridos palestinianos é superior a 390, indica a agência Wafa. Grupos israelitas de defesa dos direitos humanos como Peace Now e B’Tselem referiram-se ao ataque dos colonos como um «pogrom» apoiado pelas autoridades de ocupação. Por seu lado, o Crescente Vermelho palestiniano acusou as forças israelitas de impedirem as ambulâncias e os paramédicos de acederem ao local do ataque, a poucos quilómetros de Nablus. No Knesset, a extrema-direita israelita considerou os ataques a Huwara «legítimos». Hussein al-Sheikh, da Comissão Executiva da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), afirmou, no Twitter, que as afirmações de Smotrich para apagar Huwara do mapa são o apelo de um «racista terrorista». Também o primeiro-ministro da Autoridade Palestiniana (AP), Mohammad Shtayyeh, se referiu às afirmações do ministro israelita como «terroristas» e «racistas», e alertou para o facto de que «fazem prever uma escalada séria» contra o povo palestiniano nos territórios ocupados. Neste sentido, pediu às Nações Unidas, à União Europeia e demais organizações internacionais que condenem as declarações de Smotrich. Antes, já tinha pedido ajuda internacional «contra os crimes de Israel». O Parlamento (da Liga) Árabe, com sede no Cairo, condenou esta quarta-feira os ataques executados por colonos israelitas contra o povo palestiniano na Cisjordânia ocupada, referindo-se em especial ao assalto à localidade de Huwara. Perante os ataques terroristas sistemáticos dos colonos contra cidadãos indefesos, com armas de fogo, incêndios de casas e viaturas, expulsão de agricultores, assassinatos e outros crimes, exortou o mundo e em especial o Conselho de Segurança da ONU a adoptar medidas para proteger o povo palestiniano. Antes, a Liga Árabe já tinha proposto que as milícias de colonos passem a ser incluídas na lista de grupos terroristas. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Na parte da manhã, as forças israelitas já tinham matado dois palestinianos, identificados como Hudhayfah Fares, de 27 anos, e Abd al-Rahman Atta, de 23, na aldeia de Shufa, na sequência de um ataque de colonos a viaturas na região de Tulkarem. De acordo com as Nações Unidas, 2023 está a ser o ano mais mortífero para os palestinianos na Margem Ocidental desde que há registo de fatalidades provocadas pelas forças de ocupação. Nabil Abu Rudeineh, porta-voz da Presidência palestiniana, disse à imprensa que a ocupação israelita pisou todas as linhas vermelhas, com a sua insistência na política de assassinatos e incursões em cidades, aldeias e acampamentos palestinianos. Numa entrevista à Palestine TV, o representante da Presidência responsabilizou o governo israelita e a administração norte-americana pelos «crimes perigosos perpetrados pela ocupação e os seus colonos por todo o território palestiniano», os mais recentes dos quais nas imediações de Nablus e Tulkarem, refere a Wafa. Apesar da «guerra implacável» que a ocupação israelita está a travar contra o povo palestiniano «à vista de todo o mundo», o responsável afirmou que isso não irá impedir «o nosso povo de prosseguir a sua luta legítima» até à «criação do seu Estado independente, com Jerusalém como capital». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Na Cisjordânia, a Cova dos Leões, um dos grupos da resistência mais activos, fez um apelo à mobilização geral dos seus membros, bem como ao «ataque imediato em todos os lugares contra as forças de ocupação e os seus colonos». Com base em fontes israelitas, a agência Prensa Latina indica que o Exército de ocupação deu conta de combates em 21 locais no Sul de Israel, na sequência da operação palestiniana – embora tenha posteriormente reduzido esse número para sete. Ao anunciar a ofensiva desta manhã (às 7h locais), o comandante das Brigadas al-Qassam, Muhammad al-Deif, disse que o grupo palestiniano disparou para território israelita 5000 rockets. Al-Deif afirmou que a operação é uma resposta aos sistemáticos crimes israelitas contra o povo palestiniano e a profanação contínua por colonos judeus da mesquita de al-Aqsa, em Jerusalém, e ocorre num contexto de escalada de agressões, da parte de colonos e forças israelitas, em Jerusalém Oriental e na Cisjordânia ocupada. A Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos registou mais de 135 mil casos de detenções, pelas forças de ocupação israelitas, desde o início da Intifada de al-Aqsa, em 2000. Num relatório emitido por ocasião do 23.º aniversário do início da Segunda Intifada ou Intifada de al-Aqsa (28 de Setembro de 2000), a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos sublinha que as detenções levadas a cabo pelas forças israelitas afectaram todas as camadas da sociedade, e não deixaram de parte menores de idade, idosos e mulheres. Dos mais de 135 mil casos registados pelo organismo, 21 mil dizem respeito a menores, indica o relatório – divulgado pela Wafa –, que dá conta da detenção de metade dos deputados do Conselho Legislativo Palestiniano (Parlamento), de vários ministros, centenas de académicos, jornalistas e funcionários de organizações da sociedade civil e instituições internacionais. Israel mantém nas suas prisões 1264 palestinianos sem acusações nem julgamento, o número mais elevado em 30 anos, revelou a ONG Hamoked. Desde a Primeira Intifada (1987-1993) que não havia tantos palestinianos detidos ao abrigo da polémica norma, alertou a organização não governamental este fim-de-semana, com base nos dados dos serviços prisionais. Jessica Montell, directora executiva da Hamoked, organização israelita que presta assistência jurídica gratuita aos palestinianos que vivem sob a ocupação, afirmou que a detenção administrativa é «massiva e arbitrária» e que Israel mantém nesse regime, sem acusação nem julgamento, mais de 1200 palestinianos, «alguns dos quais durante anos sem uma revisão eficaz». Ao abrigo deste regime, a detenção, decretada por um comandante militar, com base naquilo a que Israel chama «prova secreta» – que nem o advogado do detido tem direito a ver –, pode ser infinitamente renovada por períodos até seis meses. A Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) revelou, este domingo, que nove presos palestinianos sem acusação ou julgamento continuam em greve de fome por tempo indeterminado. Os presos Kayed al-Fasfous e Sultan Khlouf iniciaram o protesto contra a detenção administrativa há 19 dias. Por seu lado, Osama Darkouk encontra-se em greve de fome há 15 dias. Outros seis reclusos palestinianos em cadeias israelitas estão em greve de fome há 12 dias: Hadi Nazzal, Mohammad Taysir Zakarneh, Anas Kmail, Abdelrahman Baraka, Mohammad Basem Ikhmis e Zuhdi Abdo, informa a agência Wafa, com base na SPP. Na semana passada, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos pediu à chamada comunidade internacional que quebre o silêncio em torno do «crime israelita da detenção administrativa», que permite manter na cadeia presos sem acusação ou julgamento, numa clara violação das normas internacionais. Ao abrigo deste regime, a detenção, decretada por um comandante militar, com base naquilo a que Israel chama «prova secreta» – que nem o advogado do detido tem direito a ver –, pode ser infinitamente renovada por períodos até seis meses. A Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) revelou, esta segunda-feira, que quatro presos palestinianos sem acusação ou julgamento tinham iniciado há nove dias uma greve de fome por tempo indeterminado. Em comunicado divulgado pela Wafa, a SPP indicou que Anas Ibrahim Shadid, de 26 anos, Mahmoud Abdel Halim Talahma, de 32, Abdullah Mohammad Abido, de 36, e Mohammad Ahmad Dandis, de 25, iniciaram o protesto para denunciar a sua detenção sem acusação ou julgamento. Acrescentou que todos os detidos estão na cadeia israelita de Ofer, perto de Ramallah, e são originários da província de Hebron (al-Khalil), no Sul da Cisjordânia ocupada. A organização de defesa dos direitos dos presos informa que Shadid foi preso três vezes, sempre no regime de detenção administrativa, tendo passado, no total, três anos atrás das grades. Durante esses períodos, levou a cabo duas greves de fome, uma delas com a duração de 90 dias, em 2016. Os prisioneiros iniciaram uma greve de fome, há uma semana, para exigir a sua libertação e denunciar um regime de detenção que permite mantê-los na cadeia sem acusação ou julgamento. O protesto dos trinta presos palestinianos, membros e simpatizantes da Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP), completou uma semana sem solução aparente à vista, tendo em conta a inflexibilidade das autoridades de Telavive. Em comunicado, a Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) anunciou que os serviços prisionais israelitas têm estado a ameaçar com castigos os reclusos que lutam contra o regime de detenção administrativa. Entre as punições, contam-se privá-los de visitas, retirar-lhes os seus pertences e isolá-los em celas de castigo. Nesta primeira semana de protesto, os serviços prisionais israelitas colocaram 28 dos grevistas em quatro celas de isolamento na prisão de Ofer, informa a Wafa com base no documento divulgado pelo SPP. Um outro, o advogado Salah Hammouri, foi metido na solitária numa cadeia no Norte de Israel, enquanto Ghassan Zawahreh foi levado para uma cela de isolamento numa prisão localizada no Deserto do Neguev (al-Naqab). Os prisioneiros, em cadeias israelitas, iniciaram uma greve de fome por tempo indeterminado contra um regime que permite mantê-los detidos sem acusação ou julgamento, por períodos renováveis de seis meses. O início do protesto, este domingo, por parte de prisioneiros que são membros ou apoiantes da Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP), foi confirmado pela Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos. Em declarações à agência Wafa, Hassan Abed Rabbo, porta-voz da comissão, disse que os presos decidiram avançar contra uma política que permite a Israel manter nas suas prisões, sem acusação ou julgamento, presos palestinianos por tempo indefinido, na medida em que o período de detenção, até seis meses, é infinitamente renovável. Numa mensagem divulgada há alguns dias, os presos sublinharam que a luta contra o regime de detenção administrativa continua e denunciaram que as medidas tomadas pelas autoridades prisionais israelitas «já não se baseiam em obsessões de segurança, mas são actos de vingança devido ao seu passado». Qadri Abu Baker, líder da Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos, disse à Wafa que, na próxima quinta-feira, mais 50 presos se devem juntar à greve de fome, para denunciar o regime de detenção administrativa a que são submetidos e a escalada por parte de Israel no que respeita a este procedimento. O maior número de detenções administrativas – sem julgamento ou acusação – foi decretado em Maio, quando Israel lançou uma ofensiva de 11 dias contra a Faixa de Gaza. A Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) revelou, este domingo, que o número divulgado diz respeito tanto a novas ordens como à renovação de ordens já emitidas nos territórios ocupados, pelas autoridades israelitas. No documento apresentado, o organismo lembra que política de detenção administrativa visa «esmagar os activistas políticos palestinianos» e se baseia num ficheiro secreto não acessível aos presos – nem sequer aos seus advogados –, que são mantidos na cadeia sem acusação ou julgamento, informa a WAFA. O maior número de ordens de detenção administrativa foi emitido em Maio último, quando a Israel lançou uma ofensiva de 11 dias contra a Faixa de Gaza, explicou a organização de defesa dos presos, acrescentado que, ao longo do ano, 60 prisioneiros recorreram à greve de fome com o propósito de reconquistar a liberdade. Uma comissão de apoio aos prisioneiros revelou que 13 palestinianos permaneciam em greve de fome nas cadeias, este domingo, contra o regime que permite mantê-los reclusos sem acusação ou julgamento. Num comunicado ontem emitido, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos informou que o prisioneiro Salem Ziadat, de 40 anos, é, dos 13 que continuavam o protesto, aquele que está em greve de fome há mais tempo, permanecendo em jejum há 28 dias contra a sua detenção administrativa, sem acusação ou julgamento, revelou a agência WAFA. A Comissão informou ainda que o número de reclusos palestinianos em greve de fome até ontem era de 15, mas que Mohammad Khaled Abusill e Ahmad Abdulrahman Abusill tinham chegado a um acordo com o Serviço Prisional Israelita no que respeita à «limitação» da chamada detenção administrativa. Grupos de defesa dos presos apresentaram um relatório sobre o primeiro semestre de 2021. Nas cadeias israelitas, há actualmente 4850 palestinianos, 540 dos quais ao abrigo da «detenção administrativa». Entre os palestinianos que se encontram nos cárceres de Israel, contam-se 43 mulheres e 225 menores, segundo o documento conjunto divulgado este fim-de-semana pela Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos, a Sociedade dos Presos Palestinianos, a Addameer e o Centro de Informação Wadi Hilweh. Os organismos referidos precisaram que 12 presos são membros do Conselho Legislativo Palestiniano (Parlamento), 70 são provenientes dos territórios ocupados em 1948, 350 são originários de Jerusalém ocupada e 240 da Faixa de Gaza cercada. O informe destaca a existência de 540 prisioneiros palestinianos em detenção administrativa, sem acusação formada ou julgamento, por períodos de seis meses indefinidamente renováveis. No que respeita a detenções, os organismos de defesa dos presos revelaram que Israel prendeu 5426 palestinianos entre 1 de Janeiro e 30 de Junho deste ano – um número superior a todas as detenções efectuadas pelas forças israelitas em 2020 e registadas por estas organizações: 4636. Por ocasião do Dia da Criança Palestiniana, que se assinala a 5 de Abril, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos revelou também que 140 menores permanecem em cadeias israelitas. Os menores palestinianos, alguns dos quais crianças, continuam a ser alvo das forças militares israelitas, que os prendem, muitas vezes de forma violenta, nos territórios ocupados. De acordo com um relatório publicado este domingo pela Sociedade dos Prisioneiros Palestinianos, pelo menos 230 foram detidos desde o início do ano, a maioria dos quais em Jerusalém Oriental ocupada. O grupo de defesa dos direitos dos presos sublinhou que «as crianças encarceradas são submetidas a vários tipos de abusos, incluindo «a recusa de comida e de bebida por longas horas, abuso verbal e a detenção em condições duras». O informe veio a lume na véspera do Dia da Criança Palestiniana, que se assinala a 5 de Abril, com actividades culturais, educativas e mediáticas que, refere a PressTV, visam reforçar a consciência sobre o sofrimento dos menores palestinianos. Também no âmbito do Dia da Criança Palestiniana, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos revelou que 140 menores permanecem em cadeias israelitas, incluindo dois que se encontram presos ao abrigo do regime de detenção administrativa. Uma comissão da ONU reafirmou denúncias expostas em vários relatórios sobre detenções de menores palestinianos por Israel – quase sempre presos de noite, algemados e vendados. É o início da «viagem ao inferno». A instância, composta por especialistas independentes das Nações Unidas, expressou particular preocupação pela expansão dos colonatos e o aumento da violência dos colonos israelitas, em que se incluem ataques a crianças e às suas escolas. Segundo se pode ler no portal oficial de notícias da ONU, na semana passada diversas organizações informaram a comissão sobre as operações nocturnas levadas a efeito pelas forças israelitas com o propósito de deter crianças e adolescentes na Cisjordânia ocupada, com «graves consequências para o seu bem-estar e gozo dos seus direitos». «Mais de 300 crianças estão detidas no sistema militar israelita. A maioria por delitos menores, como atirar pedras e publicações nas redes sociais», assinala a comissão, que denuncia o facto de os menores serem «levados para locais desconhecidos, presos em viaturas militares e sujeitos a ameaças e abusos verbais», bem como o facto de, por vezes, serem «obrigados a assinar confissões em hebraico, uma língua que não costumam entender». Estas preocupações reafirmam as que têm sido veiculadas, ao longo do tempo, por várias entidades, nomeadamente a Comissão dos Prisioneiros Palestinianos, órgão dependente da Autoridade Palestiniana que, em diversas ocasiões (também este ano), alertou para o facto de os menores serem torturados e sofrerem abusos nos cárceres israelitas, bem como para o facto de serem espancados, insultados e pressionados no momento da detenção. No final de Março, um relatório publicado pelo Ministério palestiniano da Informação denunciava também esta realidade, afirmando que «95% das crianças palestinianas presas pelas autoridades israelitas foram torturadas durante a detenção». De acordo com o relatório, até 2015 foram documentadas anualmente 700 detenções de menores palestinianos. Já em 2017, Israel prendeu 1467 crianças e adolescentes; 1063 no ano seguinte e, nos dois primeiros dois meses deste ano, 118. Entre 2000 e 2018, foram presos mais de 16 mil menores. Numa peça intitulada «“Endless Trip to Hell”: Israel Jails Hundreds of Palestinian Boys a Year. These Are Their Testimonies», publicada em Março e plenamente actual, o periódico israelita Haaretz aborda esta realidade, em que as crianças, algumas com idades inferiores a 13 anos, «são detidas pela calada da noite, vendadas e algemadas, alvo de abusos e constrangidas» a confessar «crimes» que não cometeram. A peça, que reúne testemunhos de sete jovens da Margem Ocidental ocupada com idades compreendidas entre os dez e os 15 anos, revela as diversas fases do processo de detenção, que começa nas operações nocturnas e passa pelo interrogatório, a prisão, o julgamento e a proposta de um acordo. Na sua maioria, os jovens são presos por, alegadamente, terem atirado pedras ou queimado pneus, mas, como sublinha a advogada Farah Bayadsi o objectivo das detenções «é mais para mostrar controlo do que para aplicar a lei». A experiência traumática é fundamentada por tudo aquilo por que as crianças passam durante uma detenção. Arrancadas de casa quando dormem, são algemadas e vendadas, levadas em veículos militares para colonatos e bases israelitas, passando por todo um processo que envolve intimidação, ameaças, agressões físicas, afastamento da família e pressão para «confessar». O nível de brutalidade varia. Khaled Mahmoud Selvi, preso quando tinha 15 anos, foi levado para a prisão e despido (o que, de acordo com o jornal, ocorre em 55% dos casos), tendo sido obrigado a permanecer dez minutos nu, em pé, durante o Inverno. De acordo com os dados recolhidos pela organização não governamental (ONG) British-Palestinian Military Court Watch, 97% dos jovens palestinianos detidos pelas forças militares israelitas (IDF) vivem em pequenas localidades a menos de dois quilómetros de um colonato. O advogado Gerard Horton, da ONG referida, afirma que a ideia é «assustar toda a aldeia» e que se trata de um «instrumento eficaz» para controlar uma comunidade. Acrescenta que, do ponto de vista dos ocupantes e opressores, a pressão «tem de ser constante»: «Cada geração tem de sentir a mão pesada das IDF.» A experiência é traumática. O pai de Khaled Shtaiwi, preso com 13 anos em Novembro do ano passado, contou ao periódico que criou na sua aldeia o «dia da psicologia», porque o seu filho não é capaz de falar sobre o que se passou e porque quer ajudar todas as crianças que foram presas pelos israelitas. Em Beit Ummar, Omar Ayyash foi preso com dez anos de idade, em Dezembro último. Agora, as crianças que brincam nas ruas da aldeia afastam-se assim que se apercebem da aproximação de soldados israelitas. Tornou-se um hábito desde que as tropas levaram Omar. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Por seu lado, a organização Defense for Children International – Palestine (DCIP) destacou que todos os anos entre 500 e 700 menores palestinianos são processados em tribunais militares israelitas e que 85% das crianças palestinianas detidas em 2020 foram «submetidas a violência física». Num comunicado, a DCIP afirma ter documentado 27 casos em que as crianças foram mantidas na solitária um ou dois dias, alegando as forças israelitas «objectivos de investigação». Esta prática é, segundo o organismo, uma forma de «tortura ou tratamento cruel, desumano e degradante». Desde Outubro de 2015, a DCIP registou a 36 ordens de detenção administrativa decretadas contra menores palestinianos, dois dos quais se mantêm nesse regime. Ainda de acordo com o organismo sediado em Genebra, em 2020, as forças israelitas mataram nove menores palestinianos na Cisjordânia ocupada, incluindo Jerusalém Oriental, e na Faixa de Gaza, seis dos quais com fogo real. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. O relatório divulgado este fim-de-semana informa que, entre os palestinianos detidos pelas forças israelitas, se incluem 854 menores e 107 mulheres, tendo sido emitidas na primeira metade do ano 680 ordens de detenção administrativa, incluindo 312 novas. No mês de Junho foram presos 615 palestinianos, revela o texto, destacando que Maio foi de longe o mês em que se registou um maior número de detenções na primeira metade deste ano. Então, mês de massacre contra Gaza e de múltiplas provocações sionistas no Complexo da Mesquita de al-Aqsa e em Jerusalém Oriental ocupada, as forças israelitas prenderam 3100 palestinianos, incluindo 2000 nos territórios ocupados em 1948 (actual Estado de Israel) e 677 em Jerusalém Oriental ocupada, informa a WAFA. De acordo com a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos, há actualmente nove presos em greve de fome nos cárceres israelitas como forma de protesto contra o regime de detenção administrativa que lhes foi aplicado. A Comissão pediu às instâncias internacionais e regionais de defesa dos direitos humanos que pressionem as autoridades israelitas no sentido de acabar com os maus-tratos aos presos em greve de fome, que passam também pela sua reclusão na solitária. Os presos palestinianos recorrem com frequência a esta forma de luta contra um regime de detenção ilegal, cujo fim exigem. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. De acordo com os grupos de defesa dos direitos dos prisioneiros palestinianos, há actualmente quase 550 nos cárceres israelitas detidos ao abrigo deste regime, que tem merecido ampla condenação internacional e que permite a Israel manter nas suas prisões, sem acusação ou julgamento, presos palestinianos por tempo indefinido, na medida em que o período de detenção, até seis meses, é infinitamente renovável. A detenção, que é decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta» – e é tão «secreta» que nem o advogado do detido tem direito a vê-la. Alguns prisioneiros palestinianos passaram mais de uma década nas cadeias israelitas ao abrigo deste regime de «detenção», que é considerado ilegal à luz do direito internacional. Como forma de protesto contra as suas detenções ilegais e para exigir que Israel ponha fim a esta prática, os presos palestinianos recorrem com frequência a greves de fome por tempo indeterminado. Apesar da pressão internacional e dos protestos dos prisioneiros, as autoridades israelitas não têm dado sinais de querer acabar com este regime. Pelo contrário, tanto a comissão referida como o Centro Palestiniano de Estudos sobre Prisioneiros têm dado conta de novas ordens de detenção administrativa e de múltiplas renovações. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Na maior parte dos casos, estavam presos ao abrigo do regime de detenção administrativa, como Hisham Abu Hawwash, de 40 anos, habitante da localidade de Dura (Cisjordânia ocupada) que se mantém há 140 dias em greve de fome e está numa situação considerada muito crítica. Nos últimos dias, as autoridades palestinianas alertaram para o estado de saúde crítico de Abu Hawwash, responsabilizaram Telavive por aquilo que lhe possa acontecer e pediram à comunidade internacional que pressione as autoridades israelitas para o libertarem. Também a Cruz Vermelha se mostrou preocupada com o caso, sublinhando a necessidade de tratar os reclusos com humanidade e de encontrar uma solução que evite «consequências irreversíveis» para Hawwash. De acordo com a SPP, este domingo cerca de 500 reclusos palestinianos presos em Israel ao abrigo do regime da detenção administrativa – criticado pela ONU – declararam o boicote aos tribunais israelitas, porque «sentem que os tribunais alinham sempre com o governo militar e as suas ordens, e não os tratam com imparcialidade». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. De acordo com a comissão, há actualmente mais de 760 presos nas cadeias israelitas sem acusação ou julgamento. A detenção, decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta», que nem o advogado do detido tem direito a ver. Cerca de 80% dos presos palestinianos neste regime são ex-presos que já passaram anos atrás das grades, revela a Wafa. Em comunicado, emitido há dias, o Ramo Penitenciário da Frente Popular para a Libertação da Palestina afirmou que «estes 30 prisioneiros, juntos, passaram quase 200 anos em detenção administrativa. Duzentos anos de cativeiro sem acusação ou julgamento por capricho dos oficiais de inteligência da ocupação». O texto, divulgado pela Samidoun (rede de solidariedade com os presos palestinianos), sublinha que se trata de uma «pena perpétua», uma vez que muitos presos são libertados durante alguns meses e são novamente detidos. «Temos um mês de liberdade por cada ano de detenção», afirmam. Dizem que são «alimentados pela dignidade» e querem que as autoridades israelitas saibam que, mesmo que os torturem e lhes provoquem dor, «que a nossa luta continua, e que semearemos alegria, vida e esperança, e que nossa luta pela liberdade e pela humanidade livre de tormentos não vai parar». Leila Khaled, membro do Comité Central da FPLP e símbolo da resistência palestiniana, anunciou uma greve de fome solidária com os presos, a quem saudou por estarem «na primeira linha do confronto a este inimigo criminoso fascista». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. De acordo com a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos, dos cerca de 4600 palestinianos actualmente presos nas cadeias israelitas, mais de 760 são reclusos sem acusação ou julgamento, cuja detenção pode ser infinitamente renovada por períodos até seis meses. A detenção, decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta», que nem o advogado do detido tem direito a ver. Após o início da greve de fome, Basil Mizher, outro advogado palestiniano detido sem acusação ou julgamento, viu ser-lhe renovada a detenção administrativa por mais três meses, no passado dia 28. Numa mensagem que Mizher escreveu no início do protesto, lida pela sua mãe numa acção solidária no campo de refugiados de Dheisheh, em Belém, o preso diz que a sua profissão é a de advogado, mas que mal se lembra dela, pois quase não a conseguiu exercer desde que se formou – foi submetido a três detenções administrativas desde que passou no exame. Em vez de ir trabalhar, foi para a prisão, lê-se no texto divulgado pela pela Samidoun (rede de solidariedade com os presos palestinianos). «Ou nos submetemos à opressão e à privação e aceitamos o roubo perpétuo da nossa liberdade e da nossa vida à vista do mundo, ou nos revoltamos contra a injustiça e derrubamos os muros do carcereiro com todas as ferramentas que temos», escreveu Basil Mizher a propósito da greve de fome, que é a «recusa da política de subordinação e domesticação». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Talahma, detido desde Março de 2022, é um advogado e antigo prisioneiro, que passou dois anos e meio nas cadeias israelitas. Abido é também um antigo prisioneiro, que passou cinco anos e meio nas prisões da ocupação – a maior parte do tempo ao abrigo do regime de detenção administrativa. Por seu lado, Dandis foi preso pela primeira vez a 23 de Março último, tendo-lhe sido imposta uma detenção administrativa por um período de seis meses. Este protesto ocorre num contexto em que Israel intensifica o recurso às detenções sem acusação ou julgamento. Segundo revelou a SPP, existem actualmente nas cadeias israelitas 1083 presos palestinianos a quem foi aplicado este regime de detenção, 17 dos quais são menores. O regime de detenção administrativa, que tem merecido ampla condenação internacional, permite a Israel manter nas suas prisões, sem acusação ou julgamento, presos palestinianos por tempo indefinido, na medida em que o período de detenção, até seis meses, é infinitamente renovável. O primeiro-ministro palestiniano, Mohammad Shtayyeh, responsabilizou Israel pelo «assassinato» de Khader Adnan, ao não atender ao protesto contra a sua detenção sem acusação ou julgamento. A Sociedade de Prisioneiros Palestinianos (SPP) afirmou, em comunicado, que Khader Adnan, de 44 anos, foi encontrado inconsciente esta madrugada na sua cela, tendo sido levado para um hospital, onde foi declarado morto. Adnan, natural da cidade de Arraba (perto de Jenin), foi preso 12 vezes ao longo da sua vida, tendo recorrido à greve de fome em diversas ocasiões para protestar contra as suas detenções sem qualquer acusação, afirmou a SPP, citada pela agência Wafa. A última detenção ocorreu a 5 de Fevereiro e Adnan entrou de imediato em greve de fome por tempo indeterminado, refere a fonte, acrescentando que pelo menos 236 presos palestinianos morreram desde 1967. Ao ter conhecimento da notícia, o primeiro-ministro palestiniano, Mohammad Shtayyeh, acusou Israel de ter cometido um assassinato. O número foi destacado pela Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) em conferência de imprensa. A maior parte encontra-se nos centros de detenção de Ofer e de Naqab (Neguev). O regime de detenção administrativa, que tem merecido ampla condenação internacional – até do Departamento de Estado norte-americano e da Amnistia Internacional –, permite a Israel manter nas suas prisões, sem acusação ou julgamento, presos palestinianos por tempo indefinido, na medida em que o período de detenção, até seis meses, é infinitamente renovável. Em relatórios anteriores, a SPP lembrou que esta política visa «esmagar os activistas políticos palestinianos» e se baseia num ficheiro secreto não acessível aos presos – nem sequer aos seus advogados. Os prisioneiros iniciaram uma greve de fome, há uma semana, para exigir a sua libertação e denunciar um regime de detenção que permite mantê-los na cadeia sem acusação ou julgamento. O protesto dos trinta presos palestinianos, membros e simpatizantes da Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP), completou uma semana sem solução aparente à vista, tendo em conta a inflexibilidade das autoridades de Telavive. Em comunicado, a Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) anunciou que os serviços prisionais israelitas têm estado a ameaçar com castigos os reclusos que lutam contra o regime de detenção administrativa. Entre as punições, contam-se privá-los de visitas, retirar-lhes os seus pertences e isolá-los em celas de castigo. Nesta primeira semana de protesto, os serviços prisionais israelitas colocaram 28 dos grevistas em quatro celas de isolamento na prisão de Ofer, informa a Wafa com base no documento divulgado pelo SPP. Um outro, o advogado Salah Hammouri, foi metido na solitária numa cadeia no Norte de Israel, enquanto Ghassan Zawahreh foi levado para uma cela de isolamento numa prisão localizada no Deserto do Neguev (al-Naqab). Os prisioneiros, em cadeias israelitas, iniciaram uma greve de fome por tempo indeterminado contra um regime que permite mantê-los detidos sem acusação ou julgamento, por períodos renováveis de seis meses. O início do protesto, este domingo, por parte de prisioneiros que são membros ou apoiantes da Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP), foi confirmado pela Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos. Em declarações à agência Wafa, Hassan Abed Rabbo, porta-voz da comissão, disse que os presos decidiram avançar contra uma política que permite a Israel manter nas suas prisões, sem acusação ou julgamento, presos palestinianos por tempo indefinido, na medida em que o período de detenção, até seis meses, é infinitamente renovável. Numa mensagem divulgada há alguns dias, os presos sublinharam que a luta contra o regime de detenção administrativa continua e denunciaram que as medidas tomadas pelas autoridades prisionais israelitas «já não se baseiam em obsessões de segurança, mas são actos de vingança devido ao seu passado». Qadri Abu Baker, líder da Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos, disse à Wafa que, na próxima quinta-feira, mais 50 presos se devem juntar à greve de fome, para denunciar o regime de detenção administrativa a que são submetidos e a escalada por parte de Israel no que respeita a este procedimento. O maior número de detenções administrativas – sem julgamento ou acusação – foi decretado em Maio, quando Israel lançou uma ofensiva de 11 dias contra a Faixa de Gaza. A Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) revelou, este domingo, que o número divulgado diz respeito tanto a novas ordens como à renovação de ordens já emitidas nos territórios ocupados, pelas autoridades israelitas. No documento apresentado, o organismo lembra que política de detenção administrativa visa «esmagar os activistas políticos palestinianos» e se baseia num ficheiro secreto não acessível aos presos – nem sequer aos seus advogados –, que são mantidos na cadeia sem acusação ou julgamento, informa a WAFA. O maior número de ordens de detenção administrativa foi emitido em Maio último, quando a Israel lançou uma ofensiva de 11 dias contra a Faixa de Gaza, explicou a organização de defesa dos presos, acrescentado que, ao longo do ano, 60 prisioneiros recorreram à greve de fome com o propósito de reconquistar a liberdade. Uma comissão de apoio aos prisioneiros revelou que 13 palestinianos permaneciam em greve de fome nas cadeias, este domingo, contra o regime que permite mantê-los reclusos sem acusação ou julgamento. Num comunicado ontem emitido, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos informou que o prisioneiro Salem Ziadat, de 40 anos, é, dos 13 que continuavam o protesto, aquele que está em greve de fome há mais tempo, permanecendo em jejum há 28 dias contra a sua detenção administrativa, sem acusação ou julgamento, revelou a agência WAFA. A Comissão informou ainda que o número de reclusos palestinianos em greve de fome até ontem era de 15, mas que Mohammad Khaled Abusill e Ahmad Abdulrahman Abusill tinham chegado a um acordo com o Serviço Prisional Israelita no que respeita à «limitação» da chamada detenção administrativa. Grupos de defesa dos presos apresentaram um relatório sobre o primeiro semestre de 2021. Nas cadeias israelitas, há actualmente 4850 palestinianos, 540 dos quais ao abrigo da «detenção administrativa». Entre os palestinianos que se encontram nos cárceres de Israel, contam-se 43 mulheres e 225 menores, segundo o documento conjunto divulgado este fim-de-semana pela Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos, a Sociedade dos Presos Palestinianos, a Addameer e o Centro de Informação Wadi Hilweh. Os organismos referidos precisaram que 12 presos são membros do Conselho Legislativo Palestiniano (Parlamento), 70 são provenientes dos territórios ocupados em 1948, 350 são originários de Jerusalém ocupada e 240 da Faixa de Gaza cercada. O informe destaca a existência de 540 prisioneiros palestinianos em detenção administrativa, sem acusação formada ou julgamento, por períodos de seis meses indefinidamente renováveis. No que respeita a detenções, os organismos de defesa dos presos revelaram que Israel prendeu 5426 palestinianos entre 1 de Janeiro e 30 de Junho deste ano – um número superior a todas as detenções efectuadas pelas forças israelitas em 2020 e registadas por estas organizações: 4636. Por ocasião do Dia da Criança Palestiniana, que se assinala a 5 de Abril, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos revelou também que 140 menores permanecem em cadeias israelitas. Os menores palestinianos, alguns dos quais crianças, continuam a ser alvo das forças militares israelitas, que os prendem, muitas vezes de forma violenta, nos territórios ocupados. De acordo com um relatório publicado este domingo pela Sociedade dos Prisioneiros Palestinianos, pelo menos 230 foram detidos desde o início do ano, a maioria dos quais em Jerusalém Oriental ocupada. O grupo de defesa dos direitos dos presos sublinhou que «as crianças encarceradas são submetidas a vários tipos de abusos, incluindo «a recusa de comida e de bebida por longas horas, abuso verbal e a detenção em condições duras». O informe veio a lume na véspera do Dia da Criança Palestiniana, que se assinala a 5 de Abril, com actividades culturais, educativas e mediáticas que, refere a PressTV, visam reforçar a consciência sobre o sofrimento dos menores palestinianos. Também no âmbito do Dia da Criança Palestiniana, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos revelou que 140 menores permanecem em cadeias israelitas, incluindo dois que se encontram presos ao abrigo do regime de detenção administrativa. Uma comissão da ONU reafirmou denúncias expostas em vários relatórios sobre detenções de menores palestinianos por Israel – quase sempre presos de noite, algemados e vendados. É o início da «viagem ao inferno». A instância, composta por especialistas independentes das Nações Unidas, expressou particular preocupação pela expansão dos colonatos e o aumento da violência dos colonos israelitas, em que se incluem ataques a crianças e às suas escolas. Segundo se pode ler no portal oficial de notícias da ONU, na semana passada diversas organizações informaram a comissão sobre as operações nocturnas levadas a efeito pelas forças israelitas com o propósito de deter crianças e adolescentes na Cisjordânia ocupada, com «graves consequências para o seu bem-estar e gozo dos seus direitos». «Mais de 300 crianças estão detidas no sistema militar israelita. A maioria por delitos menores, como atirar pedras e publicações nas redes sociais», assinala a comissão, que denuncia o facto de os menores serem «levados para locais desconhecidos, presos em viaturas militares e sujeitos a ameaças e abusos verbais», bem como o facto de, por vezes, serem «obrigados a assinar confissões em hebraico, uma língua que não costumam entender». Estas preocupações reafirmam as que têm sido veiculadas, ao longo do tempo, por várias entidades, nomeadamente a Comissão dos Prisioneiros Palestinianos, órgão dependente da Autoridade Palestiniana que, em diversas ocasiões (também este ano), alertou para o facto de os menores serem torturados e sofrerem abusos nos cárceres israelitas, bem como para o facto de serem espancados, insultados e pressionados no momento da detenção. No final de Março, um relatório publicado pelo Ministério palestiniano da Informação denunciava também esta realidade, afirmando que «95% das crianças palestinianas presas pelas autoridades israelitas foram torturadas durante a detenção». De acordo com o relatório, até 2015 foram documentadas anualmente 700 detenções de menores palestinianos. Já em 2017, Israel prendeu 1467 crianças e adolescentes; 1063 no ano seguinte e, nos dois primeiros dois meses deste ano, 118. Entre 2000 e 2018, foram presos mais de 16 mil menores. Numa peça intitulada «“Endless Trip to Hell”: Israel Jails Hundreds of Palestinian Boys a Year. These Are Their Testimonies», publicada em Março e plenamente actual, o periódico israelita Haaretz aborda esta realidade, em que as crianças, algumas com idades inferiores a 13 anos, «são detidas pela calada da noite, vendadas e algemadas, alvo de abusos e constrangidas» a confessar «crimes» que não cometeram. A peça, que reúne testemunhos de sete jovens da Margem Ocidental ocupada com idades compreendidas entre os dez e os 15 anos, revela as diversas fases do processo de detenção, que começa nas operações nocturnas e passa pelo interrogatório, a prisão, o julgamento e a proposta de um acordo. Na sua maioria, os jovens são presos por, alegadamente, terem atirado pedras ou queimado pneus, mas, como sublinha a advogada Farah Bayadsi o objectivo das detenções «é mais para mostrar controlo do que para aplicar a lei». A experiência traumática é fundamentada por tudo aquilo por que as crianças passam durante uma detenção. Arrancadas de casa quando dormem, são algemadas e vendadas, levadas em veículos militares para colonatos e bases israelitas, passando por todo um processo que envolve intimidação, ameaças, agressões físicas, afastamento da família e pressão para «confessar». O nível de brutalidade varia. Khaled Mahmoud Selvi, preso quando tinha 15 anos, foi levado para a prisão e despido (o que, de acordo com o jornal, ocorre em 55% dos casos), tendo sido obrigado a permanecer dez minutos nu, em pé, durante o Inverno. De acordo com os dados recolhidos pela organização não governamental (ONG) British-Palestinian Military Court Watch, 97% dos jovens palestinianos detidos pelas forças militares israelitas (IDF) vivem em pequenas localidades a menos de dois quilómetros de um colonato. O advogado Gerard Horton, da ONG referida, afirma que a ideia é «assustar toda a aldeia» e que se trata de um «instrumento eficaz» para controlar uma comunidade. Acrescenta que, do ponto de vista dos ocupantes e opressores, a pressão «tem de ser constante»: «Cada geração tem de sentir a mão pesada das IDF.» A experiência é traumática. O pai de Khaled Shtaiwi, preso com 13 anos em Novembro do ano passado, contou ao periódico que criou na sua aldeia o «dia da psicologia», porque o seu filho não é capaz de falar sobre o que se passou e porque quer ajudar todas as crianças que foram presas pelos israelitas. Em Beit Ummar, Omar Ayyash foi preso com dez anos de idade, em Dezembro último. Agora, as crianças que brincam nas ruas da aldeia afastam-se assim que se apercebem da aproximação de soldados israelitas. Tornou-se um hábito desde que as tropas levaram Omar. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Por seu lado, a organização Defense for Children International – Palestine (DCIP) destacou que todos os anos entre 500 e 700 menores palestinianos são processados em tribunais militares israelitas e que 85% das crianças palestinianas detidas em 2020 foram «submetidas a violência física». Num comunicado, a DCIP afirma ter documentado 27 casos em que as crianças foram mantidas na solitária um ou dois dias, alegando as forças israelitas «objectivos de investigação». Esta prática é, segundo o organismo, uma forma de «tortura ou tratamento cruel, desumano e degradante». Desde Outubro de 2015, a DCIP registou a 36 ordens de detenção administrativa decretadas contra menores palestinianos, dois dos quais se mantêm nesse regime. Ainda de acordo com o organismo sediado em Genebra, em 2020, as forças israelitas mataram nove menores palestinianos na Cisjordânia ocupada, incluindo Jerusalém Oriental, e na Faixa de Gaza, seis dos quais com fogo real. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. O relatório divulgado este fim-de-semana informa que, entre os palestinianos detidos pelas forças israelitas, se incluem 854 menores e 107 mulheres, tendo sido emitidas na primeira metade do ano 680 ordens de detenção administrativa, incluindo 312 novas. No mês de Junho foram presos 615 palestinianos, revela o texto, destacando que Maio foi de longe o mês em que se registou um maior número de detenções na primeira metade deste ano. Então, mês de massacre contra Gaza e de múltiplas provocações sionistas no Complexo da Mesquita de al-Aqsa e em Jerusalém Oriental ocupada, as forças israelitas prenderam 3100 palestinianos, incluindo 2000 nos territórios ocupados em 1948 (actual Estado de Israel) e 677 em Jerusalém Oriental ocupada, informa a WAFA. De acordo com a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos, há actualmente nove presos em greve de fome nos cárceres israelitas como forma de protesto contra o regime de detenção administrativa que lhes foi aplicado. A Comissão pediu às instâncias internacionais e regionais de defesa dos direitos humanos que pressionem as autoridades israelitas no sentido de acabar com os maus-tratos aos presos em greve de fome, que passam também pela sua reclusão na solitária. Os presos palestinianos recorrem com frequência a esta forma de luta contra um regime de detenção ilegal, cujo fim exigem. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. De acordo com os grupos de defesa dos direitos dos prisioneiros palestinianos, há actualmente quase 550 nos cárceres israelitas detidos ao abrigo deste regime, que tem merecido ampla condenação internacional e que permite a Israel manter nas suas prisões, sem acusação ou julgamento, presos palestinianos por tempo indefinido, na medida em que o período de detenção, até seis meses, é infinitamente renovável. A detenção, que é decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta» – e é tão «secreta» que nem o advogado do detido tem direito a vê-la. Alguns prisioneiros palestinianos passaram mais de uma década nas cadeias israelitas ao abrigo deste regime de «detenção», que é considerado ilegal à luz do direito internacional. Como forma de protesto contra as suas detenções ilegais e para exigir que Israel ponha fim a esta prática, os presos palestinianos recorrem com frequência a greves de fome por tempo indeterminado. Apesar da pressão internacional e dos protestos dos prisioneiros, as autoridades israelitas não têm dado sinais de querer acabar com este regime. Pelo contrário, tanto a comissão referida como o Centro Palestiniano de Estudos sobre Prisioneiros têm dado conta de novas ordens de detenção administrativa e de múltiplas renovações. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Na maior parte dos casos, estavam presos ao abrigo do regime de detenção administrativa, como Hisham Abu Hawwash, de 40 anos, habitante da localidade de Dura (Cisjordânia ocupada) que se mantém há 140 dias em greve de fome e está numa situação considerada muito crítica. Nos últimos dias, as autoridades palestinianas alertaram para o estado de saúde crítico de Abu Hawwash, responsabilizaram Telavive por aquilo que lhe possa acontecer e pediram à comunidade internacional que pressione as autoridades israelitas para o libertarem. Também a Cruz Vermelha se mostrou preocupada com o caso, sublinhando a necessidade de tratar os reclusos com humanidade e de encontrar uma solução que evite «consequências irreversíveis» para Hawwash. De acordo com a SPP, este domingo cerca de 500 reclusos palestinianos presos em Israel ao abrigo do regime da detenção administrativa – criticado pela ONU – declararam o boicote aos tribunais israelitas, porque «sentem que os tribunais alinham sempre com o governo militar e as suas ordens, e não os tratam com imparcialidade». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. De acordo com a comissão, há actualmente mais de 760 presos nas cadeias israelitas sem acusação ou julgamento. A detenção, decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta», que nem o advogado do detido tem direito a ver. Cerca de 80% dos presos palestinianos neste regime são ex-presos que já passaram anos atrás das grades, revela a Wafa. Em comunicado, emitido há dias, o Ramo Penitenciário da Frente Popular para a Libertação da Palestina afirmou que «estes 30 prisioneiros, juntos, passaram quase 200 anos em detenção administrativa. Duzentos anos de cativeiro sem acusação ou julgamento por capricho dos oficiais de inteligência da ocupação». O texto, divulgado pela Samidoun (rede de solidariedade com os presos palestinianos), sublinha que se trata de uma «pena perpétua», uma vez que muitos presos são libertados durante alguns meses e são novamente detidos. «Temos um mês de liberdade por cada ano de detenção», afirmam. Dizem que são «alimentados pela dignidade» e querem que as autoridades israelitas saibam que, mesmo que os torturem e lhes provoquem dor, «que a nossa luta continua, e que semearemos alegria, vida e esperança, e que nossa luta pela liberdade e pela humanidade livre de tormentos não vai parar». Leila Khaled, membro do Comité Central da FPLP e símbolo da resistência palestiniana, anunciou uma greve de fome solidária com os presos, a quem saudou por estarem «na primeira linha do confronto a este inimigo criminoso fascista». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. De acordo com a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos, dos cerca de 4600 palestinianos actualmente presos nas cadeias israelitas, mais de 760 são reclusos sem acusação ou julgamento, cuja detenção pode ser infinitamente renovada por períodos até seis meses. A detenção, decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta», que nem o advogado do detido tem direito a ver. Após o início da greve de fome, Basil Mizher, outro advogado palestiniano detido sem acusação ou julgamento, viu ser-lhe renovada a detenção administrativa por mais três meses, no passado dia 28. Numa mensagem que Mizher escreveu no início do protesto, lida pela sua mãe numa acção solidária no campo de refugiados de Dheisheh, em Belém, o preso diz que a sua profissão é a de advogado, mas que mal se lembra dela, pois quase não a conseguiu exercer desde que se formou – foi submetido a três detenções administrativas desde que passou no exame. Em vez de ir trabalhar, foi para a prisão, lê-se no texto divulgado pela pela Samidoun (rede de solidariedade com os presos palestinianos). «Ou nos submetemos à opressão e à privação e aceitamos o roubo perpétuo da nossa liberdade e da nossa vida à vista do mundo, ou nos revoltamos contra a injustiça e derrubamos os muros do carcereiro com todas as ferramentas que temos», escreveu Basil Mizher a propósito da greve de fome, que é a «recusa da política de subordinação e domesticação». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Alguns prisioneiros palestinianos passaram mais de uma década nas cadeias israelitas ao abrigo deste sistema, e é comum os presos recorrerem a greves de fome por tempo indeterminado como forma de chamar a atenção para os seus casos e fazer pressão junto das autoridades israelitas para que os libertem. Agora, a SPP revelou também que, dos 835 palestinianos actualmente presos ao abrigo deste regime, 80 são mulheres, indica a agência Wafa. Além disso, a organização não governamental (ONG) informou que, ao longo de 2022, as autoridades israelitas emitiram 2134 ordens de detenção administrativa, 242 das quais em Novembro (o ano passado foram 1595). Desde o início de 2022 até ao fim de Novembro, as forças israelitas prenderam 6500 palestinianos, revelou a SPP, citada pela agência turca Anadolu. Entre os detidos, contavam-se 153 mulheres e 811 menores de idade acrescentou. As forças de ocupação israelitas detiveram 5300 palestinianos desde o princípio deste ano, incluindo 111 mulheres e 620 menores de idade, revelou esta segunda-feira uma organização não governamental. Em comunicado, a Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) afirmou que, com 2353 detenções registadas, Jerusalém Oriental ocupada se situa no primeiro lugar por regiões, e que Abril foi o mês com maior número de detenções (1228 casos), noticia a agência Wafa. A SPP condenou os ataques e raides israelitas contra cidades, aldeias e campos de refugiados na Cisjordânia ocupada para prender activistas, referindo que muitos palestinianos foram mortos, nesse processo, pelas balas do Exército. Neste contexto, o número de execuções extrajudiciais no terreno, em 2022, é mais elevado por comparação com anos anteriores, alertou a SPP, que também questionou os bloqueios militares a localidades e campos de refugiados palestinianos, classificando-os como uma punição colectiva. No que respeita às detenções administrativas, a organização afirmou que este ano, até à data, foram emitidas 1160. Só no mês de Agosto, foram decretadas 272, pelo que, no final de Setembro, havia cerca de 800 palestinianos nas prisões israelitas detidos sem acusação ou julgamento. Ao abrigo deste regime, os períodos de detenção podem ser infinitamente renovados por períodos até seis meses. A detenção, decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta», que nem o advogado do detido tem direito a ver. De forma reiterada, os presos palestinianos detidos sob este regime iniciam greves de fome para denunciar os seus casos e a política de detenção administrativa, exigindo a sua libertação. Diversas instâncias das Nações Unidas têm denunciado repetidamente este regime israelita de detenção, na medida em que não faculta aos detidos palestinianos as «salvaguardas jurídicas básicas» e violam o direito internacional humanitário. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Só no mês de Novembro, foram detidos 490 palestinianos, incluindo 76 menores e 12 mulheres, informaram, num relatório conjunto, a SPP, a Addameer, o Centro de Informação Wadi Hilweh e a Comissão dos Assuntos dos Presos e Ex-Presos Palestinianos. No relatório mensal a que o Middle East Monitor faz referência, as quatro organizações de defesa dos direitos presos afirmaram que, no mês passado, o maior número de detenções ocorreu em Hebron (al-Khalil; 135 casos), seguida por Jerusalém (123), Ramallah (52), Jenin e Nablus. De acordo com os grupos, há actualmente nas cadeias israelitas cerca de 4700 palestinianos presos, incluindo 34 mulheres e 150 menores. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. «A ocupação israelita e a sua administração prisional levaram a cabo o assassinato deliberado do preso Khader Adnan ao rejeitar o seu pedido de libertação, ao negligenciá-lo medicamente e ao mantê-lo na sua cela apesar da gravidade do seu estado de saúde», afirmou Shtayyeh em comunicado. Várias facções palestinianas pronunciaram-se no mesmo sentido, responsabilizando Israel pela morte de Khader Adnan e sublinhando o crime «premeditado e a sangue-frio». Por seu lado, o Ministério palestiniano dos Negócios Estrangeiros pediu uma investigação internacional sobre a morte do prisioneiro e instou o Tribunal Penal Internacional a incluir este caso no processo relativo aos crimes de guerra cometidos por Israel contra o povo palestiniano nos territórios ocupados. Para denunciar «o crime que levou à morte» de Khader Adnan numa prisão israelita, foi declarada, esta terça-feira, uma greve geral que «afecta todos os aspectos da vida», tanto na Faixa de Gaza cercada como na Margem Ocidental ocupada, incluindo Jerusalém Oriental, indica a Wafa. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Em relatórios anteriores, a SPP lembrou que esta política visa «esmagar os activistas políticos palestinianos» e se baseia num ficheiro secreto não acessível aos presos – nem sequer aos seus advogados. Alguns prisioneiros palestinianos passaram mais de uma década nas cadeias israelitas ao abrigo deste sistema, e é comum os presos recorrerem a greves de fome por tempo indeterminado como forma de chamar a atenção para os seus casos e fazer pressão junto das autoridades israelitas para que os libertem. A 2 de Maio último, Khader Adnan, de 44 anos, morreu na cadeia, quase três meses depois de ter iniciado uma greve de fome contra a sua detenção sem acusação ou julgamento. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Num comunicado de imprensa, que a Wafa cita, a Comissão exigiu «acção real e tangível, no sentido de formar um comité internacional de direitos humanos que vá imediatamente às prisões da ocupação israelita, analise o crime [de detenção administrativa] em todos os seus detalhes e observe de perto o sofrimento dos detidos administrativos, que estão presos sem quaisquer acusações ou julgamentos, e vivem à mercê dos chamados oficiais dos serviços de inteligência israelitas». «Os abusos imorais e desumanos associados à utilização desta política pela potência ocupante violam todos os princípios do direito internacional e da humanidade, e estão em contradição real com os teóricos da democracia e aqueles que afirmam ser democráticos em todo o mundo, especialmente na América e na Europa», acrescenta a nota. De acordo com os dados divulgados em Junho último pela organização israelita de defesa dos direitos B'Tselem, em Março deste ano, Israel mantinha nas suas prisões 1017 pessoas em regime de detenção administrativa. É preciso recuar duas décadas, até Abril de 2003, para encontrar um número mais elevado de detidos administrativos nas prisões israelitas – 1140 –, referiu a organização. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. «De acordo com a lei militar que se aplica na Cisjordânia, uma pessoa pode ser detida administrativamente durante seis meses, mas a ordem pode ser renovada, pelo que a reclusão na prática é indefinida e os detidos nunca sabem quando serão libertados», alertou a B'Tselem, outra organização israelita de defesa dos direitos humanos nos territórios ocupados. De forma sistemática, presos administrativos entram em greve de fome por tempo indeterminado para chamar a atenção para os seus casos e forçar a sua libertação. Em meados de Agosto, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos pediu à chamada comunidade internacional que quebre o silêncio em torno do «crime israelita da detenção administrativa». Num comunicado de imprensa, divulgado pela Wafa, a Comissão exigiu «acção real e tangível, no sentido de formar um comité internacional de direitos humanos que vá imediatamente às prisões da ocupação israelita, analise o crime [de detenção administrativa] em todos os seus detalhes e observe de perto o sofrimento dos detidos administrativos, que estão presos sem quaisquer acusações ou julgamentos, e vivem à mercê dos chamados oficiais dos serviços de inteligência israelitas». «Os abusos imorais e desumanos associados à utilização desta política pela potência ocupante violam todos os princípios do direito internacional e da humanidade, e estão em contradição real com os teóricos da democracia e aqueles que afirmam ser democráticos em todo o mundo, especialmente na América e na Europa», afirmou o organismo. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Desde 28 de Setembro de 2000 até à data, refere a Comissão, foram detidas mais de 2600 raparigas e mulheres, incluindo quatro que deram à luz na cadeia. No mesmo período, foram emitidas 32 mil ordens de detenção administrativa, a que Israel recorre para manter reclusos nas cadeias sem acusação nem julgamento, com base numa «prova secreta» que nem o advogado do detido pode ver. A Comissão registou um aumento «assinalável» no recurso a este regime, amplamente condenado a nível internacional, contra o qual os presos palestinianos protestam, de forma reiterada, entrando em greve de fome por tempo indeterminado, para exigir a sua libertação e o fim da aplicação da política de detenção referida. «De acordo com a lei militar que se aplica na Cisjordânia, uma pessoa pode ser detida administrativamente durante seis meses, mas a ordem pode ser renovada, pelo que a reclusão na prática é indefinida e os detidos nunca sabem quando serão libertados», alertou recentemente a B'Tselem, uma organização israelita de defesa dos direitos humanos nos territórios ocupados. Uma comissão da ONU reafirmou denúncias expostas em vários relatórios sobre detenções de menores palestinianos por Israel – quase sempre presos de noite, algemados e vendados. É o início da «viagem ao inferno». A instância, composta por especialistas independentes das Nações Unidas, expressou particular preocupação pela expansão dos colonatos e o aumento da violência dos colonos israelitas, em que se incluem ataques a crianças e às suas escolas. Segundo se pode ler no portal oficial de notícias da ONU, na semana passada diversas organizações informaram a comissão sobre as operações nocturnas levadas a efeito pelas forças israelitas com o propósito de deter crianças e adolescentes na Cisjordânia ocupada, com «graves consequências para o seu bem-estar e gozo dos seus direitos». «Mais de 300 crianças estão detidas no sistema militar israelita. A maioria por delitos menores, como atirar pedras e publicações nas redes sociais», assinala a comissão, que denuncia o facto de os menores serem «levados para locais desconhecidos, presos em viaturas militares e sujeitos a ameaças e abusos verbais», bem como o facto de, por vezes, serem «obrigados a assinar confissões em hebraico, uma língua que não costumam entender». Estas preocupações reafirmam as que têm sido veiculadas, ao longo do tempo, por várias entidades, nomeadamente a Comissão dos Prisioneiros Palestinianos, órgão dependente da Autoridade Palestiniana que, em diversas ocasiões (também este ano), alertou para o facto de os menores serem torturados e sofrerem abusos nos cárceres israelitas, bem como para o facto de serem espancados, insultados e pressionados no momento da detenção. No final de Março, um relatório publicado pelo Ministério palestiniano da Informação denunciava também esta realidade, afirmando que «95% das crianças palestinianas presas pelas autoridades israelitas foram torturadas durante a detenção». De acordo com o relatório, até 2015 foram documentadas anualmente 700 detenções de menores palestinianos. Já em 2017, Israel prendeu 1467 crianças e adolescentes; 1063 no ano seguinte e, nos dois primeiros dois meses deste ano, 118. Entre 2000 e 2018, foram presos mais de 16 mil menores. Numa peça intitulada «“Endless Trip to Hell”: Israel Jails Hundreds of Palestinian Boys a Year. These Are Their Testimonies», publicada em Março e plenamente actual, o periódico israelita Haaretz aborda esta realidade, em que as crianças, algumas com idades inferiores a 13 anos, «são detidas pela calada da noite, vendadas e algemadas, alvo de abusos e constrangidas» a confessar «crimes» que não cometeram. A peça, que reúne testemunhos de sete jovens da Margem Ocidental ocupada com idades compreendidas entre os dez e os 15 anos, revela as diversas fases do processo de detenção, que começa nas operações nocturnas e passa pelo interrogatório, a prisão, o julgamento e a proposta de um acordo. Na sua maioria, os jovens são presos por, alegadamente, terem atirado pedras ou queimado pneus, mas, como sublinha a advogada Farah Bayadsi o objectivo das detenções «é mais para mostrar controlo do que para aplicar a lei». A experiência traumática é fundamentada por tudo aquilo por que as crianças passam durante uma detenção. Arrancadas de casa quando dormem, são algemadas e vendadas, levadas em veículos militares para colonatos e bases israelitas, passando por todo um processo que envolve intimidação, ameaças, agressões físicas, afastamento da família e pressão para «confessar». O nível de brutalidade varia. Khaled Mahmoud Selvi, preso quando tinha 15 anos, foi levado para a prisão e despido (o que, de acordo com o jornal, ocorre em 55% dos casos), tendo sido obrigado a permanecer dez minutos nu, em pé, durante o Inverno. De acordo com os dados recolhidos pela organização não governamental (ONG) British-Palestinian Military Court Watch, 97% dos jovens palestinianos detidos pelas forças militares israelitas (IDF) vivem em pequenas localidades a menos de dois quilómetros de um colonato. O advogado Gerard Horton, da ONG referida, afirma que a ideia é «assustar toda a aldeia» e que se trata de um «instrumento eficaz» para controlar uma comunidade. Acrescenta que, do ponto de vista dos ocupantes e opressores, a pressão «tem de ser constante»: «Cada geração tem de sentir a mão pesada das IDF.» A experiência é traumática. O pai de Khaled Shtaiwi, preso com 13 anos em Novembro do ano passado, contou ao periódico que criou na sua aldeia o «dia da psicologia», porque o seu filho não é capaz de falar sobre o que se passou e porque quer ajudar todas as crianças que foram presas pelos israelitas. Em Beit Ummar, Omar Ayyash foi preso com dez anos de idade, em Dezembro último. Agora, as crianças que brincam nas ruas da aldeia afastam-se assim que se apercebem da aproximação de soldados israelitas. Tornou-se um hábito desde que as tropas levaram Omar. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. No relatório agora publicado, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos refere-se ainda ao recurso à tortura nos cárceres israelitas, bem como aos assassinatos e às «execuções lentas» por falta de cuidados médicos. Denuncia igualmente a «escalada de casos de opressão, abuso e incitação racista» contra os presos palestinianos. De acordo com o organismo, estão actualmente detidos em cadeias israelitas, nos territórios ocupados em 1948, cerca de 5200 palestinianos. Destes, 38 são mulheres e 170 são menores de idade. Há ainda mais de 1250 presos palestinianos em regime de detenção administrativa e 700 reclusos doentes, 24 dos quais com enfermidades oncológicas. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Num comunicado posterior, as Brigadas al-Qassam afirmaram ter capturado «mais de 35 soldados e civis israelitas do colonato sionista de Sderot». A operação desta manhã apanhou de surpresa o Exército da ocupação, o que está a valer múltiplas críticas ao governo de Netanyahu, em Israel. Entretanto, foi declarado o «estado de preparação para a guerra» entre as forças militares israelitas, e o ministro da Defesa, que aprovou o recrutamento de soldados na reserva, declarou o estado de emergência numa faixa de 80 quilómetros em redor da Faixa de Gaza. A agência Wafa já deu conta de bombardeamentos israelitas contra o enclave costeiro nas últimas horas, dos quais resultaram vários mortos. A mesma fonte refere que o Ministério palestiniano da Saúde colocou todas as unidades hospitalares do país em situação de emergência. De acordo com as autoridades de saúde no enclave costeiro, pelo menos 198 pessoas morreram e mais de 1600 ficaram feridas (muitas das quais em estado grave) como consequência dos bombardeamentos israelitas contra a Faixa e Gaza ao longo do dia, refere a Wafa, em retaliação contra o ataque da resistência palestiniana, esta manhã. Por seu lado, a agência Prensa Latina refere-se à morte de uma centena de israelitas e cerca de 900 feridos, no contexto da operação de grande escala da resistência palestiniana, que ocupou diversas localidades e bases militares da ocupação próximas do enclave cercado. Entretanto, a Wafa dá conta de vários ataques da parte de colonos e forças israelitas contra diversas localidades e bairros palestinianos na Cisjordânia e Jerusalém ocupadas, dos quais resultaram pelo menos um morto e um número indeterminado de feridos. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Israel retaliou com a «Operação Espadas de Ferro», com ataques aéreos sobre a Faixa de Gaza sitiada e, de acordo com a última contagem do Ministério da Saúde palestiniano, 313 habitantes de Gaza morreram na ofensiva, incluindo 20 crianças, enquanto outros 1990 palestinianos ficaram feridos no enclave. Do lado israelita, foram confirmadas até à manhã de hoje cerca de 300 pessoas mortas e 1864 feridas, das quais 19 estão em estado crítico, 326 em estado grave e as restantes em estado moderado ou ligeiro. No ano em que se assinalam os 75 anos da Nakba (catástrofe), «mais de cinco décadas depois de Israel ocupar militarmente a totalidade do território da Palestina histórica», o MPPM lembra que a campanha de limpeza étnica que acompanhou a formação de Israel se prolonga até hoje. «Em Gaza, de onde partiu esta acção, vivem cerca de 2,2 milhões de pessoas, descendentes dessas sucessivas vagas de limpeza étnica», alerta o movimento. Apesar de as Nações Unidas o considerarem «impróprio para sustentar a vida humana», desde 2006 que o Estado israelita impõe um «bloqueio criminoso» sobre aquele território. Uma ONG palestiniana e outra israelita acusam Israel de ter trabalhado para «branquear a verdade» sobre os crimes cometidos pelas suas tropas durante os protestos da Grande Marcha do Retorno, em Gaza. Num relatório conjunto, o Centro Palestiniano para os Direitos Humanos (PCHR), sediado em Gaza, e a organização israelita B'Tselem analisam as investigações que Israel diz ter levado a cabo na sequência da repressão exercida pelas forças israelitas sobre os manifestantes que, na Faixa de Gaza, reclamaram o direito de regresso dos refugiados a suas casas. Os protestos conhecidos como Grande Marcha do Retorno começaram a 30 de Março de 2018 e prolongaram-se por mais de um ano e meio. Pelo menos 200 palestinianos foram mortos e 13 500 ficaram feridos – seguindo os números por baixo, uma vez que outras fontes apontam para mais de 300 mortos e cerca de 18 mil feridos, várias dezenas dos quais menores. O vento e a chuva forte que se abateram esta semana sobre Gaza não impediram centenas de manifestantes de participarem, na sexta-feira, na última manifestação de 2019 da Grande Marcha do Retorno. Dezenas de palestinianos foram feridos esta sexta-feira pelas forças israelitas na Faixa de Gaza, quando participavam na 86.ª manifestação da Grande Marcha do Retorno, perto da vedação com que Israel isola o território palestino, segundo o Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente (MPPM). Vários dos participantes nas manifestações, segundo o MPPM, foram feridos por balas reais e revestidas de borracha, enquanto dezenas de outros sofreram de asfixia por efeito do gás lacrimogéneo disparado pelas forças de ocupação. Centenas de manifestantes participaram nos protestos apesar das adversas condições climatéricas. A Faixa de Gaza tem sido batida por vento e chuva forte na última semana, com as inundações a porem em risco cerca de 235 mil pessoas nas áreas mais baixas da Faixa de Gaza, segundo um relatório do Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA) no território palestiniano ocupado. A 30 de Março os palestinianos comemoram o Dia da Terra. Nesse dia, em 1976, no Norte de Israel, foram assassinados seis palestinianos que protestavam contra a expropriação de terras para dar lugar a aldeamentos judaicos. Cerca de 100 outras pessoas ficaram feridas e centenas foram presas durante a greve geral e as grandes manifestações de protesto que, no mesmo dia, ocorreram no território do Estado de Israel. A 30 de Março de 2018 a comemoração atingiu uma dimensão inusitada, ao tornar a celebração deste dia como o primeiro de uma «Grande Marcha do Retorno», uma reclamação do direito de regresso dos refugiados aos seus lares – tal como prescreve a resolução 194 das Nações Unidas – à Palestina histórica, de onde mais de 700 mil pessoas foram expulsas pelas tropas israelitas em 1948, durante a chamada «catástrofe» («Nakba», em árabe). Desde então o protesto repete-se semanalmente, violentamente reprimido pelas forças israelitas, incluindo com o recurso a snipers e fogo real directo. Como resultado, pelo menos 348 palestinos foram mortos em Gaza por fogo israelita desde o início das marchas, a maioria deles durante as manifestações, segundo uma contagem da AFP citada pelo MPPM. Para além disso, o Ministério da Saúde de Gaza regista mais de 18 mil feridos pelas forças repressivas sionistas. Entre as baixas contam-se crianças, mulheres, muitos adolescentes, jornalistas e trabalhadores dos serviços de saúde que tentam socorrer os manifestantes. Em Março, uma missão de averiguação da ONU concluiu que as forças israelitas cometeram violações de direitos humanos na repressão dos manifestantes em Gaza, o que pode constituir crimes de guerra. Os organizadores da Grande Marcha do Retorno anunciaram nesta quinta-feira que os protestos seriam suspensos até Março de 2020, altura em que serão retomados, coincidindo com o seu segundo aniversário e também com o Dia da Terra palestina (30 de Março). A partir daí realizar-se-ão a um ritmo mensal. Além do bloqueio a que sujeita a Faixa de Gaza, na última década Israel lançou três guerras de agressão contra o pequeno território palestino e dezenas de ataques de escala mais limitada, matando milhares de pessoas e causando enormes destruições de casas e infra-estruturas. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. As duas organizações não governamentais (ONG) acusam Israel de proteger os responsáveis políticos e militares, «em vez de tomar medidas contra as pessoas que conceberam e implementaram a política ilegal de atirar a matar». Israel foi célere a anunciar que estava a investigar os protestos, sobretudo devido aos procedimentos em curso no Tribunal Penal Internacional (TPI), afirmaram as organizações numa conferência de imprensa, a que a agência WAFA faz referência. Isso deve-se ao princípio da complementaridade do TPI, ou seja, se um Estado «estiver disposto e tiver capacidade» para realizar a investigação e a efectuar, o TPI não intervém. No entanto, não basta declarar que uma investigação está a ser feita; ela tem de ser eficaz, dirigida às altas patentes responsáveis e conduzir a uma acção contra elas, sublinham, acrescentando que isso não ocorre neste caso. «As investigações conduzidas por Israel não são mais do que uma cortina de fumo erguida para proteger do TPI os funcionários responsáveis. Israel não quer e não consegue investigar as violações de direitos humanos perpetradas pelas suas forças durante os protestos da Grande Marcha de Retorno na Faixa de Gaza. Tendo isto em conta, cabe agora ao TPI garantir a responsabilização penal», disseram as duas organizações. «Estas investigações – tal como as levadas a cabo pelo sistema de aplicação da lei militar noutros casos em que soldados causaram danos aos palestinianos – fazem parte do mecanismo de branqueamento de Israel, e o seu principal objectivo continua a ser silenciar as críticas externas, para que Israel possa continuar a implementar sua política sem mudanças», lê-se no portal da B'Tselem. A mudança da embaixada norte-americana de Telavive para Jerusalém fica associada a um «Dia de Raiva» na Palestina. Na Faixa de Gaza cercada, os franco-atiradores israelitas massacram os manifestantes. Quando o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel e a intenção de mudar a Embaixada do seu país de Telavive para essa cidade, ficou claro que tal passo constituía uma declaração de apoio ao Estado de Israel e à sua política de ocupação e repressão na Palestina, nomeadamente em Jerusalém. Várias organizações têm denunciado o número crescente de ameaças em locais religiosos não-judaicos, na cidade, bem como a intensificação do plano de «judaização» de Jerusalém Oriental, com o aumento da construção de colonatos e a expulsão da população palestiniana de suas casas, que são muitas vezes demolidas. Declarada por Israel como sua capital, Jerusalém tem o estatuto, reconhecido pelas Nações Unidas, de cidade ocupada, sendo Israel a potência ocupante (desde 1967). Os palestinianos querem-na como sua capital e quem apoia a solução dos «dois estados» reconhece que o Estado da Palestina tem em Jerusalém Oriental a sua capital. Logo em Dezembro, foi generalizado o repúdio internacional pela decisão da administração norte-americana e, a 21 desse mês, materializou-se na aprovação, por esmagadora maioria, na Assembleia Geral das Nações Unidas, de uma resolução que rejeita essa decisão e insta todos os estados-membros a não estabelecerem missões diplomáticas em Jerusalém, de acordo com a resolução 478 do Conselho de Segurança, de 1980. Esse repúdio face ao reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel também se fez sentir no interior de Israel, onde académicos, antigos embaixadores e defensores da paz enviaram uma carta a um representante de Trump, seguntou reportou o periódico Haaretz. Inicialmente, não ficou explícito que a concretização da mudança da Embaixada dos EUA para Jerusalém estaria associada ao 70.º aniversário da criação do Estado de Israel, que hoje se assinala, e que teria lugar na véspera da Nakba – a limpeza étnica levada a cabo pelas forças sionistas e pelo Estado de Israel, em que mais de 750 mil palestinianos foram expulsos das suas casas e terras –, uma «catástrofe» que todos os anos os palestinianos marcam a 15 de Maio. Na visita que efectuou em Janeiro a Israel, o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, afirmou que essa mudança deveria ocorrer no final de 2019. No entanto, a 23 de Fevereiro, o Departamento de Estado anunciou a antecipação da mudança para 14 de Maio, o que foi encarado pelos palestinianos como mais uma acção de «provocação». Em protesto contra a mudança da Embaixada dos EUA para Jerusalém, os palestinianos chamaram «Dia de Raiva» a este 14 de Maio. Nos territórios ocupados da Cisjordância, há notícia de mobilizações pelo menos em Ramallah e Hebron. Mas a grande mobilização está a ter lugar na Faixa de Gaza cercada, junto às vedações que enclausuram perto de 2 milhões de palestinianos – 80% dos quais são descendentes de refugiados – no pequeno enclave. De acordo com a PressTV, as forças militares israelitas, que reforçaram a sua presença tanto em redor de Gaza como na Margem Ocidental ocupada –, esperavam que 100 mil pessoas se manifestassem nos pontos habituais, hoje, dia da mudança da Embaixada norte-americana para Jerusalém. «os palestinianos querem mandar a mensagem de que não se adaptaram nem se vão adaptar à condição de refugiados» Sobre o culminar dos protestos pacíficos da Grande Marcha do Retorno, que se iniciaram a 30 de Março, o ministro israelita da Educação, Naftali Bennet, do partido de extrema-direita Lar Judaico, disse a uma rádio israelita que a vedação seria encarada como uma «Muralha de Ferro» e que quem se aproximasse dela seria tratado como um «terrorista», refere a PressTV. A mesma fonte indica ainda que a Força Aérea israelita lançou panfletos sobre a Faixa de Gaza, ontem e hoje, para demover os manifestantes de se aproximarem da vedação, mas sem sucesso, já que estes, segundo refere a Al Jazeera, têm estado a tentar atravessá-la, «defendendo o seu direito ao regresso, ao retorno, aconteça o que acontecer». Um membro do comité organizador da Grande Marcha do Retorno disse à Al Jazeera que, ao tentarem atravessar a vedação, «os palestinianos querem mandar a mensagem de que não se adaptaram nem se vão adaptar à condição de refugiados». Os franco-atiradores responderam de forma brutal, matando mais de quatro dezenas de pessoas que se manifestavam perto da vedação e ferindo perto de 2000, até ao momento. De acordo com a organização, os protestos de hoje e os que estão previstos para amanhã – dia da Nakba – devem ser os mais massivos, sendo o ponto culminante das sete semanas de mobilizações, fortemente reprimidas pelas forças israelitas, junto à vedação com a Faixa de Gaza. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Apesar dos milhares de feridos palestinianos resultantes da política de «atirar a matar» e de mais de centena e meia ter ficado sem membros inferiores ou superiores – as tropas israelitas usaram balas explosivas, as chamadas butterfly bullets, que se expandem no contacto com o corpo, provocando danos severos nos tecidos, nos ossos, nas veias –, nenhum destes casos foi investigado. Sem explicação, os militares decidiram investigar apenas os casos em que palestinianos foram mortos. Dos 234 casos recebidos pelos procuradores do Exército, foi completa a revisão de 143 e um deles, o da morte do adolescente Othman Hiles, de 14 anos, levou à condenação de um soldado por «abuso de autoridade ao ponto de pôr em risco a vida e a saúde». Foi condenado a um mês de serviço comunitário. No seu portal, a B'Tselem sublinha que «a conduta de Israel respeitante à investigação dos protestos em Gaza não é nova nem surpreendente», e recorda o que se passou depois da Operação Chumbo Fundido, em 2009, e da Operação Margem Protectora, em 2014. «Então, também, Israel desrespeitou o direito internacional, recusou-se a reformar a sua política apesar dos resultados letais e desviou as críticas prometendo investigar a sua conduta. Então, também, nada resultou dessa promessa», afirma. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Por outro lado, entre Março de 2018 e Dezembro de 2019, uma série de manifestações pacíficas designadas Grande Marcha do Retorno foram brutalmente reprimidas pelo exército de Israel, contabilizando-se 223 mortos e mais de nove mil feridos, sob o silêncio da comunidade internacional. «Os assaltos das forças de ocupação israelita às povoações e campos de refugiados palestinos, assim como a violência dos colonos e as prisões arbitrárias são o quotidiano com que os palestinos, homens e mulheres, jovens e menos jovens diariamente se confrontam», lembra o MPPM, salientando que, até este sábado, pelo menos 247 palestinianos, sobretudo jovens, foram mortos pelas forças israelitas e por colonos. Neste sentido, insiste que a paz no Médio Oriente e a solução da questão palestiniana «passam necessariamente por um desenlace que respeite os direitos inalienáveis» do povo palestiniano a uma pátria livre e independente, incluindo o direito de regresso dos refugiados. O MPPM rejeita os «lamentos» daqueles que «hipocritamente condenam as acções violentas de resistência dos oprimidos e se calam desde há décadas (ou pior, colaboram) perante a violência da ocupação», e entre os quais se encontra o Governo português. «Israel tem o direito de se defender. Estes ataques nada resolverão, contribuindo apenas para piorar a situação na região. Estamos solidários com Israel e oferecemos condolências pelas vítimas.», disse o ministro João Gomes Cravinho, este sábado, na rede social X. O governo palestiniano denunciou junto da ONU o assassinato de 44 menores, este ano, por soldados israelitas. Neste contexto, reclamou protecção para a infância e a responsabilização de Telavive. Numa carta enviada esta segunda-feira ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, o Ministério palestiniano dos Negócios Estrangeiros pediu protecção especial urgente para as crianças palestinianas, informa a agência Wafa. Mahmoud Samoudi, de 12 anos, foi, ontem, a vítima mortal mais recente das forças israelitas, não resistindo aos ferimentos quase duas semanas depois de ter sido atingido por uma bala no abdómen, durante uma operação militar na cidade de Jenin (Norte da Cisjordânia ocupada). Só nos últimos dias, «Israel, a potência ocupante, matou cinco crianças e jovens palestinianos, incluindo Adel Adel Daud (14 anos), Mahdi Ladadwa (17), Mahmoud Sous (17), Fayez Khaled Damdoum (17) e Ahmad Draghmeh (19)», indica o texto das autoridades palestinianas. Até 10 de Dezembro, 86 crianças foram mortas nos territórios ocupados da Palestina, fazendo de 2021 o ano mais mortífero para elas desde 2014, segundo os registos de uma organização não governamental. As forças israelitas mataram 76 crianças palestinianas este ano – 61 na Faixa de Gaza cercada e 15 na Cisjordânia ocupada, incluindo Jerusalém Oriental. Civis israelitas armados mataram duas crianças palestinianas na Cisjordânia, revela o relatório agora publicado pela Defense for Children International – Palestine (DCIP). A estas 78 crianças juntam-se sete que foram mortas por foguetes disparados incorrectamente por grupos armados palestinianos na Faixa de Gaza, e uma outra que foi morta por uma munição não detonada, cujas origens a ONG não conseguiu determinar. «Nos termos do direito internacional, a força letal intencional só se justifica em circunstâncias em que esteja presente uma ameaça directa à vida ou de ferimentos graves. No entanto, investigações e provas recolhidas pelo DCIP sugerem que as forças israelitas utilizam regularmente força letal contra crianças palestinianas em circunstâncias que podem equivaler a execuções extrajudiciais ou intencionais», lê-se relatório, traduzido pelo Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente – MPPM. Durante os 11 dias do ataque militar israelita à Faixa de Gaza, em Maio de 2021, naquilo que ficou conhecido como Operação Guardião dos Muros, as forças israelitas mataram 60 crianças palestinianas, segundo os dados recolhidos pela DCIP. «Aviões de guerra israelitas e drones armados bombardearam áreas civis densamente povoadas, matando crianças palestinianas que dormiam nas suas camas, brincavam nos seus bairros, faziam compras nas lojas perto das suas casas e celebravam o Eid al-Fitr [festa no fim do Ramadão] com as suas famílias», disse Ayed Abu Eqtaish, director do programa de responsabilização da DCIP. «A falta de vontade política da comunidade internacional para responsabilizar os funcionários israelitas garante que os soldados israelitas continuarão a matar ilegalmente crianças palestinianas com impunidade», acrescentou. A DCIP lembra que o direito humanitário internacional proíbe ataques indiscriminados e desproporcionados, e exige que todas as partes num conflito armado façam a distinção entre alvos militares, civis e objectos civis. O pico mais recente de assassinatos de crianças ocorrera em 2018, quando forças israelitas e colonos mataram crianças palestinianas a um ritmo médio superior a uma por semana (57). A maioria dessas mortes ocorreu durante os protestos da Marcha do Retorno, na Faixa de Gaza, refere o organismo. De acordo com os dados da DCIP, foram mortas 2196 crianças palestinianas, desde 2000, em resultado da presença de militares e de colonos israelitas nos territórios ocupados da Palestina. A Defense for Children International – Palestine é uma das seis organizações de direitos humanos que Israel pretende silenciar, lembra o MPPM, sublinhando que a medida tem merecido a condenação generalizada a nível internacional e foi denunciada pelo MPPM a 29 de Outubro último. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. A carta afirma que as forças de ocupação estão a utilizar «a política infame de atirar a matar» – de que resultou a morte de centenas de crianças palestinianas –, ao apontarem «deliberadamente» para a parte superior dos seus corpos. «Israel dispara deliberadamente contra os menores palestinianos com o objectivo declarado de os matar e mutilar, negando-lhes o direito à vida», lê-se no texto, sublinhando que «as crianças jamais devem ser mortas ou mutiladas», bem como a necessidade de medidas urgentes para as proteger da «escalada dos crimes israelitas». Neste sentido, o governo palestiniano exigiu medidas contra Telavive, destacando que as «evidências dos seus crimes crescentes contra as crianças palestinianas são, sem dúvida alguma, esmagadoras», violando o direito internacional e as resoluções que constituem a base da protecção das crianças nos conflitos armados. «A protecção das crianças é a maior obrigação moral, legal e política da humanidade», frisa o documento, no qual se pede à comunidade internacional que «ponha fim a este pesadelo intolerável que as nossas crianças vivem diariamente» e que tome medidas para responsabilizar Israel «pelos seus crimes horrendos». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. «Os que há décadas convivem com a ausência de qualquer real processo político conducente a uma solução que respeite os direitos do povo palestino, não têm autoridade moral para hoje se queixarem das tempestades que provocaram», defende o MPPM. Certo de que a violência poderá alastrar-se a todo o Médio Oriente, o movimento recorda que Israel, «com o apoio dos países "ocidentais" e em primeiro lugar dos Estados Unidos da América», é a maior potência militar da região e a única a dispor de armas nucleares. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Em simultâneo, revela a Wafa, têm-se registado múltiplas agressões e raides, da parte de colonos e forças istraelitas, na Margem Ocidental ocupada. Pelo menos cinco palestinianos foram ali mortos nas últimas 24 horas, em vários pontos do território ocupado. A operação israelita de larga escala segue-se à operação, lançada no sábado de manhã, por forças da resistência palestiniana na Faixa de Gaza, onde o Hamas é o elemento predominante. Segundo foi revelado então, a ala militar do Hamas lançou pelo menos 5000 rockets para aquilo que é hoje Israel. As forças da resistência derrubaram, em vários pontos, a vedação que cerca o território e atacaram os colonatos em redor por terra, mar e ar. Pelo menos 700 israelitas foram mortos nessa operação que alguma imprensa israelita classificou como «nunca vista» e mais de cem foram feitos prisioneiros, incluindo militares de alta patente. No domínio político-mediático da «comunidade internacional», o mundo predominantemente ocidental e branco, as vozes sobre «A Guerra» (só havia uma e mais nenhuma: a da Ucrânia) silenciaram-se e, nas fachadas das praças de capitais como Nova Iorque, Berlim ou Bruxelas, as bandeiras da Ucrânia foram substituídas pelas de Israel. Desde o Mandato Britânico que os palestinianos são sujeitos à opressão, que se intensificou com a construção, nas suas terras, do Estado de Israel, erguido à custa das forças paramilitares que expulsaram os palestinianos de suas casas e os mataram ou meteram em guetos. A campanha de limpeza étnica então iniciada mantém-se até hoje, sob um regime de apartheid, por via do saque de territórios e de recursos, a destruição de casas, escolas e outras infra-estruturas, e a expulsão dos palestinianos das terras onde vivem. De forma sistemática, as forças israelitas bombardeiam a Faixa de Gaza, que mantêm fechada e cercada num férreo bloqueio, com mais de dois milhões de pessoas a viver em condições insalubres, sem luz, água potável, mas «a comunidade internacional» projecta as suas bandeiras nos edifícios das suas praças quando a Palestina – reduzida ao Hamas – se ergue e rompe o cerco. Entretanto, no enorme campo de deslocados que é Gaza, cerca de 70 mil pessoas procuraram refúgio dos bombardeamentos nas 64 escolas operadas pela UNRWA – a agência da ONU para os refugiados palestinianos no Médio Oriente. Em comunicado, a UNRWA confirmou que dois alunos em escolas que opera em Khan Younis e Beit Hanoun se encontram entre os mortos. Pelo menos três escolas da organização sofreram danos provocados pelos bombardeamentos, acrescenta o texto. A UNRWA sublinhou que os civis devem ser sempre protegidos, também em período de guerra, e apelou a um cessar-fogo imediato e ao fim da violência em todo o lado. A operação das forças da resistência em território israelita continua. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Foram muitas décadas em que a União Europeia, incluindo o Governo português, toleraram a quotidiana violação por Israel de inúmeras resoluções da ONU, do direito internacional e do direito internacional humanitário, pactuando com a ausência de qualquer real processo político conducente a uma solução que respeite os direitos destas populações. Quem pactuou com estes crimes não tem, hoje, «autoridade moral para se queixarem das tempestades que provocaram», acrescenta o MPPM. Por todos estes motivos, o MPPM e a CGTP-IN, ao lado do Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC) decidiram convocar o acto público de solidariedade com o povo palestino (11 de Outubro, às 18h, na Praça do Martim Moniz), «pelo seu direito a resistir à ocupação, pelo reconhecimento dos seus direitos inalienáveis a uma pátria livre, independente e soberana, pelo direito de regresso dos refugiados, e também por uma paz justa e duradoura no Médio Oriente». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Entretanto, o portal The Cradle refere que a passagem fronteiriça de Rafah entre a Faixa de Gaza e o Egipto foi bombardeada duas vezes pela aviação israelita, de modo «a tornar impossível a entrega de qualquer ajuda humanitária» e a colocar em efeito o «cerco total» que o ministro israelita da Defesa, Yoav Gallant, havia anunciado, quando disse que estavam «a lutar contra animais e a agir em consonância». A mesma fonte indica que mais de mil israelitas foram mortos e cerca de 130 foram feitos prisioneiros e levados para Gaza na ofensiva palestiniana iniciada no sábado. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Entretanto, o Comité para a Protecção dos Jornalistas (CPJ) emitiu um comunicado em que dá conta do desaparecimento, desde sábado, dos jornalistas palestinianos Nidal al-Wahidi e Haitham Abdelwahid. Eram ambos fotógrafos e trabalhavam para diversos meios de comunicação. Israel tem um longo historial de assassinato de jornalistas palestinianos que cobrem as atrocidades cometidas pelas suas forças nos territórios ocupados. De acordo com um relatório emitido pelo CPJ em Maio último, as forças israelitas mataram pelo menos 20 jornalistas nos últimos 22 anos – 18 dos quais palestinianos. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. A acção denunciou décadas de regime militar de excepção, de destruição de ecossistemas, de culturas ou de qualquer outro modo de subsistência, de empobrecimento, detenção e encarceramento sem acusação nem direito a defesa, de morte, tortura e incapacitação causadas pelos bombardeamentos e pelas incursões militares de que o povo palestiniano é, sistematicamente, alvo. «Digam-nos, os que enchem a boca com os valores ocidentais, os que se deleitam com elogios sobre o nosso modo de vida, os que, impantes na sua pesporrência eurocêntrica e tantas vezes mal disfarçadamente racista, ditam lições de moral ao mundo, expliquem-nos», exigiu saber Carlos Almeida, historiador e vice-presidente do MPPM – Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente, «se a terra dos homens, é de todos os homens, acaso os palestinos não são pessoas? Não lhes cabe um quinhão neste lugar que alguém já chamou azul?». Perante as crescentes evidências de que Israel está a cometer um genocídio contra a população de Gaza, Carlos Almeida, na intervenção que dirigiu aos presentes, denunciou ainda a cumplicidade de vários dirigentes políticos e comentadores na comunicação social com o extermínio do povo da Palestina: «Que ninguém diga que não sabia. Que ninguém se esconda atrás de frases de circunstância, palavras vazias ardilosamente costuradas sobre a necessidade de Israel respeitar o direito internacional humanitário». «A guerra também tem regras, dizem», e as «democracias» nunca falham em observá-las, explicam. «Todos os que desde há uma semana repetem, como autómatos», que Israel tem o direito a defender-se a todo o custo, «todas e todos os que alucinadamente proclamam a necessidade de um banho de sangue, não importa quantas crianças morram, israelitas ou palestinas – todas e todos eles são responsáveis pelo que está a acontecer». «Que o povo palestino, que em Gaza, em Hebron ou em Jerusalém, em Nablus ou Jenin, se saiba que, do outro lado do Mediterrâneo, há um povo, autor colectivo da revolução mais bonita que o mundo conheceu, que foi capaz de derrubar o fascismo e o colonialismo, e que esse povo está solidário com a sua causa, com a sua luta». O CPPC, o MPPM e a CGTP-IN convocaram já uma nova acção para o Largo Camões, em Évora, no dia 19 de Outubro, às 18h. O manifesto «As vidas palestinianas contam! Manifesto de apoio e solidariedade com o povo palestiniano», pode ser consultado e assinado online, contando já com a subscrição de mais de três mil pessoas. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Além disso, a inspiração na «matança dos inocentes», ordenada pelo rei Herodes, pretende explorar sub-repticiamente um mero episódio bíblico fora de prazo, ocorrido há exactamente 2023 anos. Num quadro factualmente objectivo, porém, o Hamas partiu para a operação militar parecendo não ter em conta (ou se o teve é porque está deliberadamente a usar o seu povo como carne para canhão) a enorme desproporção de forças militares e militarizadas no terreno. Deste modo, descontadas as primeiras vantagens decorrentes do «factor surpresa», as acções islamitas acabaram por dar oportunidades de ouro aos sectores dominantes israelitas que defendem a violência arrasadora capaz de proporcionar uma alteração qualitativa da situação no terreno e, eventualmente, matar de vez as possibilidades de criar o Estado Palestiniano inscrito há 75 anos no direito internacional. Perante as condições proporcionadas, Israel não hesita em provocar uma vaga de terror e desespero na martirizada população de Gaza, capaz de a fazer aceitar qualquer solução que não seja a morte, destino a que parece cada vez mais condenada; além disso, para tornarem mais credível a ideia de que não hesitarão numa solução final, os militares sionistas dedicam-se à matança de palestinianos em massa numa amplitude poucas vezes ou mesmo nunca conhecida em sete décadas e meia. A limpeza étnica surge mais uma vez, aos olhos dos condenados, como um mal menor que já está em andamento. Como revela o ex-ministro israelita dos Negócios Estrangeiros, Danny Ayalon, o plano é «forçar os palestinianos a entrar no espaço quase infinito do Sinai», onde podem «viver em cidades de tendas». Enquanto os políticos ocidentais, tomados pela histeria, se embrulham em bandeiras sionistas, felizes e emocionados com o genocídio. «Num quadro factualmente objectivo, porém, o Hamas partiu para a operação militar parecendo não ter em conta (ou se o teve é porque está deliberadamente a usar o seu povo como carne para canhão) a enorme desproporção de forças militares e militarizadas no terreno.» A ideia do «esvaziamento» da Faixa de Gaza não é um objectivo novo do sionismo. Há muito tempo que se fala do projecto de «transferir» a população do território para a Península e deserto do Sinai, uma região aliás já anteriormente ocupada por Israel e devolvida ao Egipto na sequência dos acordos de Camp David. O mar de Gaza tem petróleo e gás natural; as costas mediterrânicas de Gaza prometem resorts paradisíacos para as oligarquias judaicas e afins. Na verdade, é difícil acreditar que o mais monstruoso aparelho mundial de espionagem e informações, exportando até gadgets inovadores para regimes autoritários assumidos ou maquilhados de «democratas», estivesse distraído perante os laboriosos preparativos de invasão por parte do Hamas. Como é que organizações de espionagem como as sionistas, que certamente dispõem de milhares de informadores numa população tão densa e caótica como a de Gaza, não tinham sequer uma luzinha sobre o que o Hamas estava a preparar e que não pode ter nascido de uma noite para o dia? E que dizer dos avisos que o Egipto – e parecem não ter sido os únicos – fez chegar a Israel prevenindo de que alguma coisa estava para acontecer a partir de Gaza. Distracção? Incompetência? Sonolência? Seria difícil acreditar em tantas falhas de segurança em cadeia mesmo que se tratasse de uma estrutura de amadores, quanto mais dos serviços de espionagem e informações que são habitualmente apresentados como os mais aptos do mundo. Efrat Fenigsen, ex-oficial de inteligência das tropas israelitas, escreveu em 7 de Outubro: «Servi na inteligência das FDI (Forças de Defesa de Israel) durante 25 anos. Não há possibilidade de Israel não saber o que estava para acontecer. Até um gato movendo-se na cerca accionaria todas as forças, quanto mais isto…». Fenigsen acrescenta: «esta cadeia de acontecimentos é muito incomum e não é típica do sistema israelita de defesa.» A coisa dá que pensar. A oportunidade para a operação foi oferecida de bandeja ao Hamas: nem faltou a provocação de uma multidão de colonos contra a mesquita de Al Aqsa, em Jerusalém, uma «linha vermelha» para qualquer instituição muçulmana. «Servi na inteligência das FDI (Forças de Defesa de Israel) durante 25 anos. Não há possibilidade de Israel não saber o que estava para acontecer. Até um gato movendo-se na cerca accionaria todas as forças, quanto mais isto…». Efrat Fenigsen, ex-oficial de inteligência das tropas israelitas Mas existe ainda uma pergunta por fazer: confirmando-se a impossibilidade de Israel desconhecer previamente o ataque do Hamas, o governo e as forças armadas do país aceitaram sacrificar mais de um milhar de compatriotas a um objectivo que consideram mais importante do que as suas vidas? Não adivinhamos, não conhecemos, nunca conheceremos os meandros desta conjugação de acontecimentos. Nem se a criatura escapou ao criador. Sabemos, isso sim, que está uma alteração qualitativa em andamento no processo israelo-palestiniano, que põe objectivamente em causa a instauração de um Estado Palestiniano independente e viável. É a primeira transformação de fundo, e em sentido contrário, súbita e não gradual, desde as medidas autonómicas incompletas decorrentes do «processo de paz». Está em curso uma nova etapa da Nakba (a catástrofe), a limpeza étnica dos palestinianos da Palestina iniciada em 1948; e com a cumplicidade do «mundo civilizado», aceitando placidamente o diktat sionista. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Gaza é um permanente cenário de guerra, embora o mundo pouca noção tenha disso, enquanto os governantes ocidentais, fiéis ao dogma de que Israel é um pilar do «mundo livre», a «única democracia no Médio Oriente», ignoram ostensivamente a existência dessa chaga humana. E são cúmplices da sua existência. A operação militar do Hamas contra território israelita demonstrou que Israel pode não ser imune, mas continua impune graças à cumplicidade do virtuoso «mundo ocidental». Os sinais de convulsão em todo o Médio Oriente, porém, geram agora novos tipos de interrogações tendo em conta o confronto aberto, e cada vez mais concreto, entre as ordens internacionais unipolar e multipolar. Tudo o que acontecer na região será em cenário geoestratégico renovado. Viver em Gaza era penoso quando visitei pela primeira vez o território, há 35 anos, por alturas da chamada Primeira Intifada ou revolta das pedras, na qual as populações da Palestina sob domínio militar israelita se levantaram pela primeira vez, então de maneira espontânea, contra as forças de ocupação, recorrendo ao uso de fisgas e outros utensílios rudimentares. Em pleno Inverno, os campos de refugiados, habitados pelas multidões de vítimas das limpezas étnicas sionistas de 1948 em diante, eram lamaçais pestilentos; um ano depois, em pleno Verão, verifiquei que os mesmos campos eram infernos de seca e fome, inóspitos e sofrendo de uma angustiante carência de recursos. Campos de refugiados com quase 200 mil pessoas, como o de Jabalia, são atentados contra a dignidade humana que os senhores do mundo se recusam a encarar. Sobre o estado de espírito das pessoas que foram condenadas a esses submundos apenas por existirem, vale a pena reler o herói israelita Moshe Dayan, num discurso de 1956, quando era chefe do governo: «Porque devemos deplorar o seu ódio evidente por nós?... Perante os olhos dos refugiados de Gaza temos transformado as terras e as aldeias onde eles e os seus pais viveram em propriedade nossa». Palavras com 67 anos… Provocações e agressões militares permanentes criavam um clima de medo e pressão asfixiante, a convicção de que a vida de cada um estava presa por um fio a cada instante. Ao recordar esses dias, essas impressões, é impossível esquecer a mortificação daquela mãe muito jovem que no campo de refugiados conhecido como Beach Camp acabara de enterrar a filha, uma bebé de três meses executada com um tiro na cabeça disparado por um soldado israelita. Um caso apenas – uma marca identificadora de um regime assassino. As forças armadas sionistas que participam em exercícios atlantistas são as mesmas que fazem jorrar o sangue de civis indefesos na Palestina, impedidos de escapar às suas bombas. Israel está a cometer mais um acto de apogeu da chacina a que tem vindo a submeter impunemente a população da Faixa de Gaza – e da Palestina em geral – durante as últimas décadas. Os alvos não são «os túneis do Hamas», como informa o regime sionista, mas dois milhões de pessoas que vivem enclausuradas num imenso campo de concentração do qual não podem escapar. Não se trata de um «confronto»: é uma barbárie. Algumas notas sobre o que está a passar-se. A Faixa de Gaza e a respectiva população são um alvo que Israel tem sempre à mão quando necessita de recorrer a manobras de diversão por causa da degradação política interna, como acontece no momento actual, em que se misturam a prolongada indefinição governativa, a corrupção a alto nível do regime e a polémica gestão da pandemia – por sinal, insolitamente elogiada no plano internacional. «A Faixa de Gaza e a respectiva população são um alvo que Israel tem sempre à mão quando necessita de recorrer a manobras de diversão por causa da degradação política interna, como acontece no momento actual» Os dirigentes sionistas não duvidam, nem por um instante, de que podem utilizar o instrumento da guerra contra Gaza porque sabem que a chamada comunidade internacional o permite. As instâncias internacionais, com a ONU à cabeça, e as grandes potências, com destaque para os Estados Unidos e a União Europeia, permitem tudo a Israel sem assumir uma única medida para conter a barbárie. Há mais de 70 anos que a comunidade internacional se vem dotando de instrumentos legais para fazer respeitar os direitos inalienáveis do povo palestiniano e há mais de 70 anos que eles são interpretados como letra morta. Este comportamento é um incentivo à discricionariedade de Israel; e Israel aproveita-o consoante as suas conveniências sabendo que nada de mal lhe acontecerá e nenhuma reacção irá além do apelo à «moderação» e a um «cessar-cessar entre as partes». Isto é, entre uma «parte» que pode tudo e uma «parte» que sofre tudo. Os foguetes do Hamas são irrelevantes quando comparados com o aparelho de guerra usado pelo regime sionista. A actuação da comunidade internacional na questão israelo-palestiniana é o exemplo mais flagrante da sua permanente utilização do sistema de pesos e medidas variáveis. Isolada pela comunidade internacional em geral, a Palestina conta cada vez menos com a solidariedade do chamado mundo árabe. Sob a égide da administração Trump nos Estados Unidos, países árabes como os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein juntaram-se recentemente ao Egipto na normalização das relações com Israel, o que significa abandonar a defesa dos direitos dos palestinianos. Acresce que existem, de facto, relações diplomáticas entre o Estado sionista e a Arábia Saudita, encimadas pela amizade e afinidades entre o primeiro-ministro Netanyahu e o herdeiro do trono wahabita, Mohammed Bin Salman. Uma aliança sobre os escombros da Palestina. «Há mais de 70 anos que a comunidade internacional se vem dotando de instrumentos legais para fazer respeitar os direitos inalienáveis do povo palestiniano e há mais de 70 anos que eles são interpretados como letra morta. Este comportamento é um incentivo à discricionariedade de Israel» Na prática, a solidariedade árabe nunca desempenhou um papel que permitisse a criação de um Estado palestiniano, como determinam as normas e a doutrina estabelecidas pela comunidade internacional. O reconhecimento de Israel por cada vez mais países árabes, porém, reforça a ideia de que o problema palestiniano poderá ter outras «soluções» que não sejam a criação de um Estado palestiniano independente, viável e plenamente soberano. Por outro lado, as relações entre países árabes e Israel transformam cada vez mais o Estado sionista numa entidade plenamente integrada no Médio Oriente, dando assim forma ao arranjo pretendido pelos Estados Unidos de uma região com duas potências dominantes – Israel e Arábia Saudita –, ambas viradas contra o Irão. O novo pico de guerra de Israel contra Gaza não pode desligar-se dos permanentes esforços de Israel para tentar provocar uma guerra directa contra o Irão – à qual as administrações norte-americanas ainda têm resistido. A ofensiva supostamente «contra o Hamas» – grupo que Israel liga a Teerão apesar de ser sunita e não xiita – acontece no preciso momento em que a administração Biden ainda não definiu se regressa ou não ao acordo nuclear 5+1 com o Irão. A mensagem israelita é directa: apoiando grupos activos no Médio Oriente, como o Hezbollah no Líbano e na Síria e o Hamas na Palestina, o Irão terá de ser desencorajado de o fazer. E os acordos com Teerão têm de ser invalidados. Por muito que possam vir a proclamar verbalmente o contrário, os Estados Unidos e a União Europeia estão por detrás de mais esta chacina israelita em Gaza. Se em relação a Washington não existe qualquer dúvida, tanto mais que o aparelho do Partido Democrata no poder é o que está mais sintonizado com os interesses dominantes do sionismo, poderão levantar-se reticências em relação ao papel da União Europeia. «a prática de Bruxelas e dos 27 é objectivamente favorável às atitudes assumidas por Israel, sejam elas quais forem: nada fazem para que seja concretizada a solução de dois Estados na Palestina, mantêm relações económicas e políticas preferenciais com Israel e não assumem nas instâncias internacionais qualquer posição contra as atitudes militares extremas do sionismo» O que não tem qualquer razão de ser. Apesar de algumas declarações de distanciamento, como foi o caso por ocasião da transferência da embaixada norte-americana para Jerusalém, a prática de Bruxelas e dos 27 é objectivamente favorável às atitudes assumidas por Israel, sejam elas quais forem: nada fazem para que seja concretizada a solução de dois Estados na Palestina, mantêm relações económicas e políticas preferenciais com Israel e não assumem nas instâncias internacionais qualquer posição contra as atitudes militares extremas do sionismo. Antes pelo contrário: Israel é um parceiro activo da NATO – que rege a União Europeia do ponto de vista militar – e está mesmo envolvido nos exercícios em curso na Grécia e no Mar Egeu no quadro dos jogos de guerra «Defender Europe». Isto é, as forças armadas sionistas que participam em exercícios atlantistas são as mesmas que fazem jorrar o sangue de civis indefesos na Palestina, impedidos de escapar às suas bombas. Uma aliança que dizima vidas e direitos humanos. A mensagem de Israel com esta nova operação de barbárie é directa: nada fará parar o sionismo no seu objectivo de limpar e submeter etnicamente a Palestina e de impedir qualquer tentativa, por débil que seja, de implementar a solução de dois Estados. O instrumento para concretizar esse objectivo é a colonização ininterrupta dos territórios da Cisjordânia – a par do cerco férreo a Gaza – de maneira a estender a ocupação, inviabilizar as possibilidades territoriais de instaurar um Estado e quebrar a resistência nacional palestiniana. «a operação militar sionista assumiu as já conhecidas proporções de punição colectiva. Contando, para isso, com a habitual impunidade que lhe é assegurada pelas instâncias internacionais. De facto, Israel usa o terrorismo para impor a lei do mais forte sabendo que encontrará pouca oposição e condenação nenhuma» Nas últimas semanas o regime sionista expulsou mais famílias e arrasou as suas habitações no bairro de Sheik Jarrah, em Jerusalém Leste, no quadro da «limpeza» de todos os palestinianos da cidade. Acontece que a ofensiva encontrou forte resistência da população atingida, sinal de que, apesar de isolados internacionalmente, os palestinianos não estão dispostos a abdicar dos seus direitos. Uma vez que Gaza respondeu à agressão e da Faixa de Gaza foram disparados foguetes contra território israelita, a operação militar sionista assumiu as já conhecidas proporções de punição colectiva. Contando, para isso, com a habitual impunidade que lhe é assegurada pelas instâncias internacionais. De facto, Israel usa o terrorismo para impor a lei do mais forte sabendo que encontrará pouca oposição e condenação nenhuma. A nova fase da chacina contra Gaza e da limpeza étnica da Cisjordânia é, afinal, mais um passo no sentido de um desfecho que inviabilize de vez a solução de dois Estados na Palestina. Ao mesmo tempo que este princípio vai sendo invocado como um mantra cada vez mais vazio de significado pelos que insistem em dizer-se defensores das leis internacionais e dos direitos humanos. Enquanto isto, continuam a morrer inocentes indefesos e a Nakba, o holocausto palestiniano, prossegue, dia após dia, sob os olhos e a passividade do mundo. Até ao último dos palestinianos. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Nesses anos, Gaza era ocupada militarmente de uma maneira directa, presencial, submetida a todas as sevícias inerentes à situação, desde as punições e prisões arbitrárias, rusgas a residências, tortura, ao assassínio puro e simples. Nas zonas costeiras, onde se podiam usufruir as delícias mediterrânicas, existiam colonatos nos quais escassas centenas de cidadãos israelitas oriundos das mais diferenciadas regiões do globo gozavam de vidas paradisíacas, lado-a-lado com as mais humilhantes e desumanas vastidões de miséria, repressão e tortura. Representando menos de 0,1% da população, os colonos israelitas ocupavam um terço do território. O esplendor do apartheid e da barbárie. Anos mais tarde, em 2007, na sequência do traiçoeiro «processo de paz» e porque a presença militar no território era arriscada e dispendiosa, o primeiro-ministro Ariel Sharon mandou dissolver os colonatos e envolver toda a faixa de terra por cercas de arame farpado, muros e anéis de tropas. As entradas e saídas passaram a processar-se num único posto de controlo, exclusivamente aberto aos palestinianos que, em casos de carência de mão-de-obra escrava em território israelita, conseguiam obter trabalhos episódicos desde que no final do dia regressassem a casa – através do mesmo posto de controlo e sujeitos a humilhações, por exemplo a de serem revistados em gaiolas depois de obrigados a despir-se. Gaza transformou-se assim numa gigantesca prisão a céu aberto, um campo de concentração onde penam 2,3 milhões de pessoas numa área de aproximadamente 350 quilómetros quadrados, dimensão equivalente à do pequeno concelho do Montijo, em Portugal. Onde vivem, segundo o censo de 2021, um pouco menos de 60 mil pessoas. As eleições palestinianas realizadas no âmbito do «processo de paz» de meados dos anos noventa do século passado deram ao movimento islamita Hamas o direito a governar a Faixa de Gaza em sistema de «autonomia» – de gueto, melhor dizendo –, mas submetido, de facto, à tutela militar israelita. Começava a falar-se do Hamas quando visitei Gaza em Fevereiro de 1988. E dizia-se que a acção desse grupo fundamentalista islâmico era muito bem vista, acarinhada, quiçá directamente apoiada por Israel. Nos dias de hoje podemos ir além desse «diz-que-disse». «Sabia que o Hamas foi criado por Israel?» A pergunta surpreendeu Scott Ritter, ex-alto quadro de inteligência da Marinha de guerra norte-americana. Foi formulada por um responsável do Mossad, seu «anfitrião» israelita num trabalho desenvolvido conjuntamente quando Ritter era inspector da ONU, investigando as alegadas armas de destruição massiva do Iraque de Saddam Hussein, no início deste século. «E dizia-se que a acção desse grupo fundamentalista islâmico era muito bem vista, acarinhada, quiçá directamente apoiada por Israel. Nos dias de hoje podemos ir além desse "diz-que-disse".» Em 2002, o historiador israelita Zeev Sternhell, da Universidade Hebraica de Jerusalém, escreveu: «Não esqueçamos que, de facto, foi Israel que criou o Hamas. Pensou que era uma maneira inteligente de empurrar os islamitas contra a OLP». O mote foi retomado na edição de 24 de Janeiro de 2009 do insuspeito Wall Street Journal, através de um artigo intitulado «Como Israel ajudou a gerar o Hamas». Caso ainda haja dúvidas, é altura de dar a palavra a quem mais sabe do assunto. Na edição do dia 9 deste mês de Outubro, já depois de iniciada a operação do Hamas, o jornal israelita Haaretz, de grande circulação, deu conta de uma reunião em Março de 2019 entre Benjamin Netanyahu e o grupo parlamentar do seu partido, o Likud, no Knesset (parlamento). Disse o actual primeiro-ministro, que agora promete «arrasar Gaza»: «Quem queira impedir o estabelecimento de um Estado Palestiniano tem de apoiar o fortalecimento do Hamas e a transferência de dinheiro para o Hamas. Isso faz parte da nossa estratégia – isolar os palestinianos de Gaza dos palestinianos da Cisjordânia». «Impedir o estabelecimento de um Estado Palestiniano…». Na recente reunião da Assembleia Geral da ONU, Netanyahu exibiu um mapa do «Novo Médio Oriente» do qual suprimiu totalmente a Palestina. E tentou fazer humor escarnecendo das resoluções da ONU sobre os direitos do povo palestiniano. Provavelmente saberia alguma coisa que quase todo o resto do mundo desconhece. Não será possível, portanto, olhar para os acontecimentos em curso sem ter em conta estes dados, estas declarações, que embora já não sejam segredo nas altas esferas – e certamente as da União Europeia – não chegam com facilidade ao cidadão comum porque para o aparelho mediático de intoxicação não passam de fake news, de traiçoeiras teorias da conspiração. Qualquer habilidoso fact-checker porá Netanyahu a dizer o contrário do que Netanyahu disse. «Quem queira impedir o estabelecimento de um Estado Palestiniano tem de apoiar o fortalecimento do Hamas e a transferência de dinheiro para o Hamas. Isso faz parte da nossa estratégia – isolar os palestinianos de Gaza dos palestinianos da Cisjordânia.» Benjamin Netanyahu O aparecimento do Hamas no universo plural palestiniano tornou-se rapidamente, como desejaram os seus criadores, um instrumento privilegiado para promover a divisão da resistência à ocupação e minar o papel dominante do sector secular, representado pela Organização para a Libertação da Palestina (OLP). O que não tardou a comprovar-se, em pleno desenvolvimento do primeiro Intifada. Quando a OLP convocava uma greve geral ou uma manifestação, o Hamas não aderia e convocava por si próprio uma greve geral e uma manifestação para o dia seguinte. O objectivo de dividir era evidente e servia, sem dúvida, os interesses de Israel. Enfraquecia a dinâmica do movimento popular, lançava dúvidas e animosidade, introduzia a delicada questão religiosa numa população multiconfessional, começava a socavar a solidez da resistência histórica. A dicotomia, a fissura, melhor dizendo, entre Gaza e a Cisjordânia, manipulada por Israel consoante os seus interesses, inicialmente com maior incidência sobre o Hamas, enraizou-se e ganhou mais eficácia ainda a partir do chamado «processo de paz» desencadeado pelos Acordos de Oslo de 1993. A direita israelita nunca aceitou este caminho de negociações e tudo fez para o sabotar, com apoio dos Estados Unidos, como «mediadores» e, em última instância, pela inércia ostensiva do chamado «quarteto para a paz» (Rússia, Estados Unidos, ONU e União Europeia), significativamente chefiado pelo aldrabão e criminoso de guerra Anthony Blair. Antes de assinarem os Acordos de Oslo, os dirigentes da OLP deveriam, afinal, ter lido Ben-Gurion: «Se eu fosse um dirigente árabe nunca assinaria um acordo com Israel; é natural, nós tirámos-lhes o país». A partir do momento em que Ariel Sharon e Benjamin Netanyahu reassumiram o poder em Israel, a seguir ao assassínio do primeiro-ministro trabalhista Isaac Rabin – do qual não estão inocentes devido à sua cumplicidade com os grupos de choque de colonos e milícias ortodoxas nas manifestações que culminaram com o crime – tudo mudou em relação ao «processo de paz». As manobras dilatórias das negociações tornaram-se norma e o processo estagnou numa fase de «meia autonomia» controlada pelo aparelho político e de segurança israelita. «A direita israelita nunca aceitou este caminho de negociações e tudo fez para o sabotar, com apoio dos Estados Unidos, como "mediadores", e, em última instância, pela inércia ostensiva do chamado "quarteto para a paz" (Rússia, Estados Unidos, ONU e União Europeia), significativamente chefiado pelo aldrabão e criminoso de guerra Anthony Blair.» As eleições e o processo político palestiniano delas decorrente definiu o cenário ideal para o programa divisionista de Israel: o governo da Autonomia instalado na Cisjordânia, com sede em Ramallah, nas mãos seculares da Fatah/OLP; e o Hamas islamita governando Gaza, onde obteve uma maioria esmagadora – vencendo, aliás, a consulta no conjunto da Palestina ocupada. Todas as tentativas para estabelecer um governo comum da autonomia palestiniana representando simultaneamente as duas regiões, e também Jerusalém Leste, fracassaram – excepto uma, efémera e que teve trágico fim. O mesmo aconteceu ao processo para realização de novas eleições: os mandatos políticos nas duas regiões caducaram há muito. Os palestinianos não vão às urnas desde 2007. Para todos os efeitos, a situação tornou-se propícia a uma dança de Israel com dois parceiros desavindos, jogando com as contradições destes e tirando proveito de cada uma delas. A retirada militar israelita de Gaza e a extinção dos colonatos locais em 2007, medidas tomadas pelo primeiro-ministro Ariel Sharon, foi um gesto importante em direcção do Hamas, «entregando-lhe» a Faixa de Gaza. De certa maneira um estatuto muito mais favorável que o do governo de Ramallah, da responsabilidade dos históricos OLP/Fatah, submetido à complexidade do «meio-acordo» aplicado às zonas A, B, C, que graduam a ocupação militar israelita e o seu tipo de interligação com as entidades autonómicas palestinianas. Em 2008, porém, surge uma grande crise na faixa «autónoma» de Gaza, através da operação «Chumbo Fundido», a primeira das vagas arrasadoras do território desencadeadas pelo exército israelita e que provocou milhares de mortos e feridos, destruições profundas e o agravamento das carências inerentes a uma região que já então estava cercada e transformada numa gigantesca prisão a céu aberto, com mais de dois milhões de detidos. Não é uma guerra, é um massacre de uma das partes; e o único cessar-fogo possível para a situação é o reconhecimento dos direitos do povo palestiniano estabelecidos nas leis internacionais. Enquanto o regime israelita continua a chacinar paulatinamente a população indefesa do campo de concentração em que transformou Gaza multiplicam-se os apelos ao «cessar-fogo» nesta suposta «guerra entre o Hamas e Israel», como afirma a comunicação social corporativa. É o habitual jogo de enganos que visa partilhar equitativamente responsabilidades numa situação de incomensurável desequilíbrio de forças e que pretende colocar no mesmo plano os criminosos e as vítimas. O que está a acontecer não é uma guerra, é um massacre de uma das partes; e o único cessar-fogo possível para a situação é o reconhecimento dos direitos do povo palestiniano estabelecidos nas leis internacionais. Tudo o resto significa o arrastamento da situação e o extermínio de um povo. «A colonização conduz, ninguém o duvide, à criação de uma situação no terreno que inviabiliza totalmente a criação do Estado Palestiniano, porque deixa de haver território para isso; entretanto, os bem-intencionados deste mundo, como os chefes da União Europeia, forçados a dizer qualquer coisa quando as imagens de extermínio não podem ser escondidas, continuam a falar em “solução de dois Estados para a Palestina”» O chefe do governo de Portugal, a exemplo de outros colegas europeus, diz que é necessária a paragem dos ataques de Israel. Belas palavras. E depois? «Para que possamos regressar a um ponto onde o caminho para a paz seja possível», assegura Costa. Palavras muito bem-intencionadas também, reproduzidas de um texto da agência Lusa onde se lê que «existe uma escalada de violência entre israelitas e palestinianos». Qual «caminho para a paz»? O conduzido pelo «Quarteto» chefiado pelo aldrabão profissional Anthony Blair e de que fazem parte a Rússia – manietada pelo veto norte-americano no Conselho de Segurança e por muitas e evidentes cumplicidades com Israel – a complacente União Europeia, o seu aliado norte-americano, cúmplice objectivo do crime no mínimo através do Conselho de Segurança, e também a ONU, entidade que, a reboque de Washington, cultiva a guerra para que dela floresça a paz? Ora este «caminho para a paz», quase sempre «arbitrado» pelos Estados Unidos, aliado da parte agressora, está barrado há muito por acção de Israel, que acusa o lado palestiniano de não ceder às suas exigências de rendição total. Enquanto continua a falar-se de «processo de paz» para que nada de pacífico aconteça, Israel tem recorrido a todos os métodos para inviabilizar uma solução compatível com o direito internacional, isto é, através da criação de um Estado Palestiniano viável, soberano e pleno. O mecanismo mais utilizado e mais eficaz – porque pode ser aplicado sem operações militares que dêem muito nas vistas, sob o silêncio da comunicação social dominante – é o da colonização dos territórios palestinianos ocupados através de uma gradual limpeza étnica com expulsão das populações, destruição de casas, roubo de terrenos, edificação de muros e até prosaicos actos de banditismo como a destruição de colheitas agrícolas. Enfim, a institucionalização de um sistema de apartheid. «Quando um dirigente político, seja ele qual for, fala em necessidade de “cessar-fogo” para regresso ao “caminho da paz” e não formula mecanismos e medidas que permitam à chamada comunidade internacional impor efectivamente a solução de dois Estados, está a ser cúmplice do comportamento criminoso do Estado de Israel. E a participar, no mínimo por omissão, num processo genocida» A colonização conduz, ninguém o duvide, à criação de uma situação no terreno que inviabiliza totalmente a criação do Estado Palestiniano, porque deixa de haver território para isso; entretanto, os bem-intencionados deste mundo, como os chefes da União Europeia, forçados a dizer qualquer coisa quando as imagens de extermínio não podem ser escondidas, continuam a falar em «solução de dois Estados para a Palestina» sabendo perfeitamente – como não pode deixar de ser – que está a ser percorrido não «um caminho para a paz» mas uma via para liquidar o objectivo inscrito no próprio «processo de paz». A guerra que existe é verdadeiramente esta: a do regime sionista contra o povo palestiniano pela liquidação total dos seus direitos, se necessário através do extermínio físico. Quando um dirigente político, seja ele qual for, fala em necessidade de «cessar-fogo» para regresso ao «caminho da paz» e não formula mecanismos e medidas que permitam à chamada comunidade internacional impor efectivamente a solução de dois Estados, está a ser cúmplice do comportamento criminoso do Estado de Israel. E a participar, no mínimo por omissão, num processo genocida. Num caso destes até o silêncio seria mais honesto. Acompanhando os ecos da comunicação corporativa sobre «a guerra entre o Hamas e Israel» ou a «escalada de violência entre israelitas e palestinianos» percebe-se que o conceito de «cessar-fogo» implícito é o da paragem dos bombardeamentos contra Gaza e também do lançamento de foguetes a partir da faixa cercada. Foguetes esses que são, na verdade, os únicos instrumentos através dos quais – perante a imobilidade internacional – sectores palestinianos fazem sentir a Israel que, apesar de tudo, não está completamente impune. Fisgas contra tanques ou foguetes contra tecnologia de guerra de última geração: estamos perante afirmações possíveis de existência e de resistência; nada que se pareça com um confronto entre dois exércitos. Sendo certo que cada vida perdida é uma vítima inútil de uma situação que as forças dominantes teimam em não resolver, a não ser através da aniquilação da outra parte, o cenário mediaticamente instituído de um falso equilíbrio permite-nos perceber até que ponto a comunicação social corporativa se deixou contaminar pelo conceito xenófobo cultivado pelo sionismo quanto à diferença de valor entre as vidas de cidadãos israelitas e árabes. «Se, por exemplo, os dirigentes da União Europeia – ainda que incomodando a administração Biden – experimentassem suspender as relações económicas e militares com Israel até que este país abrisse comprovadamente as portas à solução de dois Estados, talvez o cenário se alterasse. Afinal, suspender relações económicas e impor sanções a países terceiros já não constitui qualquer novidade para a União Europeia, predisposta assim a sofrer as respectivas consequências» A guerra de Israel contra os palestinianos iniciou-se muito antes desta nova fase da barbárie contra Gaza, há mais de setenta anos, e irá prosseguir se o «cessar-fogo» determinar apenas que se calem agora as armas e não for além disso, impondo a Israel medidas completas para que se cumpra de uma forma viável e com um conteúdo plenamente soberano a solução de dois Estados na Palestina. Caso contrário, o fim da actual ofensiva contra Gaza significará a continuação da colonização, do cerco contra a pequena e sobrelotada faixa, da limpeza étnica, das expulsões em Sheik Jarrah e, uma após outra, em todas as comunidades palestinianas de Jerusalém ou da Cisjordânia. Até ao próximo ataque contra Gaza se os palestinianos ousarem exercer activamente o seu direito à existência e à resistência. Um exemplo de como Israel é completamente imune às palavras inconsequentes dos seus amigos e aliados sempre que as imagens da chacina tornam impossível o silêncio é a demolição premeditada do edifício da agência Associated Press (AP) em Gaza. A Israel não será difícil responder a Biden, forçado a perguntar sobre os motivos de tal atitude: o edifício daria acesso aos «túneis do Hamas» ou serviria até de «escudo humano» para o grupo fundamentalista islâmico palestiniano. Uma organização que ganhou vida – é oportuno recordá-lo – com apoio sionista quando se tornou importante dividir o movimento do primeiro Intifada, em finais dos anos oitenta, iniciado precisamente em Gaza. As forças armadas sionistas que participam em exercícios atlantistas são as mesmas que fazem jorrar o sangue de civis indefesos na Palestina, impedidos de escapar às suas bombas. Israel está a cometer mais um acto de apogeu da chacina a que tem vindo a submeter impunemente a população da Faixa de Gaza – e da Palestina em geral – durante as últimas décadas. Os alvos não são «os túneis do Hamas», como informa o regime sionista, mas dois milhões de pessoas que vivem enclausuradas num imenso campo de concentração do qual não podem escapar. Não se trata de um «confronto»: é uma barbárie. Algumas notas sobre o que está a passar-se. A Faixa de Gaza e a respectiva população são um alvo que Israel tem sempre à mão quando necessita de recorrer a manobras de diversão por causa da degradação política interna, como acontece no momento actual, em que se misturam a prolongada indefinição governativa, a corrupção a alto nível do regime e a polémica gestão da pandemia – por sinal, insolitamente elogiada no plano internacional. «A Faixa de Gaza e a respectiva população são um alvo que Israel tem sempre à mão quando necessita de recorrer a manobras de diversão por causa da degradação política interna, como acontece no momento actual» Os dirigentes sionistas não duvidam, nem por um instante, de que podem utilizar o instrumento da guerra contra Gaza porque sabem que a chamada comunidade internacional o permite. As instâncias internacionais, com a ONU à cabeça, e as grandes potências, com destaque para os Estados Unidos e a União Europeia, permitem tudo a Israel sem assumir uma única medida para conter a barbárie. Há mais de 70 anos que a comunidade internacional se vem dotando de instrumentos legais para fazer respeitar os direitos inalienáveis do povo palestiniano e há mais de 70 anos que eles são interpretados como letra morta. Este comportamento é um incentivo à discricionariedade de Israel; e Israel aproveita-o consoante as suas conveniências sabendo que nada de mal lhe acontecerá e nenhuma reacção irá além do apelo à «moderação» e a um «cessar-cessar entre as partes». Isto é, entre uma «parte» que pode tudo e uma «parte» que sofre tudo. Os foguetes do Hamas são irrelevantes quando comparados com o aparelho de guerra usado pelo regime sionista. A actuação da comunidade internacional na questão israelo-palestiniana é o exemplo mais flagrante da sua permanente utilização do sistema de pesos e medidas variáveis. Isolada pela comunidade internacional em geral, a Palestina conta cada vez menos com a solidariedade do chamado mundo árabe. Sob a égide da administração Trump nos Estados Unidos, países árabes como os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein juntaram-se recentemente ao Egipto na normalização das relações com Israel, o que significa abandonar a defesa dos direitos dos palestinianos. Acresce que existem, de facto, relações diplomáticas entre o Estado sionista e a Arábia Saudita, encimadas pela amizade e afinidades entre o primeiro-ministro Netanyahu e o herdeiro do trono wahabita, Mohammed Bin Salman. Uma aliança sobre os escombros da Palestina. «Há mais de 70 anos que a comunidade internacional se vem dotando de instrumentos legais para fazer respeitar os direitos inalienáveis do povo palestiniano e há mais de 70 anos que eles são interpretados como letra morta. Este comportamento é um incentivo à discricionariedade de Israel» Na prática, a solidariedade árabe nunca desempenhou um papel que permitisse a criação de um Estado palestiniano, como determinam as normas e a doutrina estabelecidas pela comunidade internacional. O reconhecimento de Israel por cada vez mais países árabes, porém, reforça a ideia de que o problema palestiniano poderá ter outras «soluções» que não sejam a criação de um Estado palestiniano independente, viável e plenamente soberano. Por outro lado, as relações entre países árabes e Israel transformam cada vez mais o Estado sionista numa entidade plenamente integrada no Médio Oriente, dando assim forma ao arranjo pretendido pelos Estados Unidos de uma região com duas potências dominantes – Israel e Arábia Saudita –, ambas viradas contra o Irão. O novo pico de guerra de Israel contra Gaza não pode desligar-se dos permanentes esforços de Israel para tentar provocar uma guerra directa contra o Irão – à qual as administrações norte-americanas ainda têm resistido. A ofensiva supostamente «contra o Hamas» – grupo que Israel liga a Teerão apesar de ser sunita e não xiita – acontece no preciso momento em que a administração Biden ainda não definiu se regressa ou não ao acordo nuclear 5+1 com o Irão. A mensagem israelita é directa: apoiando grupos activos no Médio Oriente, como o Hezbollah no Líbano e na Síria e o Hamas na Palestina, o Irão terá de ser desencorajado de o fazer. E os acordos com Teerão têm de ser invalidados. Por muito que possam vir a proclamar verbalmente o contrário, os Estados Unidos e a União Europeia estão por detrás de mais esta chacina israelita em Gaza. Se em relação a Washington não existe qualquer dúvida, tanto mais que o aparelho do Partido Democrata no poder é o que está mais sintonizado com os interesses dominantes do sionismo, poderão levantar-se reticências em relação ao papel da União Europeia. «a prática de Bruxelas e dos 27 é objectivamente favorável às atitudes assumidas por Israel, sejam elas quais forem: nada fazem para que seja concretizada a solução de dois Estados na Palestina, mantêm relações económicas e políticas preferenciais com Israel e não assumem nas instâncias internacionais qualquer posição contra as atitudes militares extremas do sionismo» O que não tem qualquer razão de ser. Apesar de algumas declarações de distanciamento, como foi o caso por ocasião da transferência da embaixada norte-americana para Jerusalém, a prática de Bruxelas e dos 27 é objectivamente favorável às atitudes assumidas por Israel, sejam elas quais forem: nada fazem para que seja concretizada a solução de dois Estados na Palestina, mantêm relações económicas e políticas preferenciais com Israel e não assumem nas instâncias internacionais qualquer posição contra as atitudes militares extremas do sionismo. Antes pelo contrário: Israel é um parceiro activo da NATO – que rege a União Europeia do ponto de vista militar – e está mesmo envolvido nos exercícios em curso na Grécia e no Mar Egeu no quadro dos jogos de guerra «Defender Europe». Isto é, as forças armadas sionistas que participam em exercícios atlantistas são as mesmas que fazem jorrar o sangue de civis indefesos na Palestina, impedidos de escapar às suas bombas. Uma aliança que dizima vidas e direitos humanos. A mensagem de Israel com esta nova operação de barbárie é directa: nada fará parar o sionismo no seu objectivo de limpar e submeter etnicamente a Palestina e de impedir qualquer tentativa, por débil que seja, de implementar a solução de dois Estados. O instrumento para concretizar esse objectivo é a colonização ininterrupta dos territórios da Cisjordânia – a par do cerco férreo a Gaza – de maneira a estender a ocupação, inviabilizar as possibilidades territoriais de instaurar um Estado e quebrar a resistência nacional palestiniana. «a operação militar sionista assumiu as já conhecidas proporções de punição colectiva. Contando, para isso, com a habitual impunidade que lhe é assegurada pelas instâncias internacionais. De facto, Israel usa o terrorismo para impor a lei do mais forte sabendo que encontrará pouca oposição e condenação nenhuma» Nas últimas semanas o regime sionista expulsou mais famílias e arrasou as suas habitações no bairro de Sheik Jarrah, em Jerusalém Leste, no quadro da «limpeza» de todos os palestinianos da cidade. Acontece que a ofensiva encontrou forte resistência da população atingida, sinal de que, apesar de isolados internacionalmente, os palestinianos não estão dispostos a abdicar dos seus direitos. Uma vez que Gaza respondeu à agressão e da Faixa de Gaza foram disparados foguetes contra território israelita, a operação militar sionista assumiu as já conhecidas proporções de punição colectiva. Contando, para isso, com a habitual impunidade que lhe é assegurada pelas instâncias internacionais. De facto, Israel usa o terrorismo para impor a lei do mais forte sabendo que encontrará pouca oposição e condenação nenhuma. A nova fase da chacina contra Gaza e da limpeza étnica da Cisjordânia é, afinal, mais um passo no sentido de um desfecho que inviabilize de vez a solução de dois Estados na Palestina. Ao mesmo tempo que este princípio vai sendo invocado como um mantra cada vez mais vazio de significado pelos que insistem em dizer-se defensores das leis internacionais e dos direitos humanos. Enquanto isto, continuam a morrer inocentes indefesos e a Nakba, o holocausto palestiniano, prossegue, dia após dia, sob os olhos e a passividade do mundo. Até ao último dos palestinianos. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Israel poderá ainda dizer que não fez nada que a NATO não tenha executado por exemplo em Belgrado, em 1999, quando bombardeou e destruiu o edifício da televisão jugoslava. É certo que a AP tem prestado permanentes e bons serviços ao regime sionista, tal como as outras principais agências internacionais de informação. E não será este aparentemente inusitado bombardeamento que irá interromper a sua fidelidade para com Israel. O governo israelita está seguro disso – é a ordem natural das coisas. Para interrompê-la de maneira favorável ao reconhecimento dos direitos dos palestinianos seria necessário muito mais do que as rotineiras palavras de inquietação e um «cessar-fogo» transitório. Nem tanto. Se, por exemplo, os dirigentes da União Europeia – ainda que incomodando a administração Biden – experimentassem suspender as relações económicas e militares com Israel até que este país abrisse comprovadamente as portas à solução de dois Estados, talvez o cenário se alterasse. Afinal, suspender relações económicas e impor sanções a países terceiros já não constitui qualquer novidade para a União Europeia, predisposta assim a sofrer as respectivas consequências. De um ponto de vista objectivo, não haverá país tão merecedor de tais medidas como Israel, pelo menos tendo em conta palavras proferidas de quando em vez por alguns dirigentes europeus. Fazer sentir aos chefes sionistas que a barbárie tem um preço a pagar seria a maneira de lhes proporcionar um inesperado encontro com uma nova realidade e as consequências dos seus comportamentos cruéis. E seria, sobretudo, um caminho para o fim de uma tragédia humana, não apenas em Gaza mas também na Cisjordânia e até em Israel, onde os dirigentes se debatem com uma interminável crise governativa e mesmo – eles o dizem – com os riscos de «uma guerra civil». José Goulão, exclusivo O Lado Oculto/AbrilAbril Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Em Ramallah, porém, eram cada vez mais nítidos os sinais de dependência das autoridades palestinianas em relação ao poder israelita. O aparelho sionista manietava o núcleo mais histórico e popular da resistência palestiniana e tornava-o até responsável pela repressão do seu próprio povo perante manifestações e movimentos «não oficiais». Neste quadro, o ritmo da colonização israelita da Cisjordânia e Jerusalém Leste cresceu vertiginosamente, flagelando e delapidando populações isoladas, reprimidas, sem apoio concreto e eficaz dos seus dirigentes. Os casos de resistência contra demolições de casas, destruição de propriedades, roubos de colheitas e de expulsão de famílias inteiras para outras regiões ou para o estrangeiro eram e continuam a ser sumariamente combatidos e destroçados, todos os dias, pela violência dos colonos com apoio das forças policiais e militares sionistas. Na única ocasião em que Ramallah e Gaza chegaram a um princípio de acordo sobre um governo comum, em Junho de 2014, Israel encontrou pretextos para uma nova grande operação de bombardeamento contra Gaza, seguida de invasão parcial. Mais de 2500 palestinianos foram assassinados e, no rescaldo da matança, extinguiu-se a hipótese de governo comum. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. «Agir em conformidade» é, como testemunhamos, massacrar metodicamente a população da Faixa de Gaza, replicando práticas dos nazis nos campos de concentração, mas usando métodos mais sofisticados porque Hitler não tinha caças F-16, drones ou artefactos teleguiados que não erram a pontaria, nem mesmo quando miram hospitais. Que afinal, para o regime ocupante de Israel, são muito mais do que hospitais. Hananya Naftali, uma assessora de comunicação de Benjamin Netanyahu, explicou nas redes sociais que «as Forças Armadas de Israel bombardearam uma base terrorista do Hamas dentro de um hospital (al-Ahli) em Gaza; vários terroristas foram mortos». Entre os dirigentes ocidentais não falta quem faça eco da argumentação humanista praticada em Telavive. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, foi igualmente ao encontro de Netanyahu, a quem incentivou dizendo que «estamos a assistir a uma batalha entre a civilização e os monstros bárbaros, um teste de civilidade»; e «o senhor é capaz de a conduzir da melhor maneira, porque somos diferentes desses terroristas». Não é à toa que o chefe do governo israelita assegura que «Israel é um posto avançado da civilização ocidental num mar de barbárie». Nada mais do que a versão sionista da inspirada tese do chefe da «política externa» da União Europeia, Josep Borrell, quando garante que a Europa «é um jardim cercado pela selva do resto do mundo». Já o retirado presidente norte-americano George W. Bush reforçara as mentiras em que assentou a invasão do Iraque argumentando que esse episódio era uma peça da luta «entre a civilização e a barbárie». «"Agir em conformidade" é, como testemunhamos, massacrar metodicamente a população da Faixa de Gaza, replicando práticas dos nazis nos campos de concentração mas usando métodos mais sofisticados porque Hitler não tinha caças F-16, drones ou artefactos teleguiados que não erram a pontaria, nem mesmo quando miram hospitais.» Joseph Biden, naturalmente, guarda esse conceito no seu espólio político porque, apesar de ser um pilar do Partido Democrático, foi um dos principais apoiantes do republicano Bush nas façanhas do Afeganistão e do Iraque, assumindo depois pessoalmente as piedosas missões «civilizacionais» na Líbia, na Síria, no golpe ucraniano, então como vice-presidente de Obama. Daí que, no recente regresso do Médio Oriente, tenha ainda recomendado aos seus compatriotas que «se ouvirem descrever um palestiniano segundo a terminologia de filho ou filha necessitando desesperadamente de assistência médica então devem ficar cientes de que essa mensagem foi especificamente projectada para criar empatia». Ora, a sintonia ocidental com Israel nestes assuntos chega a ser empolgante. O presidente israelita, Isaac Herzog, considera que «não é verdade essa retórica de que os civis não estão envolvidos (no terrorismo do Hamas); isso não é absolutamente verdade porque poderiam ter-se levantado, poderiam ter lutado contra esse regime maligno que tomou Gaza através de um golpe de Estado». Ora, o chefe sionista sabe que está a mentir. O governo de Gaza foi instalado democraticamente porque resultou de eleições consideradas legítimas até pelos Estados Unidos, mas quem irá agora incomodar-se com esse pormenor? Um «regime maligno» que tem algumas particularidades no relacionamento com o regime sionista, cuidadosamente silenciadas nas declarações oficiais do presidente Herzog mas cujas repercussões permanecem vivas na memória de outros responsáveis ou ex-responsáveis do regime. «O governo de Gaza foi instalado democraticamente porque resultou de eleições consideradas legítimas até pelos Estados Unidos, mas quem irá agora incomodar-se com esse pormenor?» «O Hamas, para meu grande pesar, é criação de Israel», confessou Avner Cohen, ex-funcionário de assuntos religiosos israelita em entrevista publicada no Wall Street Journal, em 2009. «Quando olho para trás na cadeia de acontecimentos, acho que cometemos um erro; mas na época ninguém pensou nos possíveis resultados», revelou David Hacham, especialista em assuntos árabes do exército de Israel. O tema, porém, não ficou «lá atrás»: em 2019, Benjamin Netanyahu disse ao grupo parlamentar do seu partido, o Likud, que era necessário continuar a «apoiar e financiar» o Hamas para manter a divisão entre os palestinianos e a secessão entre a Cisjordânia e Gaza. Em recente reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas, o primeiro-ministro de Israel exibiu um mapa do seu país do qual desapareceram a Cisjordânia, Jerusalém Leste e a Faixa de Gaza. Israel confunde-se com a Palestina histórica. Qualquer chefe de delegação de qualquer país, mesmo que não estivesse atento à aparente bazófia do chefe sionista, concluiria que a manobra representava um requiem pela solução de dois Estados, exactamente no principal fórum da instituição que criou a solução de dois Estados. Nas chancelarias dos países ocidentais, nos truculentos bastidores de Borrell não se ouviu uma palavra, um pio, sobre a provocação de Netanyahu. Mas quando em 7 de Outubro, numa manobra desenvolvida em condições improváveis e intrigantes, o Hamas atacou zonas de Israel, manchando com terrorismo repugnante uma resistência popular que dura há 75 anos, nos países em que assenta a «civilização ocidental» o coro da indignação reagiu afinado tomando as dores de Israel – um coro que jamais assumira o martírio e o sofrimento palestinianos. E que nunca levou a sério os seus direitos. Quando as luzes das bandeiras de Israel se acenderam enfaticamente na Torre Eiffel, no 10 de Downing Street, no Empire State Building, na cobertura do Estádio de Wembley, nas Portas de Brandenburgo já o governo sionista lançara a sua vingança sanguinária, agravando de forma drástica e ainda mais cruel a punição colectiva a que há anos estão submetidos os 2,3 milhões de habitantes da Faixa de Gaza, tornando-os reféns de uma implacável máquina de morte patrocinada e alimentada pelos Estados Unidos e a NATO. «Portugal está com Israel», proclamou o primeiro-ministro António Costa; «só há um lugar para a Alemanha, que é ao lado de Israel», sentenciou o chanceler Olaf Scholz. Borrell e Van der Leyen disputaram renhidamente a oportunidade de serem os primeiros a fazer sentir que a União Europeia «está com Israel»; e depois engalfinharam-se com a mesquinhez inerente aos autocratas imbecis. Não é opção, é uma ordem «baseada em regras»: a lei do «excepcionalismo» de âmbito planetário gerido pela única nação «indispensável». E dizem os comentadores autorizados que não existe imperialismo. Os nossos dirigentes, tanto os que têm envergadura imperial como os seus súbditos, para quem a soberania nacional é coisa arcaica própria de mentes estagnadas, repetem sem descanso, martelando a cabeça dos cidadãos como no método tradicional de ensino da tabuada, que agimos em função dos «nossos valores partilhados». Nós, o garboso Ocidente, senhores do planeta e dos espaços siderais por mandato divino e usucapião fundado em séculos de expansão e extorsão, assim administrando a «civilização». «Nossos valores partilhados» nas bocas dos fundamentalistas ocidentais é todo um programa de dominação, um conceito de ordem mundial assente num único poder centralizado com ambição a tornar-se global e incontestado. Se olharmos o mundo à nossa volta nestes dias assustadores, equipados com lucidez, independência de raciocínio e dose cada vez mais elevada de coragem, concluiremos que a aplicação desses «valores» – a palavra certa é imposição – funciona como um gigantesco exercício de manipulação que transforma princípios universais, humanos, inquestionáveis e comuns a muitas e diversificadas culturas num poder minoritário, de índole mafiosa e níveis de crueldade que vão da mentira institucionalizada à generalização da guerra, passando pelo roubo como forma de governo e de administração imperial/colonial. A este aparelho que pretende impor uma realidade paralela àquela em que vivemos chama-se «ordem internacional baseada em regras», um catálogo de normas de comando voláteis, casuísticas, não escritas e a que todo o planeta deve obedecer cegamente, sem se interrogar nem defender. «Ordem internacional baseada em regras» é o código imperial que veio soterrar o direito internacional e transformar as organizações mundiais que devem aplicá-lo em órgãos que rodopiam à mercê das «regras» de cada momento, manipulados, desvirtuados e instrumentalizados segundo as conveniências do funcionamento da realidade paralela. Poucos princípios preenchem tanto as prédicas dos dirigentes mundiais e seus apêndices às escalas regional e nacional do que liberdade e democracia. Uma liberdade para expandir globalmentee, porém com uma definição muito específica e padrões limitados pelas «regras» da única ordem internacional permitida. A liberdade prevalecente, e que condiciona todas as outras, acaba por ser a da propriedade privada e da inexistência de restrições ao funcionamento do mercado. Todas as restantes alavancas que devem fazer funcionar o mundo assentam neste princípio inquestionável que faz da justiça social uma aberração, transforma em servos a grande maioria dos seres humanos, converte as organizações internacionais e a generalidade dos governos nacionais em instrumentos dos casinos financeiros e das oligarquias económicas sem pátria, fronteiras ou limites comportamentais. Uma liberdade condicionada pela ditadura do lucro e a vassalagem ao dinheiro. Este conceito dominante de liberdade, a liberdade de extorsão própria da realidade em que de facto vivemos, é desde há muitos séculos um alicerce da «civilização» ocidental – a única reconhecida para efeitos de relações internacionais. A ordem «baseada em regras» é extremamente exigente e vigilante em relação a esta mãe de todas as liberdades e, se necessário for, não hesita em recorrer à guerra para a restaurar lá onde estiver ameaçada. «Todas as restantes alavancas que devem fazer funcionar o mundo assentam neste princípio inquestionável que faz da justiça social uma aberração, transforma em servos a grande maioria dos seres humanos, converte as organizações internacionais e a generalidade dos governos nacionais em instrumentos dos casinos financeiros e das oligarquias económicas sem pátria, fronteiras ou limites comportamentais.» Com a democracia acontece mais ou menos a mesma coisa. Só existe um único formato que permite instituir o «poder do povo», mesmo que depois o povo em nada se identifique e beneficie com a interpretação da sua vontade que dela fazem os eleitos. É mais ou menos assim, segundo o padrão «representativo» determinado pelo Ocidente: de x em x anos criam-se festivais ditos políticos onde vigoram a violação tácita da igualdade de exposição de opiniões, a manipulação da informação e das chamadas «sondagens» e a divisão ostensiva e «institucionalizada» entre os partidos com «vocação para governar» e os outros; ensinados assim a «decidir», as maiorias de eleitores escolhem em «liberdade» os seus preferidos, garantidamente aqueles aplicam a doutrina oficial «democrática», nestes tempos o capitalismo na sua arbitrariedade plena, o neoliberalismo. Exemplo desta democracia no seu grau máximo de evolução é a União Europeia: neste caso os cidadãos nem precisam de «escolher» os dirigentes máximos da organização, simplesmente nomeados para não haver erros nem desvios à doutrina governativa oficial e única; e supondo que os eleitores «escolhem» directamente o Parlamento Europeu, este tem poderes limitados para não perturbar o trabalho arbitrário dos não eleitos ao serviço dos seus patrões. Quanto aos Estados Unidos, o paradigma democrático a que deve obedecer-se num mundo unipolar, a escolha imposta aos cidadãos limita-se a dois aparelhos mafiosos de poder que agem em formato de partido único. Sendo esta a democracia que funciona como farol, segundo as sentenças abalizadas dos mestres da opinião única, todas as outras devem seguir tendencialmente o mesmo caminho. Não é opção, é uma ordem «baseada em regras»: a lei do «excepcionalismo» de âmbito planetário gerido pela única nação «indispensável». E dizem os comentadores autorizados que não existe imperialismo. Daí que os praticantes da democracia ocidental, a única, tenham ainda como missão fiscalizar os exercícios democráticos através do mundo. Por isso a União Europeia, por exemplo, arroga-se o direito de «aceitar» ou não os referendos nos quais as populações do Donbass decidiram juntar-se à Rússia. «A ordem "baseada em regras" é extremamente exigente e vigilante em relação a esta mãe de todas as liberdades e, se necessário for, não hesita em recorrer à guerra para a restaurar lá onde estiver ameaçada.» Trata-se, afinal, de aplicar o princípio de reconhecer as eleições e consultas populares que dão o resultado pretendido pelo Ocidente e rejeitar as outras cujos eleitores decidiram de forma não tolerada pelos vigilantes da ordem internacional, como se tivessem violado as «regras» mesmo cumprido os mecanismos processuais das votações instituídos como únicos. É à luz desse entendimento discriminatório que os Estados Unidos e os seus satélites não reconhecem resultados eleitorais na Venezuela, na Nicarágua, na Rússia, por exemplo, mas assinam por baixo a legitimidade de fraudes como nas Honduras, de golpes como no Brasil, Paraguai, Bolívia, Ucrânia, Paquistão (só alguns dos mais recentes) ou a designação como presidentes de indivíduos que nem sequer concorreram a eleições – o caso de Juan Guaidó na Venezuela. A democracia ocidental é, como se prova, bastante elástica em casos que chegam a roçar o absurdo e muito restritiva no reconhecimento de actos eleitorais legítimos, porém menos convenientes para os interesses dos «excepcionalismo». É uma questão de exercício do poder internacional que o Ocidente julga possuir à luz de «regras» casuísticas determinadas consoante os interesses de uma «civilização» que não envolve mais de 15% da população mundial. «É à luz desse entendimento discriminatório que os Estados Unidos e os seus satélites não reconhecem resultados eleitorais na Venezuela, na Nicarágua, na Rússia, por exemplo, mas assinam por baixo a legitimidade de fraudes como nas Honduras, de golpes como no Brasil, Paraguai, Bolívia, Ucrânia, Paquistão (só alguns dos mais recentes) ou a designação como presidentes de indivíduos que nem sequer concorreram a eleições – o caso de Juan Guaidó na Venezuela.» Recorrendo a exemplos muito actuais, eis como a «democracia ocidental» é peculiar no próprio Ocidente. Robert Habeck, ministro da Economia da Alemanha, colosso cada vez mais reduzido a um tapete de Washington, garante que não lhe interessa a opinião do eleitorado, o essencial é que a Rússia seja derrotada pela Ucrânia. E Josep Borrell, o «ministro dos negócios estrangeiros» da União Europeia, que ninguém elegeu, determina que os cidadãos europeus «têm de pagar o preço» necessário para «derrotar a Rússia». Ora aqui estão «regras» que corrigem a própria democracia padrão. O mesmo Borrell, espanhol e também socialista, é claríssimo na interpretação dos «nossos valores partilhados». Considera que na vida internacional há, evidentemente, «dois pesos e duas medidas»: os nossos, os «correctos», e os dos outros, atributos daquilo que George W. Bush qualificou como «a barbárie». Pedra de toque dos «nossos valores partilhados», os direitos humanos traçam a grande fronteira entre o Ocidente «civilizado» e os outros – 85% da população mundial. Direitos humanos são, por sinal, valores que ilustram a preceito a tese de Borrell sobre dois pesos e duas medidas: nós sabemos o que são direitos humanos, os outros não. «E Josep Borrell, o «ministro dos negócios estrangeiros» da União Europeia, que ninguém elegeu, determina que os cidadãos europeus «têm de pagar o preço» necessário para "derrotar a Rússia". Ora aqui estão "regras" que corrigem a própria democracia padrão.» Os principais acontecimentos da actualidade permitiram até refinar o conceito de direitos humanos a partir da clarificação entre seres humanos e entes sub-humanos – distinção baseada nas práticas de Volodimyr Zelensky, por sua vez inspirada nos conceitos purificadores de Stepan Bandera e seus pares, pais e heróis do regime ucraniano de Kiev, no seu tempo colaboradores dos nazis alemães em massacres de dezenas de milhares de seres humanos – talvez deva escrever-se sub-humanos. As nações europeias dançam a música tocada por Zelensky segundo partitura das «regras» de Washington, para que os russos do Donbass e os russos em geral, sub-humanos por definição dos nazis que mandam em Kiev, sejam devidamente sacrificados tal como vinha a acontecer, metodicamente, como resultado de uma guerra iniciada há oito anos. A «democracia ocidental» apostando o que tem e não tem, a própria vida dos cidadãos por ela regidos, para que um regime nazi liquide sub-humanos é um cenário apropriado para quem defende os direitos humanos acima de tudo? É o aval para a conversão do nazismo à democracia ou, antes de tudo, a demonstração de que a «democracia ocidental» segue na direcção do inferno do fascismo? O que nada tem de ilógico, pois foi o fascismo que embalou no berço a ditadura neoliberal que dá forma ao regime financeiro-económico-político dominante em termos internacionais, exercido com ambições globalistas e totalitárias e que, em última instância, dita a «ordem internacional baseada em regras». Governantes, comentadores, analistas e outros formatadores da opinião única incomodam-se quando, a propósito da situação no Donbass, se recordam as atrocidades cometidas pelos Estados Unidos e a NATO, ou respectivos braços mais ou menos informais, nas guerras – algumas delas «humanitárias» – levadas até à Jugoslávia, Afeganistão, Iraque, Somália, Líbia, Síria, Iémen. Sem esquecer o caso exemplaríssimo do Kosovo, onde os Estados Unidos e a União Europeia praticaram uma secessão territorial sem qualquer consulta às populações envolvidas e entregaram o governo a terroristas fundamentalistas islâmicos especializados em múltiplos tráficos, todos eles rigorosamente respeitadores dos direitos humanos, como está comprovado. A arrogância, o autoconvencimento suicida e a subserviência doentia dos dirigentes da União Europeia perante o diktat norte-americano transformou a guerra na Ucrânia no acontecimento fatal para a comunidade. A Europa Ocidental tem apenas mais 20 a 30 anos de democracia; depois disso deslizará sem motor e sem leme sob o mar envolvente da ditadura (…) Willy Brandt, polémico mas suficientemente lúcido para não fechar pontes em plena guerra fria, era um estadista, espécie entretanto desaparecida como os dinossauros. Governou nos tempos em que se pensava existir uma coisa chamada «social-democracia», que durante as últimas décadas também «deslizou sem motor e sem leme» para a selvajaria neoliberal, a ditadura da economia sobre a política, passo decisivo para a extinção da democracia – como estamos a perceber. Brandt não era um bruxo; limitou-se a reflectir sobre perspectivas a médio prazo com base na percepção, leitura objectiva das realidades, experiência e intuição que não lhe faltavam porque era um praticante de política, actividade que é um direito geral de cidadania entretanto «promovida» a uma espécie de «ciência oculta» actualmente apenas ao alcance de uma seita de predestinados com capacidade para governar, dominada pela arrogância, a frieza desumana, a irresponsabilidade e a mediocridade, particularidades afinal essenciais num regime autoritário. «A guerra na Ucrânia, efectivamente travada entre a NATO e a Rússia, contribuiu para trazer à superfície os sinais inequívocos da ascensão da ideia de um mundo polifacetado no qual direitos nacionais plenos até agora violentamente reprimidos pelos poderes coloniais e imperiais do Ocidente se afirmam de modos bastante concretos, operacionais e explícitos. Esse é o combate existencial do nosso tempo» As palavras do antigo chanceler alemão, proferidas pouco antes de deixar o cargo, projectam-se na actualidade de maneira tão evidente como inquietante. Acertam em cheio no «deslizamento» da Europa para a ditadura política, completando-se assim o cenário aberto pelo totalitarismo da economia (ditadura do mercado), embora mantendo aparências formais em matéria de direitos cívicos, entretanto ferozmente vigiados e combatidos passo-a-passo por meios antidemocráticos. Esta Europa, desde que assumiu a forma dominante de União Europeia como expressão do poder oligárquico e braço político da NATO, reforça a visão etnocentrista de uma pax imperial assente em nações «aliadas» orientadas pelo dogma mítico segundo o qual a paz generalizada será encontrada como resultado final de múltiplas guerras «defensivas» e «humanitárias». O chamado Ocidente criará assim as condições propícias para a implantação do globalismo neoliberal, de preferência gerido por um governo único e obviamente totalitário tal como postulam há muito o veterano guru imperialista Henry Kissinger, o conspirativo Grupo de Bilderberg e mais recentemente o Fórum Económico Mundial, instrumento das oligarquias sem pátria que representam menos de um por cento da população mundial e dos expoentes políticos que as servem. Os fundamentos deste modelo imperial pressupõem a continuação do funcionamento inquestionável de uma ordem unipolar mundial, ou «ordem internacional baseada em regras» dirigida de Washington e contornando o direito internacional reconhecido pela esmagadora maioria das nações do mundo. Para a garantir existem 800 bases militares norte-americanas distribuídas pelo mundo, reforçadas com o policiamento permanente dos mares, uma estrutura que tem um papel indispensável na pretendida «globalização da NATO». «Daí os esforços necessários para criar e aproveitar cada oportunidade de paz. Embora a «paz» esteja proscrita e os seus defensores sejam olhados como perigosos dissidentes da narrativa única própria de uma ditadura como a que, há quase meio século, o ex-chanceler alemão Willy Brandt anteviu para a Europa» Apesar disso, essa ordem sente-se ameaçada. A guerra na Ucrânia, efectivamente travada entre a NATO e a Rússia, contribuiu para trazer à superfície os sinais inequívocos da ascensão da ideia de um mundo polifacetado no qual direitos nacionais plenos até agora violentamente reprimidos pelos poderes coloniais e imperiais do Ocidente se afirmam de modos bastante concretos, operacionais e explícitos. Esse é o combate existencial do nosso tempo, em que a ideia do «fim dos Estados-nação» de que se apropriou a oligarquia globalista sem pátria se confronta com a crescente afirmação de relações mais justas e igualitárias entre nações soberanas, independentemente dos seus sistemas políticos. E não, soberanismo não se confunde com nacionalismo e muito menos com populismo. Como é próprio dos conflitos existenciais, sobretudo este que envolve capacidades e estratégias de extermínio global, a situação actual é aterradora. As declarações de um e outro lado encarando a hipótese «limitada» de recurso a esse tipo de armas revelam a irresponsabilidade, a inconsciência e até a loucura sociopata de quem as profere. Sabendo nós que não se trata de casos isolados e de simples ameaças, mas de balões de ensaio induzindo a ideia de que as partes em confronto estão indisponíveis para comprometer-se com a rejeição do uso desses «argumentos» fatais para a humanidade. Daí os esforços necessários para criar e aproveitar cada oportunidade de paz. Embora a «paz» esteja proscrita e os seus defensores sejam olhados como perigosos dissidentes da narrativa única própria de uma ditadura como a que, há quase meio século, o ex-chanceler alemão Willy Brandt anteviu para a Europa. As ditaduras, porém, são absolutistas mas não absolutas. Existem sempre meios de as driblar e derrotar se houver vontade e união para isso. A primeira grande vítima do combate de âmbito global em curso é a União Europeia. Morreu, mas ninguém a informou disso. O seu monstruoso aparelho burocrático e autoritário em modo de realidade paralela funciona em piloto automático, agora definitivamente orientado de Washington, como intermediário privilegiado do tráfego – e tráfico – de armas para alimentar a guerra na Ucrânia; e também como esbirro federalista dos povos do continente às ordens da insaciável oligarquia neoliberal. A União Europeia desapareceu enquanto comunidade com identidade própria, que nunca foi muita. Teve uma síncope na crise financeira de 2008, que procurou combater através da tortura de países governados por apátridas invertebrados e com recurso a instrumentos coloniais. Esteve novamente à beira da morte em 2019 com a hecatombe do pretenso combate colectivo contra a Covid, mais um episódio de salve-se quem puder, cada um por si. Não havendo duas sem três, a União Europeia finou-se agora devido ao comportamento na guerra da Ucrânia convertendo-se, sem reservas nem reticências e com muito afã, num indisfarçado instrumento de mão de Washington e numa ramificação menor da NATO. Já aplanara o caminho nessa direcção há oito anos, ao comparticipar na entronização golpista de um regime nazi em Kiev. «A primeira grande vítima do combate de âmbito global em curso é a União Europeia. Morreu, mas ninguém a informou disso. O seu monstruoso aparelho burocrático e autoritário em modo de realidade paralela funciona em piloto automático, agora definitivamente orientado de Washington» Hoje, o zombie da União Europeia já nem se debate no poço sem fundo em que caiu devido ao modo como abordou a questão ucraniana. A führer Van der Leyen, plagiadora da sua tese de medicina, eleita a pior ministra da Defesa de sempre na Alemanha e admiradora confessa de Erwin Rommel, marechal de campo de Hitler na sua conveniente vertente mítica «anti-III Reich», insiste em cumprir as ordens do decadente presidente Biden para liquidar os ucranianos e arrasar a Ucrânia. O seu escudeiro socialista Borrell, cada vez mais ridicularizado mas sempre perigoso, deveria fazer um voto de silêncio para não agravar ainda mais a situação. É por estes caminhos que a Comissão Europeia, entidade não eleita que gere uma estrutura desumana e feroz sobretudo contra os mais desfavorecidos, caminha agora fantasmagoricamente – mas ainda e sempre cruel. Aos Estados membros, liberais, iliberais ou assim-assim compete obedecer, esvaziar os arsenais de todas as armas e enviá-las para a Ucrânia, meter as mãos nos bolsos dos contribuintes para financiar com centenas de milhões de euros o corrupto e nazi Zelensky. Em contrapartida, devem obrigar os seus povos, através de mecanismos totalitários de manipulação, coacção e chantagem, a aceitar impavidamente os efeitos das sanções impostas à Rússia – ilegais segundo o direito internacional – enterrados numa crise em que o pior ainda está para vir. Willy Brandt sabia do que falava mesmo que os tempos e as circunstâncias fossem bastante diferentes da realidade actual. Certamente porque os traços desviantes em relação ao discurso oficial, a hipocrisia e o cinismo enganador dos povos já então se manifestavam como tendências que são intemporais. «A guerra e a maneira etnocêntrica, xenófoba e mistificadora como a União Europeia a encarou impondo sanções arbitrárias à Rússia, obedecendo a Washington convencida de que o mundo «iria atrás», funcionou apenas, afinal, dentro dos 27 e no universo muito limitado de países que compõem o chamado Ocidente» A arrogância, o autoconvencimento suicida e a subserviência doentia dos dirigentes da União Europeia perante o diktat norte-americano transformou a guerra na Ucrânia no acontecimento fatal para a comunidade. A guerra e a maneira etnocêntrica, xenófoba e mistificadora como a União Europeia a encarou impondo sanções arbitrárias à Rússia, obedecendo a Washington convencida de que o mundo «iria atrás», funcionou apenas, afinal, dentro dos 27 e no universo muito limitado de países que compõem o chamado Ocidente – conceito que é um alter-ego dos Estados Unidos imperiais. O resto do mundo, cerca de 85 da população mundial, assumiu posições próprias, mais ou menos diferenciadas e desafiantes das ordens emanadas de Washington. Ao mesmo tempo as sanções impostas à Rússia contribuíram para gerar outras consequências perversas, além do efeito de boomerang contra os povos dos países que as impuseram. As transformações no mundo com sentido multipolar foram aceleradas pelas novas circunstâncias; daí que seja possível observar como países de outros continentes, com maiores ou menores envergaduras económicas, se juntam em recém-criadas organizações regionais e transnacionais, algumas delas ainda embrionárias, harmonizando interesses próprios, abrindo novas vias de comunicação e de transporte, intercambiando matérias-primas, commodities e outros bens da economia real, tangível, tanto quanto possível à margem do casino financeiro de ambição globalista e do dólar cada vez mais contaminado pela financeirização e a dependência da economia virtual. São relações novas ou ampliadas estabelecidas em condições mais equilibradas e igualitárias, livres de imposições de obediência e das obrigações desiguais próprias das relações até agora dominantes, de índole colonial e imperial. A nova realidade emergente atrai cada vez mais países que estão a redescobrir a importância da soberania e se atrevem a desafiar o Ocidente como nunca o fizeram. Na recente Cimeira das Américas, dirigentes de várias nações disseram ao presidente dos Estados Unidos coisas que ele jamais pensou ouvir; os países ribeirinhos do Mar Cáspio decidiram, em cimeira recente, reforçar a soberania regional, declarando as águas livres de navios da NATO; os presidentes do Irão, da Turquia e da Rússia acordaram modos de cooperação, sobretudo na Síria, que têm como objectivo trabalhar pela saída das tropas norte-americanas deste país, acabando assim com o roubo de petróleo; o presidente norte-americano foi à Arábia Saudita mendigar a redução dos preços do petróleo nos mercados internacionais, mas não passou de Jeddah e as suas súplicas não foram atendidas; ao invés, o encontro do ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov, com os dirigentes da Liga Árabe, foi considerado um êxito. Entretanto, o artista da moda e chefe do regime nazi de Kiev não conseguiu pregar a sua homilia à cimeira do Mercosul depois de, há algumas semanas, ter sido escutado por apenas quatro dos 55 chefes de Estado da União Africana. Há realmente cada vez mais mundo para lá da Ucrânia e do Ocidente. E o New York Times já se «esquece» de falar da guerra da Ucrânia em algumas das suas edições. Então o que resta, nestas circunstâncias, da defunta União Europeia? Ou mesmo da Europa, alargando o conceito à antevisão de Willy Brandt? Observa-se, por exemplo, que a democracia é cada vez mais um invólucro desgastado de sistemas económicos e políticos com notáveis tiques ditatoriais. Aliás no Leste europeu, desde a Polónia às Repúblicas do Báltico, tão acarinhadas pela NATO e a União Europeia, os regimes de índole fascista e xenófoba são indisfarçáveis. Na Letónia e na Estónia os cidadãos de origem russa são de segunda categoria, não podem votar, não têm direitos sociais, são párias na sua pátria. Zelensky não inventou nada. Como se percebe, foram instalados regimes de apartheid no interior da União Europeia sem registo de qualquer escândalo por parte da comunicação social corporativa, sempre tão vigilante e de dedo em riste. «A guerra e a maneira etnocêntrica, xenófoba e mistificadora como a União Europeia a encarou impondo sanções arbitrárias à Rússia, obedecendo a Washington convencida de que o mundo «iria atrás», funcionou apenas, afinal, dentro dos 27 e no universo muito limitado de países que compõem o chamado Ocidente» Então, para defender um regime nazi até às últimas consequências – que não se anunciam promissoras – a União Europeia decidiu «cancelar» a Rússia, isto é, prescindir das suas relações políticas e, sobretudo, económicas e comerciais com este país. E fê-lo numa ocasião em que Moscovo já decidira estrategicamente uma ancoragem prioritária com mira no Oriente, abrindo-se daí, ainda mais, para a Ásia, a África e a América Latina. Quem ganha e quem perde com esta opção, que não é uma versão da história do ovo e da galinha? Uma pergunta que os lunáticos de Bruxelas e das restantes capitais dos 27 não fizeram a si próprios antes de investirem com tudo (já só falta a bomba nuclear), e praticamente sem rectaguarda, contra a Rússia. A Europa é um continente envelhecido, uma manta de retalhos que se vai cosendo por conveniência e apenas para imagem externa, um espaço de inércia crescente dominado por uma burocracia retrógrada apesar de digitalizada, mergulhado numa autoimagem arrogante e desligada da realidade mundial. Carece de produtos básicos de alimentação, de matérias-primas essenciais, da maioria dos recursos fundamentais estratégicos, sobretudo fontes de energia e de autonomia tecnológica, sector em que, no que toca a desenvolvimento e inovação, começa a estar a anos de luz não só dos Estados Unidos mas também, e principalmente, da Ásia. O que resta da indústria europeia é subsidiário e dependente do exterior. A questão do abastecimento energético, porém, ilustra como nenhuma o delírio incontrolável de Bruxelas e da maioria dos seus satélites. Para prescindir do petróleo da Rússia, barato e há décadas calibrado para as necessidades europeias, a senhora Van der Leyen pratica mendicidade com países que maltrata e sanciona, como a Venezuela e o Irão, e promete soluções inexistentes a curto e médio prazo. Quanto ao gás natural, está disponível para comprá-lo em estado líquido aos Estados Unidos, em quantidades muito insuficientes e por preços quatro a cinco vezes superiores ao russo, apesar de ser produzido pelo método altamente poluente de fractura hidráulica (fracking). Para que haja uma noção do que aí vem anote-se que o gás natural estava a 200 dólares por mil metros cúbicos antes das sanções, situando-se agora entre os 1500 e 1800 dólares pelos mesmos mil metros cúbicos – sete a nove vezes mais. Além disso, a presidente da Comissão Europeia assegura, com o ar mais solene deste mundo, que está para mais breve do que supomos a autossuficiência energética com moinhos de vento e painéis solares. Pode acrescentar-lhe a produção de gás resultante do tratamento de lixo, dejectos de passarinhos e suínos. Boa sorte com isso. À cautela, conhecendo muito bem a incompetência dos seus subordinados na Comissão e governos adjacentes, os patrões recomendam a restauração do funcionamento das centrais a carvão para tentarem refrear a hecatombe económica que começa a sentir-se, por exemplo, no gigante alemão. O combate às alterações climáticas, claro, pode esperar – aliás como sempre. «A questão do abastecimento energético, porém, ilustra como nenhuma o delírio incontrolável de Bruxelas e da maioria dos seus satélites. Para prescindir do petróleo da Rússia, barato e há décadas calibrado para as necessidades europeias, a senhora Van der Leyen pratica mendicidade com países que maltrata e sanciona, como a Venezuela e o Irão, e promete soluções inexistentes a curto e médio prazo» A Europa transformou-se numa aberração cultural, aceitou que as suas culturas com origens milenares fossem contaminadas e asfixiadas pelo pior dos exemplos, a plastificação dos ambientes criativos pelos mais medíocres centros norte-americanas de propaganda de um «way of life» postiço, estupidificante, monolítico. A «classe política» e a comunicação social corporativa recriaram-se nesse formato e as consequências estão à vista numa opinião única militarizada, hipnotizada pela violência, numa sociedade de vigilância, coacção e bufaria, num entretenimento idiota, alienante e intoxicante onde avulta a programação televisiva uniformizada de cariz preferencialmente alarve. A Europa é provavelmente o único continente que não consegue ser autossuficiente do ponto de vista económico. Mas decidiu isolar-se agarrada ao capote do Tio Sam. No entanto, o espaço para funcionamento dos mecanismos coloniais já não é o que era à medida que a maioria das nações do mundo acordam para novas realidades de relacionamento; a invulnerabilidade militar já teve os seus dias; é cada vez mais difícil roubar os bens alheios: talvez o ouro da Venezuela e do Afeganistão, os fundos soberanos venezuelanos e as reservas cambiais russas sejam os derradeiros assaltos tolerados. E que, mais dia menos dia, terão resposta. Os políticos europeus vocacionados para governar através de uma máquina de manipulação que erradicou na prática o pluralismo, o debate e o esclarecimento, recitam discursos vazios de conteúdo, carregados de promessas vãs, manifestam um ostensivo desrespeito pelas pessoas, pelo trabalho, pelos mais idosos; os comentadores tagarelam dislates, mensagens encomendadas, mentiras, quando não é pura propaganda terrorista; desdobram-se em delações e desfazem-se dos derradeiros resquícios de compostura e vergonha quando lhes oferecem uma guerra «civilizacional» – o que acontece em sessões contínuas. A Europa, evidentemente, precisa muito mais da Rússia, país no topo mundial das matérias-primas, dos recursos naturais estratégicos e das reservas de energia essenciais, do que a Rússia necessita da Europa. Pode passar muito bem sem ela. A Europa, porém, insiste nas sanções, condenando os seus povos a carências há muito não sentidas e, para isso, nem será necessário que Moscovo aperte muito o «torniquete da dor». Pela calada, para não perder a pose perante os seus, Bruxelas vai levantando algumas sanções, como a do comércio de titânio, ou então os aviões começariam a ficar em terra. As medidas avulsas, porém, não tocam no fundo das questões, apenas suscitam ainda mais desprezo por parte da Rússia e de muitos outros países para quem a União Europeia deixou de ser entidade «confiável». As sanções à Rússia e o alinhamento na defesa de regimes nazi-fascistas europeus, caminho para a própria degeneração ditatorial, não são corriqueiros tiros nos pés. São armas de suicídio num caminho que não tem volta. Os tempos da velha e nobre Europa e da sua mítica e falsa União já lá vão. Agora o chamado «Velho Continente» não passa de um corpo estranho, um satélite mumificando em redor da estrela cadente do império. Nem sequer pode desejar-se paz à sua alma. Alma não tem; e repudia a paz. José Goulão, Exclusivo AbrilAbril Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. E que autoridade têm os que condenam a anexação do Donbass, com o presidente norte-americano à cabeça, os mesmos que são cúmplices da anexação de quase toda a Palestina e territórios sírios por Israel, do Saara Ocidental por Marrocos, que esfacelaram o Iraque e a Líbia, que roubam ouro e milhões de milhões de dólares ao Afeganistão, à Rússia, à Venezuela, à Líbia, sem esquecer o petróleo da Síria? Na sequência natural da definição dos padrões únicos e civilizacionais dos direitos humanos surgem outros direitos tão ou mais invocados como sagrados, por exemplo o de opinião, o de expressão, o respeito pela privacidade de cada um, a liberdade de informar e ser informado. A situação actual é rica em exemplos de como a «democracia ocidental», o mundo baseado «em regras» e a partilha dos «nossos valores» andam de mãos dadas com o cinismo, a hipocrisia, a mentira pura e simples e o desrespeito pelo ser humano (para já nem falar nos sub-humanos). A pressão sobre as opiniões e a liberdade de pensar torna-se cada vez mais asfixiante, intolerante, adquirindo contornos inquisitoriais. Regra geral, a partir sobretudo da implantação do neoliberalismo durante os últimos 40 anos, as opiniões dissonantes da verdade única e tolerada foram desaparecendo da comunicação social, dos espaços de debate público, das instituições de ensino. O que é silenciado não existe, o comum dos mortais habituou-se a viver com os conceitos que recebe de enxurrada, quase sem tempo para pensar, se tiver preocupação e cuidado em não perder o hábito de fazê-lo. A individualidade, a faculdade de pensar fundiram-se e dissolveram-se no interior de um imenso rebanho de repetidores de verdades absolutas e incontestáveis que, não poucas vezes, agridem e alienam a sua condição de cidadãos livres e com direitos. O processo não é estático – evolui no pior sentido, o da agressão de um direito essencial do ser humano, que é o de pensar pela própria cabeça e partilhar as reflexões e conhecimentos com os outros. Os acontecimentos acuais, designadamente a guerra na Ucrânia e o envolvimento profundo e cúmplice do Ocidente institucional no apoio ao regime de inspiração nazi de Kiev, transformou a estratégia de silenciamento das opiniões dissonantes numa perseguição de índole totalitária. Pensar de maneira diferente tornou-se um delito, uma colaboração com entidades maléficas, um atrevimento inaceitável e, por isso, submetido a difamações, ameaças de agressão e às mais rasteiras calúnias públicas. Enquanto a comunicação social se tornou refém da propaganda terrorista. «A individualidade, a faculdade de pensar fundiram-se e dissolveram-se no interior de um imenso rebanho de repetidores de verdades absolutas e incontestáveis que, não poucas vezes, agridem e alienam a sua condição de cidadãos livres e com direitos.» Nesta «civilização cristã e ocidental», incapaz de cortar o cordão umbilical com o imperialismo e o colonialismo, sobrevivem reconhecidamente os resquícios inquisitoriais. Que se afirmam com veemência crescente ao ritmo de uma fascização que os horizontes não afastam. Neste contexto, os «nossos valores partilhados» são cada vez mais instrumentos para criação de uma ficção que arrasta perversamente os seres humanos em direcções contrárias aos seus próprios interesses. Trata-se de uma armadilha que é, ao mesmo tempo, um esforço desesperado para tentar impedir o fim da era do poder unipolar, que parece inevitável – mas pode ser travado por uma guerra de proporções e consequências catastróficas. Os «valores partilhados» autodefinidos como um distintivo da pretensa superioridade humanista e civilizacional do Ocidente, e que são fundamentos da arrogância de pretender dar lições a outros povos, culturas e civilizações, são, afinal, universais; não têm donos, proprietários, muito menos polícias e esbirros. E as civilizações não estão hierarquizadas: classificá-las num qualquer ranking entre bondade e maldade, legitimidade e ilegitimidade, correcção e erro é um perigoso jogo de cariz xenófobo – o que parece incomodar cada vez menos os orgulhosos, prepotentes e fundamentalistas praticantes e adeptos da suposta superioridade ocidental, De facto, no Ocidente esses tão invocados «nossos valores partilhados» estão sequestrados, pelo que é fácil subvertê-los e usá-los perversamente como instrumentos para ludibriar e neutralizar o espírito crítico da grande maioria dos cidadãos. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. A chacina do povo de Gaza agrava-se de dia para dia, a invasão terrestre já começou, as milhares de pessoas a quem Israel ordenou uma marcha dos condenados em direcção ao sul do território, onde supostamente estariam a salvo, são bombardeadas pela aviação sionista. Dos mais de oito mil civis assassinados pelo regime israelita em Gaza, metade são crianças. Pais e outros familiares começaram a escrever o nome nas mãos e nos braços das suas crianças para poderem ser identificadas depois de abatidas pela «única democracia do Médio Oriente», protegida pelo «exército mais moral do mundo», como é conhecido no «mundo civilizado» o aparelho de extermínio das Forças de Defesa de Israel (IDF). Ironicamente, as pessoas obrigadas pelos nazis a usarem a estrela de David no vestuário, ou os mártires dos campos de concentração com números inscritos nos pulsos, também estavam sinalizados para morrer. Caprichos da História… «Israel tem o direito de se defender», repetem as classes políticas de Lisboa a Vilnius, de Nova York e Otava a Auckland, com escalas em Tóquio e Seul – bizarro «Ocidente» este. Mas os agentes civilizatórios não invocam o direito dos palestinianos a resistir à ocupação, princípio igualmente reconhecido pelo direito internacional. Certamente porque se guiam pela ordem «internacional baseada em regras» e não pelas leis que regem as relações entre as nações. «Pais e outros familiares começaram a escrever o nome nas mãos e nos braços das suas crianças para poderem ser identificadas depois de abatidas pela "única democracia do Médio Oriente"» «O terrorismo do Hamas não pode ficar impune», apregoam as mesmas vozes. Sem dúvida, mas pouco as indigna que seja toda uma população indefesa a pagar por isso enquanto silenciam o terrorismo israelita praticado durante os últimos 75 anos. Limpezas étnicas não são terrorismo? Condenação de milhões de pessoas à fome e à sede não é terrorismo? Destruição de casas, roubo de terras, destruição de colheitas não é terrorismo? Desterrar milhares de pessoas para colocar imigrantes oriundos de vários países, pretensamente guiados por cultos messiânicos, nos locais que habitavam não é terrorismo? Prisões em massa, perseguições étnicas e religiosas, racismo institucional, assassínios indiscriminados, isolamento e cerco de campos de refugiados transformando-os em campos de concentração, manter adolescentes nas cadeias, assaltar e destruir escolas, hospitais não é terrorismo? «É preciso libertar os reféns» do Hamas, exigem os «civilizadores». Para esses humanistas, porém, nunca foi preocupação proteger multidões submetidas a castigos colectivos, que seres humanos sejam desnudados e revistados em gaiolas de ferro antes de iniciarem ou depois de terminarem um dia de trabalho, que nas prisões israelitas haja milhares de detidos, presos políticos sem culpa formada com 12 ou com mais de 80 anos, submetidos sem culpa formada nem julgamento a um regime de detenção administrativa revogável de seis em seis meses, o que equivale à pena de prisão perpétua. Prisões essas que estão, em muitos casos, entregues a mercenários de companhias multinacionais de segurança que se dedicam a práticas de tortura, estupro, humilhação e morte inspiradas nas que os invasores norte-americanos exercitaram na prisão de Abu Ghraib, no Iraque. «Para esses humanistas, porém, nunca foi preocupação proteger multidões submetidas a castigos colectivos, que seres humanos sejam desnudados e revistados em gaiolas de ferro antes de iniciarem ou depois de terminarem um dia de trabalho, que nas prisões israelitas haja milhares de detidos, presos políticos sem culpa formada» Só quando o eng. António Guterres, assumindo-se, nesta situação, verdadeira e corajosamente como secretário-geral da ONU – incapaz de ficar insensível à catástrofe humana que presenciou em Gaza – pôs os pontos nos is, relembrou a história, acentuou a relação desigual de forças e de tratamento entre ocupante e ocupado é que dirigentes ocidentais, pelo menos aqueles que ainda resistiram à tentação de considerar inoportunas e desadequadas as palavras de Guterres, recolocaram a solução de dois Estados em cima da mesa. E defendem eles a sério a solução de dois Estados? Obviamente que não. Além de desumanos e xenófobos são hipócritas. Qual é a sua credibilidade ao falar em dois Estados quando, na prática, não deram um passo para que fossem uma realidade – contemporizando até, pelo contrário, com as manobras dilatórias de Israel que fizeram fracassar o processo de paz? Ou quando nada fazem que force Israel a parar com a criação de colonatos, processo cujo desenvolvimento constante vai ocupando gradualmente os territórios onde deveria assentar um Estado Palestiniano viável? Será que o «Ocidente», sempre lesto a retirar sanções da cartola, já esgotou o stock? «Qual é a sua credibilidade ao falar em dois Estados quando, na prática, não deram um passo para que fossem uma realidade – contemporizando até, pelo contrário, com as manobras dilatórias de Israel que fizeram fracassar o processo de paz?» Amira Hass, jornalista e escritora israelita cujos pais conseguiram sobreviver aos campos de concentração hitlerianos, vê «traição» no comportamento da Alemanha e, por extensão, dos países ocidentais. Escreve que os dirigentes alemães, «com a sua responsabilidade decorrente do Holocausto», «traíram-nos com o seu apoio incondicional a um país como Israel que ocupa, priva as pessoas de água, rouba terras, aprisiona dois milhões de habitantes de Gaza numa jaula lotada, arrasa casas, expulsa comunidades inteiras de suas casas e incentiva a violência dos colonos». Será Amira Hass uma antissemita ao descrever com realismo e objectividade as práticas do seu governo? A estes crimes há a juntar o de limpeza étnica, assunto abordado com pudor, envolvido por forte pressão censória, e para a qual existem planos destinados à Faixa de Gaza – em sintonia com a intenção proclamada por Netanyahu de «esvaziar» o território como parte da construção de um novo Médio Oriente. Porquê estranhar que se fale em limpeza étnica? Não nasceu o Estado de Israel da expulsão de 750 mil pessoas das suas terras e casas? A colonização não é uma forma de limpeza étnica? E o que dizer desta explicação do ex-ministro dos Negócios Estrangeiros israelita Danny Ayalon: «Não dizemos aos habitantes de Gaza para irem para as praias e afogarem-se… Não, Deus proíbe-o. Vão para o deserto do Sinai – a comunidade internacional irá construir-lhes cidades e dar-lhes de comer»…? Para que isto aconteça, estrategos norte-americanos e israelitas delinearam planos prontos a aplicar: a dúvida é saber quanto tempo resistirá o Egipto às pressões para receber os «refugiados» de Gaza e como irá reagir o mundo árabe e islâmico. É inegável a solidariedade incondicional do Ocidente para com Israel e o seu regime sionista, na verdade uma parte integrante do «Ocidente colectivo». Poderão os países da União Europeia e da NATO dizer que estão com Israel e, ao mesmo, distanciarem-se da matança implacável que este país comete em Gaza? Não podem. O pacote da solidariedade é compacto, indivisível. Seria de supor, se estivéssemos a lidar com gente séria e com princípios, que Israel, para merecer a solidariedade ocidental e fazer parte dessa elite, respeitasse todos os princípios venturosos que fazem parte da cartilha orientadora da nossa «civilização» ajardinada. Cotejemos então a correspondência das práticas de Israel com as apregoadas virtudes que asseguram a superioridade moral e civilizacional do Ocidente. Israel deve, portanto, respeitar os direitos humanos. Não se percebe como cumpre essa norma, olhando para a situação e o tratamento dos palestinianos, sem esquecer a discriminação dos israelitas que não são judeus. Sobre o respeito pelas liberdades cívicas há igualmente qualquer coisa que não parece bem. Israel segrega, maltrata e reprime as pessoas que estão sob sua responsabilidade como potência ocupante (violação das convenções de Genebra); e também estruturou uma forma de Estado onde existem pessoas com menos direitos que outras, uma elite e comunidades de segunda. Apartheid e terrorismo serão compatíveis com direitos humanos e liberdades cívicas? As forças armadas sionistas que participam em exercícios atlantistas são as mesmas que fazem jorrar o sangue de civis indefesos na Palestina, impedidos de escapar às suas bombas. Israel está a cometer mais um acto de apogeu da chacina a que tem vindo a submeter impunemente a população da Faixa de Gaza – e da Palestina em geral – durante as últimas décadas. Os alvos não são «os túneis do Hamas», como informa o regime sionista, mas dois milhões de pessoas que vivem enclausuradas num imenso campo de concentração do qual não podem escapar. Não se trata de um «confronto»: é uma barbárie. Algumas notas sobre o que está a passar-se. A Faixa de Gaza e a respectiva população são um alvo que Israel tem sempre à mão quando necessita de recorrer a manobras de diversão por causa da degradação política interna, como acontece no momento actual, em que se misturam a prolongada indefinição governativa, a corrupção a alto nível do regime e a polémica gestão da pandemia – por sinal, insolitamente elogiada no plano internacional. «A Faixa de Gaza e a respectiva população são um alvo que Israel tem sempre à mão quando necessita de recorrer a manobras de diversão por causa da degradação política interna, como acontece no momento actual» Os dirigentes sionistas não duvidam, nem por um instante, de que podem utilizar o instrumento da guerra contra Gaza porque sabem que a chamada comunidade internacional o permite. As instâncias internacionais, com a ONU à cabeça, e as grandes potências, com destaque para os Estados Unidos e a União Europeia, permitem tudo a Israel sem assumir uma única medida para conter a barbárie. Há mais de 70 anos que a comunidade internacional se vem dotando de instrumentos legais para fazer respeitar os direitos inalienáveis do povo palestiniano e há mais de 70 anos que eles são interpretados como letra morta. Este comportamento é um incentivo à discricionariedade de Israel; e Israel aproveita-o consoante as suas conveniências sabendo que nada de mal lhe acontecerá e nenhuma reacção irá além do apelo à «moderação» e a um «cessar-cessar entre as partes». Isto é, entre uma «parte» que pode tudo e uma «parte» que sofre tudo. Os foguetes do Hamas são irrelevantes quando comparados com o aparelho de guerra usado pelo regime sionista. A actuação da comunidade internacional na questão israelo-palestiniana é o exemplo mais flagrante da sua permanente utilização do sistema de pesos e medidas variáveis. Isolada pela comunidade internacional em geral, a Palestina conta cada vez menos com a solidariedade do chamado mundo árabe. Sob a égide da administração Trump nos Estados Unidos, países árabes como os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein juntaram-se recentemente ao Egipto na normalização das relações com Israel, o que significa abandonar a defesa dos direitos dos palestinianos. Acresce que existem, de facto, relações diplomáticas entre o Estado sionista e a Arábia Saudita, encimadas pela amizade e afinidades entre o primeiro-ministro Netanyahu e o herdeiro do trono wahabita, Mohammed Bin Salman. Uma aliança sobre os escombros da Palestina. «Há mais de 70 anos que a comunidade internacional se vem dotando de instrumentos legais para fazer respeitar os direitos inalienáveis do povo palestiniano e há mais de 70 anos que eles são interpretados como letra morta. Este comportamento é um incentivo à discricionariedade de Israel» Na prática, a solidariedade árabe nunca desempenhou um papel que permitisse a criação de um Estado palestiniano, como determinam as normas e a doutrina estabelecidas pela comunidade internacional. O reconhecimento de Israel por cada vez mais países árabes, porém, reforça a ideia de que o problema palestiniano poderá ter outras «soluções» que não sejam a criação de um Estado palestiniano independente, viável e plenamente soberano. Por outro lado, as relações entre países árabes e Israel transformam cada vez mais o Estado sionista numa entidade plenamente integrada no Médio Oriente, dando assim forma ao arranjo pretendido pelos Estados Unidos de uma região com duas potências dominantes – Israel e Arábia Saudita –, ambas viradas contra o Irão. O novo pico de guerra de Israel contra Gaza não pode desligar-se dos permanentes esforços de Israel para tentar provocar uma guerra directa contra o Irão – à qual as administrações norte-americanas ainda têm resistido. A ofensiva supostamente «contra o Hamas» – grupo que Israel liga a Teerão apesar de ser sunita e não xiita – acontece no preciso momento em que a administração Biden ainda não definiu se regressa ou não ao acordo nuclear 5+1 com o Irão. A mensagem israelita é directa: apoiando grupos activos no Médio Oriente, como o Hezbollah no Líbano e na Síria e o Hamas na Palestina, o Irão terá de ser desencorajado de o fazer. E os acordos com Teerão têm de ser invalidados. Por muito que possam vir a proclamar verbalmente o contrário, os Estados Unidos e a União Europeia estão por detrás de mais esta chacina israelita em Gaza. Se em relação a Washington não existe qualquer dúvida, tanto mais que o aparelho do Partido Democrata no poder é o que está mais sintonizado com os interesses dominantes do sionismo, poderão levantar-se reticências em relação ao papel da União Europeia. «a prática de Bruxelas e dos 27 é objectivamente favorável às atitudes assumidas por Israel, sejam elas quais forem: nada fazem para que seja concretizada a solução de dois Estados na Palestina, mantêm relações económicas e políticas preferenciais com Israel e não assumem nas instâncias internacionais qualquer posição contra as atitudes militares extremas do sionismo» O que não tem qualquer razão de ser. Apesar de algumas declarações de distanciamento, como foi o caso por ocasião da transferência da embaixada norte-americana para Jerusalém, a prática de Bruxelas e dos 27 é objectivamente favorável às atitudes assumidas por Israel, sejam elas quais forem: nada fazem para que seja concretizada a solução de dois Estados na Palestina, mantêm relações económicas e políticas preferenciais com Israel e não assumem nas instâncias internacionais qualquer posição contra as atitudes militares extremas do sionismo. Antes pelo contrário: Israel é um parceiro activo da NATO – que rege a União Europeia do ponto de vista militar – e está mesmo envolvido nos exercícios em curso na Grécia e no Mar Egeu no quadro dos jogos de guerra «Defender Europe». Isto é, as forças armadas sionistas que participam em exercícios atlantistas são as mesmas que fazem jorrar o sangue de civis indefesos na Palestina, impedidos de escapar às suas bombas. Uma aliança que dizima vidas e direitos humanos. A mensagem de Israel com esta nova operação de barbárie é directa: nada fará parar o sionismo no seu objectivo de limpar e submeter etnicamente a Palestina e de impedir qualquer tentativa, por débil que seja, de implementar a solução de dois Estados. O instrumento para concretizar esse objectivo é a colonização ininterrupta dos territórios da Cisjordânia – a par do cerco férreo a Gaza – de maneira a estender a ocupação, inviabilizar as possibilidades territoriais de instaurar um Estado e quebrar a resistência nacional palestiniana. «a operação militar sionista assumiu as já conhecidas proporções de punição colectiva. Contando, para isso, com a habitual impunidade que lhe é assegurada pelas instâncias internacionais. De facto, Israel usa o terrorismo para impor a lei do mais forte sabendo que encontrará pouca oposição e condenação nenhuma» Nas últimas semanas o regime sionista expulsou mais famílias e arrasou as suas habitações no bairro de Sheik Jarrah, em Jerusalém Leste, no quadro da «limpeza» de todos os palestinianos da cidade. Acontece que a ofensiva encontrou forte resistência da população atingida, sinal de que, apesar de isolados internacionalmente, os palestinianos não estão dispostos a abdicar dos seus direitos. Uma vez que Gaza respondeu à agressão e da Faixa de Gaza foram disparados foguetes contra território israelita, a operação militar sionista assumiu as já conhecidas proporções de punição colectiva. Contando, para isso, com a habitual impunidade que lhe é assegurada pelas instâncias internacionais. De facto, Israel usa o terrorismo para impor a lei do mais forte sabendo que encontrará pouca oposição e condenação nenhuma. A nova fase da chacina contra Gaza e da limpeza étnica da Cisjordânia é, afinal, mais um passo no sentido de um desfecho que inviabilize de vez a solução de dois Estados na Palestina. Ao mesmo tempo que este princípio vai sendo invocado como um mantra cada vez mais vazio de significado pelos que insistem em dizer-se defensores das leis internacionais e dos direitos humanos. Enquanto isto, continuam a morrer inocentes indefesos e a Nakba, o holocausto palestiniano, prossegue, dia após dia, sob os olhos e a passividade do mundo. Até ao último dos palestinianos. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Estado de direito? É improvável que Israel o seja: instituiu o apartheid, formatou um Estado para um só povo e uma só religião onde o primeiro-ministro, além disso, continua a querer acabar com a independência do aparelho judicial para apagar os seus casos de corrupção. Quanto ao direito internacional, Israel é um fora-de-lei. Viola e até achincalha as resoluções da ONU, insulta quem, com toda a objectividade, ponha em causa as suas verdades absolutas – nem o secretário-geral da ONU escapa –, pratica o terrorismo, desrespeita as suas obrigações como potência ocupante, liquidou o processo de paz, neste caso com a prestável ajuda dos Estados Unidos e da União Europeia. Nada há de surpreendente neste comportamento recorrente do «mundo civilizado». Não foram as principais potências da União Europeia, França e Alemanha, que assinaram os acordos de Minsk sobre a Ucrânia sabendo que iriam ser violados? Com base numa definição parcial, messiânica, xenófoba e propagandística, Israel acusa de antissemitismo toda e qualquer pessoa, instituição ou país que não esteja de acordo com as práticas do regime. Também nesta matéria os países e os media ocidentais seguem incondicionalmente as posições israelitas, elas próprias antissemitas no sentido autêntico do termo. O povo palestiniano, os povos árabes são semitas, tal como os judeus. O extermínio em Gaza, as incursões punitivas e cleptómanas dos esquadrões da morte de colonos, a atribuição da condição de cidadãos de segunda aos israelitas de origem árabe são manifestações claras de racismo e de antissemitismo. A propaganda israelita faz confundir ostensivamente as críticas ao sionismo, as denúncias dos crimes do governo de Telavive e até as acusações ao comportamento de Netanyahu como casos de antissemitismo. Além de xenófobo, este tipo de propaganda esconde uma das mais expandidas formas de antissemitismo: a que se manifesta contra os árabes – e até contra os muçulmanos, no seu complemento islamofóbico. Vimos que a escritora israelita Amira Hass é uma antissemita, segundo os cânones oficiais do sionismo. E será também antissemita o prestigiado jornalista Gideon Levy, do diário Haaretz, quando escreve que «só psiquiatras podem explicar o comportamento de Israel»? E o que dizer do antissemitismo do próprio Haaretz quando na sua secção editorial se pode ler que «inegavelmente, o governo israelita é o único responsável pelo que acontece, por negar os direitos dos palestinianos»? E serão antissemitas os milhões de judeus não-sionistas, por exemplo a multidão imensa que recentemente tomou a Estação Central de Nova York em solidariedade com a Palestina e os palestinianos? Os países ocidentais acompanham incondicionalmente Israel nesta deriva em que viola, ponto por ponto, todos os princípios de que se ufana o Ocidente para se distinguir, de forma xenófoba, arrogante e colonial, da «barbárie» que diz persegui-lo. «E o que dizer do antissemitismo do próprio Haaretz quando na sua secção editorial se pode ler que "inegavelmente, o governo israelita é o único responsável pelo que acontece, por negar os direitos dos palestinianos"?» Mas quem melhor traduz este cenário de cumplicidades, mentiras, falsificações e cobertura do terrorismo é o jornal New York Times, a bússola pela qual se guia qualquer dirigente ocidental que se preze e serve de modelo a qualquer publicação «de referência». Pois o Conselho Editorial dessa bíblia intocável sentenciou: «Israel pode defender-se e defender os seus valores; o que Israel está a fazer é lutar para defender uma sociedade que valoriza a vida humana e os estado de direito». É o retrato da grande mentira em que vivemos, escondida numa verdade única que vai dissolvendo o contraditório e, no fundo, a realidade na qual os povos ocidentais se movem. A situação, porém, está a mudar e as manifestações que juntam milhões de pessoas em todo o mundo, comovidas e solidárias com a luta e os direitos dos palestinianos, provam-nos que a consciência da realidade começa a perfurar a monstruosa e tóxica barreira da corrupção política e da mistificação mediática associada à propaganda sionista e terrorista. Dominique de Villepin, diplomata e ex-primeiro-ministro da França (2005-2007) na presidência de Jacques Chirac, está em Gaza. Numa entrevista a uma rádio francesa não esconde o papel daquilo a que chama o «ocidentalismo» na tragédia humana que ali se vive. O «ocidentalismo», disse, «é a ideia de que o Ocidente, que durante cinco séculos geriu os interesses do mundo, será capaz de continuar a fazê-lo silenciosamente. E podemos ver claramente, mesmo nos debates da classe política francesa, que existe a ideia de que, face ao que está a acontecer actualmente no Médio Oriente, temos de continuar ainda mais a luta, rumo ao que pode considerar-se uma guerra religiosa ou civilizacional. Ou seja, isolarmo-nos ainda mais no cenário internacional». Villepin considera também que este comportamento está associado à «armadilha do moralismo»: «Temos a prova disso através do que está a acontecer na Ucrânia e no Médio Oriente, da dualidade de critérios que é denunciada em todo o mundo». Dualidade de que George Orwell já falava no seu famoso 1984 invocando o conceito de doublethink (pensamento duplo), que definiu desta maneira: «repudia a moralidade enquanto a reivindica». Uma perspectiva que reproduz na perfeição, principalmente agora, na confluência das situações na Ucrânia e no Médio Oriente, a falsidade, a insensibilidade, a desumanidade do comportamento da «civilização ocidental» e a sua miséria moral. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Os dirigentes sionistas não admitem, sequer, que se fale nisso e a sua posição tem prevalecido, como aliás acontece com todas as ilegalidades que o regime israelita cometeu e comete. Já em 1923 o sionista mussoliniano Vladimir Jabotinsky escrevia o seguinte na sua obra Nós e os Árabes: «Necessitamos de um muro de ferro que esteja em posição de resistir à pressão da população nativa (…) uma vez que a reconciliação com os árabes está fora de questão, agora e no futuro». E a colonização, acrescentou, «tem de fazer-se contra a vontade da população nativa». O muro recomendado há cem anos pelo «maior judeu depois de Herzl», segundo Menahem Begin, não é de ferro mas de betão, encimado por arame farpado a uma altura de três metros. Foi erguido para isolar as comunidades palestinianas na Cisjordânia, e deste território com Jerusalém Leste, dividindo até famílias e propriedades rurais, sem que a chamada comunidade internacional fizesse e faça um único movimento para derrubar esse símbolo arquitectónico de apartheid que replica os métodos do racismo sul-africano para criação dos bantustões. Entretanto, com imensa coerência, a mesma comunidade internacional celebra anualmente a queda do muro em Berlim. «Devemos estar seguros de que os palestinianos não voltam», proclamou David Ben-Gurion quando assumiu a cadeira de chefe do governo do novo Estado de Israel. Em visita à cidade de Nazaré logo que foi ocupada pelo terrorismo sionista, o primeiro-ministro enfureceu-se com a presença de «tantos árabes». «Porque não os expulsaram?», perguntou. Moshe Sharett, ministro dos Negócios Estrangeiros trabalhista na década de cinquenta do século passado, e considerado «um moderado», abordou o tema considerando que «os refugiados encontrarão o seu lugar na diáspora; graças à selecção natural, alguns resistirão, outros não. A maioria tornar-se-á um refugo do género humano e fundir-se-á nas camadas mais pobres do mundo árabe». A «moderação» sionista é, percebe-se, bastante humanista. O direito internacional estabelece que os campos de refugiados palestinianos são transitórios, em função da existência de um «direito de retorno». Todas as declarações e práticas de responsáveis sionistas representam um desafio permanente às normas legais, tornando as expulsões irreversíveis e os campos de refugiados definitivos. Mais uma vez, o poder sionista faz pender o fiel da balança para o lado da ilegalidade, uma situação que se tornou tão banal como o assassínio diário de dezenas ou centenas de palestinianos às mãos da tropa, da polícia e dos colonos sionistas. «Foi erguido para isolar as comunidades palestinianas na Cisjordânia, e deste território com Jerusalém Leste, dividindo até famílias e propriedades rurais, sem que a chamada comunidade internacional fizesse e faça um único movimento para derrubar esse símbolo arquitectónico de apartheid que replica os métodos do racismo sul-africano para criação dos bantustões. Entretanto, com imensa coerência, a mesma comunidade internacional celebra anualmente a queda do muro em Berlim.» Os campos de refugiados são alvos fáceis para que as tropas e a polícia israelitas façam os seus assaltos punitivos regulares, além das operações de busca e prisões arbitrárias para tentar vergar o ânimo e a capacidade de resistência das comunidades palestinianas. O general Moshe Dayan já dizia há mais de 50 anos que «até agora o método de punição colectiva tem-se mostrado muito eficaz». Nem todos os dirigentes e porta-vozes israelitas acham suficientes as expulsões inseridas no longo processo de limpeza étnica da população palestiniana. O chefe de Estado sionista em funções, Isaac Herzog, proclama que «não é verdade essa retórica de que os civis não estão conscientes, não estão implicados» em episódios de violência. Por isso recomenda: «vamos lutar até partir-lhes a coluna vertebral». Há variações sobre o mesmo tema, numa desgarrada sinistra. Avigdor Lieberman, porteiro de discoteca na Moldávia que de maneira fulminante chegou a ministro dos Negócios Estrangeiros e da Defesa de governos de Netanyahu, propôs que «os prisioneiros palestinianos sejam transportados de autocarro para o Mar Morto e afogados». A situação em Gaza tem sido inspiradora da criatividade criminosa e genocida de figuras gradas do sionismo. Eli Yishai, dirigente do partido sefardita Shas e ministro do Interior entre 2009 e 2013, manifestou a opinião de que «devemos devolver Gaza à Idade Média destruindo todas as infra-estruturas, incluindo estradas e água». A tropa está a cumprir as suas recomendações. Moshe Feiglin, ultradireitista membro da ala «libertária» do Likud, o partido de Netanyahu, assegura que «a limpeza étnica de Gaza permitiria resolver o problema da habitação em Israel». Danny Yalom, ex-vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, glosa o tema na perspectiva de um outro problema de habitação, este decorrente da limpeza étnica: o dos palestinianos de Gaza. «Não lhes dizemos para irem para a praia e afogarem-se», esclareceu. «Deus não permite isso; há uma imensa área, um espaço quase infinito no deserto do Sinai, mesmo do outro lado de Gaza. Nós e a comunidade internacional proporcionaremos as infra-estruturas, aldeias de tendas com alimentação e água». Amichai Eliyahu, ministro do Património de Benjamin Netanyahu, leva muito a sério as tarefas que o cargo lhe exige. «O norte de Gaza está mais belo do que nunca», aprecia. «Agora é fazer explodir tudo e terraplanar. Uma vez terminado daremos tudo aos soldados e aos colonos que viviam em Gush Khatib», o conjunto de colonatos que existiu na aprazível costa mediterrânica de Gaza antes de 2006, ano em que o primeiro-ministro Ariel Sharon mandou retirar os sionistas do território para poder cercá-lo. Há ainda os proeminentes políticos israelitas incapazes de esconderem as compulsões genocidas. Rafael Eitan, ministro da Agricultura entre 1996 e 1999 e, antes disso, chefe das Forças Armadas que comandou operacionalmente a agressão ao Líbano e os massacres de Sabra e Chatila no Verão de 1982, considera que «devemos fazer tudo para tornar os palestinianos miseráveis a ponto de se irem embora; há que acabar com eles». Mais directo, porém, do que o rabino Israel Hess, da Universidade de Bar-Ilan, ninguém conseguirá ser: «temos toda a obrigação de fazer o genocídio». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença.Opinião|
O sionismo explicado pelos sionistas. «A terra dos árabes pertence aos judeus»

Opinião|
O sionismo explicado pelos sionistas. Doutrina racista e de limpeza étnica

Introdução
«Os palestinianos não existem»
Teia de mistificações
O racismo como marca genética
«Os nazis não eram arruaceiros»
Internacional|
Combate à glorificação do nazismo volta a não contar com o apoio de EUA e aliados


Internacional|
Neonazis e veteranos da Waffen-SS voltaram a marchar em Riga

Glorificação do nazismo e reescrita da história
Repúdio da Rússia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Opinião|
Uma limpeza étnica sob os nossos olhos – 3

«Matar, matar, matar e matar»
Limpeza étnica ou extermínio colectivo?
«Esses animais não podem continuar a viver»
Como fintar o direito internacional
Opinião|
Até ao último dos palestinianos

Cadeia de mistificações
Colonização igual a anexação
A punição dos refugiados
Anexação da Cisjordânia
Contribui para uma boa ideia
Limpeza étnica «barata e sustentável»
Opinião|
A matança, o cessar-fogo e a solução de dois estados

Da colonização ao extermínio
Contaminação xenófoba
Por que não carregar onde dói?
Opinião|
Gaza, notas sobre uma chacina

1) O principal responsável pelo massacre não é Israel: é a chamada comunidade internacional
2) O mundo árabe isola cada vez mais a Palestina
3. Um massacre com o Irão na mira
4. O papel dos Estados Unidos, União Europeia e NATO
5. A causa próxima: colonização e limpeza étnica
Contribui para uma boa ideia
Impossível?
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Teses de extermínio
Refugiados «eternos» e genocídio
Opinião|
A miséria moral da «civilização ocidental»

Opinião|
As danças de Israel com o Hamas (I)

Opinião|
As danças de Israel com o Hamas (II)

A inteligência e a «falha»
Nacional|
«Se a terra dos homens é de todos os homens, acaso os palestinos não são pessoas?»

Internacional|
Vários jornalistas palestinianos mortos no massacre de Gaza

Internacional|
Continua o massacre israelita de Gaza

Internacional|
MPPM. Só haverá paz quando forem reconhecidos os direitos do povo palestiniano

Internacional|
Resistência palestiniana unida em torno da operação contra Israel

Internacional|
Colonos e forças israelitas matam quatro palestinianos na Cisjordânia

Internacional|
Ministro israelita das Finanças defende a «aniquilação» de terra palestiniana

OLP classifica Smotrich como «terrorista racista» e AP pede ajuda internacional
Parlamento Árabe condena violência dos colonos
Contribui para uma boa ideia
Rudeineh: a ocupação israelita pisou todas as linhas vermelhas
Contribui para uma boa ideia
Resposta aos sistemáticos crimes israelitas
Internacional|
Israel deteve 135 mil palestinianos nos últimos 23 anos

Internacional|
Número recorde de presos palestinianos ao abrigo da detenção administrativa

Internacional|
Nove presos palestinianos mantêm protesto contra a detenção administrativa

Internacional|
Presos palestinianos em greve de fome contra a detenção administrativa

Internacional|
«Ou nos submetemos ou nos revoltamos»: 30 presos palestinianos continuam em luta

Internacional|
Trinta presos palestinianos em protesto contra a detenção administrativa

Internacional|
Israel decretou 1595 ordens de detenção administrativa contra palestinianos em 2021

Internacional|
Presos palestinianos continuam protesto contra a detenção administrativa

Internacional|
Israel prendeu 5426 palestinianos na primeira metade do ano

Quase 5500 detidos em seis meses
Internacional|
Forças israelitas prenderam 230 menores palestinianos desde Janeiro

Detenção administrativa e maus-tratos
Internacional|
A «viagem ao inferno» dos jovens palestinianos detidos por Israel

Uma «viagem sem fim ao inferno»
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Vários presos em greve de fome contra a detenção administrativa
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
«Semearemos alegria, vida e esperança»
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
1083 presos em detenção administrativa
Internacional|
Preso palestiniano morreu na cadeia após 86 dias em greve de fome

Internacional|
835 palestinianos em regime de detenção administrativa nas cadeias israelitas

Internacional|
«Ou nos submetemos ou nos revoltamos»: 30 presos palestinianos continuam em luta

Internacional|
Trinta presos palestinianos em protesto contra a detenção administrativa

Internacional|
Israel decretou 1595 ordens de detenção administrativa contra palestinianos em 2021

Internacional|
Presos palestinianos continuam protesto contra a detenção administrativa

Internacional|
Israel prendeu 5426 palestinianos na primeira metade do ano

Quase 5500 detidos em seis meses
Internacional|
Forças israelitas prenderam 230 menores palestinianos desde Janeiro

Detenção administrativa e maus-tratos
Internacional|
A «viagem ao inferno» dos jovens palestinianos detidos por Israel

Uma «viagem sem fim ao inferno»
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Vários presos em greve de fome contra a detenção administrativa
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
«Semearemos alegria, vida e esperança»
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
6500 palestinianos presos por Israel este ano, 490 dos quais em Novembro
Internacional|
Israel prendeu 5300 palestinianos desde o início do ano


Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
32 mil ordens de detenção administrativa
Internacional|
A «viagem ao inferno» dos jovens palestinianos detidos por Israel

Uma «viagem sem fim ao inferno»
Contribui para uma boa ideia
Incitação racista, tortura, execuções lentas
Contribui para uma boa ideia
Bombardeamentos israelitas sobre Gaza provocam elevado número de vítimas
Contribui para uma boa ideia
Internacional|
Israel «branqueia crimes» das suas forças na Grande Marcha do Retorno

Internacional|
Centenas de palestinianos enfrentam forças de segurança israelitas em Gaza

Contribui para uma boa ideia
«Uma cortina de fumo para proteger os funcionários responsáveis»
Internacional|
EUA mudam embaixada para Jerusalém e Israel massacra manifestantes em Gaza

Repúdio geral
Antecipação da mudança
Franco-atiradores israelitas matam dezenas em Gaza
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Sobre os que condenam a resistência
Internacional|
Palestina pede à ONU protecção especial para as crianças

Internacional|
Desde 2014 que não eram mortas tantas crianças palestinianas

Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Operação Dilúvio de Jerusalém
Escolas da UNRWA atingidas
Contribui para uma boa ideia
Apelo a associações e instituições internacionais
Internacional|
Solidários com a luta do povo palestiniano, sírios denunciam a brutalidade de Israel

Mobilizações de apoio à Palestina pelo mundo fora
Internacional|
Continua o massacre israelita de Gaza

Internacional|
MPPM. Só haverá paz quando forem reconhecidos os direitos do povo palestiniano

Internacional|
Resistência palestiniana unida em torno da operação contra Israel

Internacional|
Colonos e forças israelitas matam quatro palestinianos na Cisjordânia

Internacional|
Ministro israelita das Finanças defende a «aniquilação» de terra palestiniana

OLP classifica Smotrich como «terrorista racista» e AP pede ajuda internacional
Parlamento Árabe condena violência dos colonos
Contribui para uma boa ideia
Rudeineh: a ocupação israelita pisou todas as linhas vermelhas
Contribui para uma boa ideia
Resposta aos sistemáticos crimes israelitas
Internacional|
Israel deteve 135 mil palestinianos nos últimos 23 anos

Internacional|
Número recorde de presos palestinianos ao abrigo da detenção administrativa

Internacional|
Nove presos palestinianos mantêm protesto contra a detenção administrativa

Internacional|
Presos palestinianos em greve de fome contra a detenção administrativa

Internacional|
«Ou nos submetemos ou nos revoltamos»: 30 presos palestinianos continuam em luta

Internacional|
Trinta presos palestinianos em protesto contra a detenção administrativa

Internacional|
Israel decretou 1595 ordens de detenção administrativa contra palestinianos em 2021

Internacional|
Presos palestinianos continuam protesto contra a detenção administrativa

Internacional|
Israel prendeu 5426 palestinianos na primeira metade do ano

Quase 5500 detidos em seis meses
Internacional|
Forças israelitas prenderam 230 menores palestinianos desde Janeiro

Detenção administrativa e maus-tratos
Internacional|
A «viagem ao inferno» dos jovens palestinianos detidos por Israel

Uma «viagem sem fim ao inferno»
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Vários presos em greve de fome contra a detenção administrativa
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
«Semearemos alegria, vida e esperança»
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
1083 presos em detenção administrativa
Internacional|
Preso palestiniano morreu na cadeia após 86 dias em greve de fome

Internacional|
835 palestinianos em regime de detenção administrativa nas cadeias israelitas

Internacional|
«Ou nos submetemos ou nos revoltamos»: 30 presos palestinianos continuam em luta

Internacional|
Trinta presos palestinianos em protesto contra a detenção administrativa

Internacional|
Israel decretou 1595 ordens de detenção administrativa contra palestinianos em 2021

Internacional|
Presos palestinianos continuam protesto contra a detenção administrativa

Internacional|
Israel prendeu 5426 palestinianos na primeira metade do ano

Quase 5500 detidos em seis meses
Internacional|
Forças israelitas prenderam 230 menores palestinianos desde Janeiro

Detenção administrativa e maus-tratos
Internacional|
A «viagem ao inferno» dos jovens palestinianos detidos por Israel

Uma «viagem sem fim ao inferno»
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Vários presos em greve de fome contra a detenção administrativa
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
«Semearemos alegria, vida e esperança»
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
6500 palestinianos presos por Israel este ano, 490 dos quais em Novembro
Internacional|
Israel prendeu 5300 palestinianos desde o início do ano


Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
32 mil ordens de detenção administrativa
Internacional|
A «viagem ao inferno» dos jovens palestinianos detidos por Israel

Uma «viagem sem fim ao inferno»
Contribui para uma boa ideia
Incitação racista, tortura, execuções lentas
Contribui para uma boa ideia
Bombardeamentos israelitas sobre Gaza provocam elevado número de vítimas
Contribui para uma boa ideia
Internacional|
Israel «branqueia crimes» das suas forças na Grande Marcha do Retorno

Internacional|
Centenas de palestinianos enfrentam forças de segurança israelitas em Gaza

Contribui para uma boa ideia
«Uma cortina de fumo para proteger os funcionários responsáveis»
Internacional|
EUA mudam embaixada para Jerusalém e Israel massacra manifestantes em Gaza

Repúdio geral
Antecipação da mudança
Franco-atiradores israelitas matam dezenas em Gaza
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Sobre os que condenam a resistência
Internacional|
Palestina pede à ONU protecção especial para as crianças

Internacional|
Desde 2014 que não eram mortas tantas crianças palestinianas

Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Operação Dilúvio de Jerusalém
Escolas da UNRWA atingidas
Contribui para uma boa ideia
Enorme destruição no «campo da morte certa»
Mais de 22 mil unidades habitacionais destruídas em quatro dias
Nacional|
Movimentos e sindicatos convocam acto público pela «paz no Médio Oriente»

Internacional|
MPPM. Só haverá paz quando forem reconhecidos os direitos do povo palestiniano

Internacional|
Resistência palestiniana unida em torno da operação contra Israel

Internacional|
Colonos e forças israelitas matam quatro palestinianos na Cisjordânia

Internacional|
Ministro israelita das Finanças defende a «aniquilação» de terra palestiniana

OLP classifica Smotrich como «terrorista racista» e AP pede ajuda internacional
Parlamento Árabe condena violência dos colonos
Contribui para uma boa ideia
Rudeineh: a ocupação israelita pisou todas as linhas vermelhas
Contribui para uma boa ideia
Resposta aos sistemáticos crimes israelitas
Internacional|
Israel deteve 135 mil palestinianos nos últimos 23 anos

Internacional|
Número recorde de presos palestinianos ao abrigo da detenção administrativa

Internacional|
Nove presos palestinianos mantêm protesto contra a detenção administrativa

Internacional|
Presos palestinianos em greve de fome contra a detenção administrativa

Internacional|
«Ou nos submetemos ou nos revoltamos»: 30 presos palestinianos continuam em luta

Internacional|
Trinta presos palestinianos em protesto contra a detenção administrativa

Internacional|
Israel decretou 1595 ordens de detenção administrativa contra palestinianos em 2021

Internacional|
Presos palestinianos continuam protesto contra a detenção administrativa

Internacional|
Israel prendeu 5426 palestinianos na primeira metade do ano

Quase 5500 detidos em seis meses
Internacional|
Forças israelitas prenderam 230 menores palestinianos desde Janeiro

Detenção administrativa e maus-tratos
Internacional|
A «viagem ao inferno» dos jovens palestinianos detidos por Israel

Uma «viagem sem fim ao inferno»
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Vários presos em greve de fome contra a detenção administrativa
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
«Semearemos alegria, vida e esperança»
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
1083 presos em detenção administrativa
Internacional|
Preso palestiniano morreu na cadeia após 86 dias em greve de fome

Internacional|
835 palestinianos em regime de detenção administrativa nas cadeias israelitas

Internacional|
«Ou nos submetemos ou nos revoltamos»: 30 presos palestinianos continuam em luta

Internacional|
Trinta presos palestinianos em protesto contra a detenção administrativa

Internacional|
Israel decretou 1595 ordens de detenção administrativa contra palestinianos em 2021

Internacional|
Presos palestinianos continuam protesto contra a detenção administrativa

Internacional|
Israel prendeu 5426 palestinianos na primeira metade do ano

Quase 5500 detidos em seis meses
Internacional|
Forças israelitas prenderam 230 menores palestinianos desde Janeiro

Detenção administrativa e maus-tratos
Internacional|
A «viagem ao inferno» dos jovens palestinianos detidos por Israel

Uma «viagem sem fim ao inferno»
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Vários presos em greve de fome contra a detenção administrativa
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
«Semearemos alegria, vida e esperança»
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
6500 palestinianos presos por Israel este ano, 490 dos quais em Novembro
Internacional|
Israel prendeu 5300 palestinianos desde o início do ano


Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
32 mil ordens de detenção administrativa
Internacional|
A «viagem ao inferno» dos jovens palestinianos detidos por Israel

Uma «viagem sem fim ao inferno»
Contribui para uma boa ideia
Incitação racista, tortura, execuções lentas
Contribui para uma boa ideia
Bombardeamentos israelitas sobre Gaza provocam elevado número de vítimas
Contribui para uma boa ideia
Internacional|
Israel «branqueia crimes» das suas forças na Grande Marcha do Retorno

Internacional|
Centenas de palestinianos enfrentam forças de segurança israelitas em Gaza

Contribui para uma boa ideia
«Uma cortina de fumo para proteger os funcionários responsáveis»
Internacional|
EUA mudam embaixada para Jerusalém e Israel massacra manifestantes em Gaza

Repúdio geral
Antecipação da mudança
Franco-atiradores israelitas matam dezenas em Gaza
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Sobre os que condenam a resistência
Internacional|
Palestina pede à ONU protecção especial para as crianças

Internacional|
Desde 2014 que não eram mortas tantas crianças palestinianas

Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Internacional|
Continua o massacre israelita de Gaza

Internacional|
MPPM. Só haverá paz quando forem reconhecidos os direitos do povo palestiniano

Internacional|
Resistência palestiniana unida em torno da operação contra Israel

Internacional|
Colonos e forças israelitas matam quatro palestinianos na Cisjordânia

Internacional|
Ministro israelita das Finanças defende a «aniquilação» de terra palestiniana

OLP classifica Smotrich como «terrorista racista» e AP pede ajuda internacional
Parlamento Árabe condena violência dos colonos
Contribui para uma boa ideia
Rudeineh: a ocupação israelita pisou todas as linhas vermelhas
Contribui para uma boa ideia
Resposta aos sistemáticos crimes israelitas
Internacional|
Israel deteve 135 mil palestinianos nos últimos 23 anos

Internacional|
Número recorde de presos palestinianos ao abrigo da detenção administrativa

Internacional|
Nove presos palestinianos mantêm protesto contra a detenção administrativa

Internacional|
Presos palestinianos em greve de fome contra a detenção administrativa

Internacional|
«Ou nos submetemos ou nos revoltamos»: 30 presos palestinianos continuam em luta

Internacional|
Trinta presos palestinianos em protesto contra a detenção administrativa

Internacional|
Israel decretou 1595 ordens de detenção administrativa contra palestinianos em 2021

Internacional|
Presos palestinianos continuam protesto contra a detenção administrativa

Internacional|
Israel prendeu 5426 palestinianos na primeira metade do ano

Quase 5500 detidos em seis meses
Internacional|
Forças israelitas prenderam 230 menores palestinianos desde Janeiro

Detenção administrativa e maus-tratos
Internacional|
A «viagem ao inferno» dos jovens palestinianos detidos por Israel

Uma «viagem sem fim ao inferno»
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Vários presos em greve de fome contra a detenção administrativa
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
«Semearemos alegria, vida e esperança»
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
1083 presos em detenção administrativa
Internacional|
Preso palestiniano morreu na cadeia após 86 dias em greve de fome

Internacional|
835 palestinianos em regime de detenção administrativa nas cadeias israelitas

Internacional|
«Ou nos submetemos ou nos revoltamos»: 30 presos palestinianos continuam em luta

Internacional|
Trinta presos palestinianos em protesto contra a detenção administrativa

Internacional|
Israel decretou 1595 ordens de detenção administrativa contra palestinianos em 2021

Internacional|
Presos palestinianos continuam protesto contra a detenção administrativa

Internacional|
Israel prendeu 5426 palestinianos na primeira metade do ano

Quase 5500 detidos em seis meses
Internacional|
Forças israelitas prenderam 230 menores palestinianos desde Janeiro

Detenção administrativa e maus-tratos
Internacional|
A «viagem ao inferno» dos jovens palestinianos detidos por Israel

Uma «viagem sem fim ao inferno»
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Vários presos em greve de fome contra a detenção administrativa
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
«Semearemos alegria, vida e esperança»
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
6500 palestinianos presos por Israel este ano, 490 dos quais em Novembro
Internacional|
Israel prendeu 5300 palestinianos desde o início do ano


Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
32 mil ordens de detenção administrativa
Internacional|
A «viagem ao inferno» dos jovens palestinianos detidos por Israel

Uma «viagem sem fim ao inferno»
Contribui para uma boa ideia
Incitação racista, tortura, execuções lentas
Contribui para uma boa ideia
Bombardeamentos israelitas sobre Gaza provocam elevado número de vítimas
Contribui para uma boa ideia
Internacional|
Israel «branqueia crimes» das suas forças na Grande Marcha do Retorno

Internacional|
Centenas de palestinianos enfrentam forças de segurança israelitas em Gaza

Contribui para uma boa ideia
«Uma cortina de fumo para proteger os funcionários responsáveis»
Internacional|
EUA mudam embaixada para Jerusalém e Israel massacra manifestantes em Gaza

Repúdio geral
Antecipação da mudança
Franco-atiradores israelitas matam dezenas em Gaza
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Sobre os que condenam a resistência
Internacional|
Palestina pede à ONU protecção especial para as crianças

Internacional|
Desde 2014 que não eram mortas tantas crianças palestinianas

Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Operação Dilúvio de Jerusalém
Escolas da UNRWA atingidas
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Uma população e um território mártir
Opinião|
Gaza, notas sobre uma chacina

1) O principal responsável pelo massacre não é Israel: é a chamada comunidade internacional
2) O mundo árabe isola cada vez mais a Palestina
3. Um massacre com o Irão na mira
4. O papel dos Estados Unidos, União Europeia e NATO
5. A causa próxima: colonização e limpeza étnica
Contribui para uma boa ideia
A mão de Israel no Hamas
Processo de paz e processo de guerra
Opinião|
A matança, o cessar-fogo e a solução de dois estados

Da colonização ao extermínio
Contaminação xenófoba
Por que não carregar onde dói?
Opinião|
Gaza, notas sobre uma chacina

1) O principal responsável pelo massacre não é Israel: é a chamada comunidade internacional
2) O mundo árabe isola cada vez mais a Palestina
3. Um massacre com o Irão na mira
4. O papel dos Estados Unidos, União Europeia e NATO
5. A causa próxima: colonização e limpeza étnica
Contribui para uma boa ideia
Impossível?
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
O mapa de Netanyahu e a distracção ocidental
Opinião
Os «nossos valores» sequestrados

Liberdade e democracia
Direitos humanos
Opinião|
A União Europeia morreu e ninguém a informou

Willy Brandt, chanceler da República Federal da Alemanha, 1974Salve-se quem puder
O que resta?
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Cotejemos então
Opinião|
Gaza, notas sobre uma chacina

1) O principal responsável pelo massacre não é Israel: é a chamada comunidade internacional
2) O mundo árabe isola cada vez mais a Palestina
3. Um massacre com o Irão na mira
4. O papel dos Estados Unidos, União Europeia e NATO
5. A causa próxima: colonização e limpeza étnica
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Perante o terrorismo sem freios do actual governo israelita é impossível não evocar a tresloucada «opção Sansão» idealizada pela mentalidade doente do sionismo «revisionista». Além do novo aparelho militarizado «oficial» de Ben-Gvir, os cerca de 700 mil colonos estão organizados em milícias armadas «privadas», fortemente reforçadas desde os acontecimentos ainda muito mal explicados de 7 de Outubro de 2023. Os colonos armados representam um pouco menos de 10% da população israelita, à qual devem retirar-se, porém, os 20% de origem palestiniana, submetidos à condição de cidadãos de segunda, o que dá um peso real de 12% à colonização terrorista militarizada.
O governo tem assim um outro poderosíssimo exército informal do seu lado, contribuindo para um imenso e intratável corpo de forças armadas, público e privado, muito mais militante e mobilizado, sob comando dos ministros terroristas, do que as próprias Forças de Defesa de Israel, em constante perda de confiança devido às insuficientes prestações frente ao Hamas e às duas humilhantes derrotas já sofridas às mãos do Hezbollah libanês.
Este cenário encoraja ainda mais os delinquentes partidários da «opção Sansão», que se pode resumir numa frase sinistra proferida há já 35 anos por Ariel Sharon numa entrevista ao semanário britânico The Observer: «no caso de sermos atacados mais depressa acaba o mundo de que Israel»; a expressão inspira-se em versículos do profeta Ezequiel segundo os quais «os que se rebelam contra Deus são hostis ao seu povo», os hebreus; quando Gogue (rei simbolizando «os inimigos») «atacar Israel o meu furor (de Deus) será despertado», mas «os filhos de Israel serão vencedores da batalha do Armagedão» ou do Juízo Final.
Pais e outros familiares começaram a escrever o nome nas mãos e nos braços das suas crianças para poderem ser identificadas depois de abatidas pela «única democracia do Médio Oriente», protegida pelo «exército mais moral do mundo». «À medida que a guerra entre Israel e o Hamas avança peço aos meus compatriotas americanos que permaneçam vigilantes e não caiam em qualquer propaganda falsa afirmando que as pessoas que vivem em Gaza são dignas de vida humana…» (Joseph Biden, presidente dos Estados Unidos da América) Joseph Biden, o chefe dos chefes daquilo a que costuma chamar-se o «Ocidente colectivo», ou «a civilização ocidental», ou simplesmente «o Ocidente», pronunciou esta frase lapidar à chegada de uma breve deslocação ao Médio Oriente onde abraçou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, mas sem o interromper no comando da chacina do povo de Gaza. Não estranhem, por muito revoltantes que as sintam, as palavras do nosso guia da «civilização ocidental», essa mistura de irmandades decrépitas, sofrendo de sintomas de autoritarismo desesperado, como a NATO, a União Europeia, o G7, os Cinco Olhos e ainda outras agremiações onde se juntam o todo ou parte dos mesmos comparsas. Ao contrário do que possa pensar-se, tais sentenças não são fruto da senilidade e de outras insuficiências manifestadas pelo personagem que habita na Casa Branca. Desta feita são palavras lúcidas, com raízes no conceito do primeiro-ministro de Israel em relação às pessoas de Gaza, por ele qualificadas como «bestas humanas». Ou, na versão do ministro sionista da Defesa, Yoav Gallant: «estamos a lutar contra animais humanos e agindo em conformidade». Em 2002, o historiador israelita Zeev Sternhell, da Universidade Hebraica de Jerusalém, escreveu: «Não esqueçamos que, de facto, foi Israel que criou o Hamas. Pensou que era uma maneira inteligente de empurrar os islamitas contra a OLP». «Eles apenas vêem uma coisa: chegámos e roubámos-lhes o país. Porque é que eles aceitariam isso?» «Não ignoremos a verdade entre nós… politicamente somos os agressores e eles defendem-se» (David Ben-Gurion, fundador e primeiro presidente de Israel) A dúvida não era se isto iria acontecer, mas quando e como aconteceria. E para os que acompanham o quotidiano de Gaza – não aqueles que se transferiram apressadamente da Ucrânia e tiveram de consultar os mapas para reprocessar o chip – o genocídio e a limpeza étnica a que estamos a assistir não são novidade nem surpresa. A Faixa de Gaza é, há pouco mais de década e meia, um campo de concentração onde uma população de 2,3 milhões de habitantes está literalmente encerrada por imposição de Israel e a colaboração do Egipto, submetida a restrições selváticas que afectam a vida de cada cidadão, desde a importação de alimentos, medicamentos, a degradação da quantidade e da qualidade da água, os cortes sistemáticos de energia e, principalmparaente, as periódicas agressões militares de Israel, manobras punitivas que têm ceifado dezenas de milhares de vidas, deixando quase incólumes as estruturas do Hamas, e contribuído para a destruição contínua do parque habitacional e das estruturas públicas e sociais, designadamente as escolas. Como é que organizações de espionagem como as sionistas, que certamente dispõem de milhares de informadores numa população tão densa e caótica como a de Gaza, não tinham sequer uma luzinha sobre o que o Hamas estava a preparar? No momento em que o Hamas lançou a operação «Dilúvio sobre al Aqsa», no passado dia 7 de Outubro, expondo uma «falha de inteligência de Israel» que os peritos de inteligência consideram pouco provável, ou mesmo impossível, o governo de Ramallah revelou-se absolutamente ineficaz para encabeçar a resistência palestiniana na Cisjordânia num momento de tantas incertezas, perigos e, certamente, traições. Um governo inerte, corrupto, desligado das realidades e do povo, além de acomodado. Ao longo de mais de 15 anos, a Autoridade Palestiniana pouco fez perante o avanço da colonização, um processo gradual de anexação de território até que chegue o momento – eventualmente já atingido – em que não existirão condições para instaurar um Estado Palestiniano independente e viável. Em contraste, através do impacto emocional, e até místico dos seus métodos, junto da resistência palestiniana em geral, e dos mundos árabe e islâmico, o Hamas procura estender a base de apoio entre as populações árabes da Palestina e da diáspora. O Hamas, porém, não tem grande apreço pela criação de um Estado independente e por negociações: afirma que defende o fim de Israel; e as forças nacionais que apostaram no «processo de paz», e claramente num Estado independente ao lado de Israel, estão neutralizadas. O que reflecte o carácter sombrio e intrigante das relações dos islamitas com Israel. Uma das características das agressões israelitas contra Gaza, que alternam com períodos de acalmia aproveitados pelo aparelho sionista para reforçar os mecanismos de controlo sobre Ramallah, é o seu reduzido e controlável impacto sobre o aparelho militar e as estruturas de apoio do Hamas. A sensação que prevalece é a de que os danos não impedem o seu contínuo desenvolvimento. Passaram as operações arrasadoras de 2008, 2014 e chega-se a 2023 com um Hamas forte como nunca em equipamento militar, em termos quantitativos e qualitativos, e capacidade operacional. Em todos os períodos de agressão israelita mais intensa contra Gaza as principais vítimas foram as populações e não as estruturas do Hamas. Milhares e milhares de palestinianos de Gaza, na verdade refugiados das limpezas étnicas praticadas em outras regiões da Palestina ao longo de 75 anos, ficaram pelo caminho durante essas agressões. Agora, numa proporção directa da envergadura da operação desencadeada pelo Hamas, entrou na ordem do dia, do lado de Israel, a «transferência» da população de Gaza, começando pela «limpeza» do norte do território. «Em todos os períodos de agressão israelita mais intensa contra Gaza as principais vítimas foram as populações e não as estruturas do Hamas.» A punição colectiva é evidente e intencional. Como explica o presidente israelita, Isaac Herzog, «uma nação inteira é responsável» pela violência, isto é, não há inocentes na população de Gaza. Amir ou Amina, nascidos há poucos dias, já chegaram a este mundo como «terroristas». Ou «animais humanos», citando o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, extremoso defensor dos «nossos valores». Por outro lado, as acções de violência contra civis, não distinguindo entre os cidadãos comuns e os militares, praticadas pelas hostes do Hamas, não servem nem poderiam servir a causa palestiniana. Não é por replicar os métodos do ocupante que os ocupados conseguem ganhar vantagem e projectar a sua razão. O massacre no kibutz de Kfar Aza, por exemplo, é um acto indigno de uma resistência popular e também faz jorrar a propaganda assente nas lágrimas de crocodilo de todos os fariseus que, na verdade, não querem saber das pessoas nem das populações sob ocupação. Nesta matéria, porém, há que partir do princípio de que nem tudo o que parece é. O Estado de Israel funciona como um dos mais credenciados centros de propaganda, embora nem sempre tenha em conta certa o estado real de estupidificação da opinião pública ocidental. A história dos 40 bebés decapitados pelo Hamas só convenceu alguns «jornalistas» mais zelosos, que rapidamente tiveram de voltar com a palavra atrás depois de até o governo israelita confessar que não confirmava o crime. Foi um caso de falta de imaginação ou facilitismo: muita gente ainda se lembra do descrédito em que caiu a história dos bebés do Koweit roubados de incubadoras pelos soldados iraquianos de Saddam Hussein, no início dos anos noventa. Manifestantes pela paz e direitos do povo palestiniano avisam Assembleia da República e Governo PS de que não aceitam um Portugal «cúmplice, por acção ou omissão, de um crime que a história não deixará de registar». Muitas centenas de pessoas participaram hoje (18 de Outuro de 2023) no acto público «Pela Paz no Médio Oriente, Pelos direitos do povo Palestiniano! Fim à agressão a Gaza, Paz no Médio Oriente!», que teve lugar no Martim Moniz, em Lisboa. A concentração, que já tinha tinha realizado ontem no Porto, foi convocada pelo Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente (MPPM), o Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC) e a CGTP-IN. A maior parte dos jornalistas perdeu a vida quando faziam reportagens sobre a guerra, tendo sido vítimas dos bombardeamentos indiscriminados israelitas sobre a Faixa de Gaza. Pelo menos oito jornalistas foram mortos, dois foram dados como desaparecidos e um ficou ferido desde sábado, quando grupos da resistência palestiniana em Gaza romperam o cerco imposto e lançaram a operação «Dilúvio de al-Aqsa» contra territórios ocupados em 1948 e Israel se declarou em estado de guerra. A maior parte dos jornalistas foi morta pelas forças de ocupação no terreno, quando estavam a fazer reportagens sobre os bombardeamentos israelitas dos últimos seis dias. No sábado, a resistência palestiniana quebrou a vedação que cerca o enclave e lançou uma ofensiva contra os territórios ocupados em 1948. Desde então, a aviação israelita matou mais de 430 palestinianos. De acordo com os dados divulgados pelo Ministério palestiniano da Saúde esta manhã, os bombardeamentos indiscriminados na Faixa de Gaza, conhecida como «a maior prisão a céu aberto», provocaram a morte a 436 pessoas, incluindo 91 menores, e fizeram 2271 feridos, 244 dos quais crianças. Nas últimas horas, a aviação da ocupação lançou centenas de raides contra o enclave costeiro, onde vivem mais de dois milhões de pessoas, atingindo edifícios residenciais, infra-estruturas oficiais e civis, bem como edifícios religiosos, tendo destruído pelo menos duas mesquitas, indica a agência Wafa. Só no sábado, os bombardeamentos israelitas provocaram 300 mortos, o que, segundo destaca o portal The Cradle, é o número mais elevado de palestinianos mortos em ataques aéreos da ocupação num só dia desde 2008. Enquanto se mantiver a ocupação colonial e a violência das forças militares e dos colonos, não haverá paz, alerta o Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente (MPPM). O MPPM reage assim às acções desencadeadas em Gaza e em Israel na madrugada deste sábado. Eram 4h30 em Lisboa (6h30 no local), quando militantes de organizações da resistência palestiniana lançaram, a partir da Faixa de Gaza, um ataque de surpresa, em larga escala, contra Israel, no que apelidaram de «Operação Dilúvio Al-Aqsa». Segundo as organizações, a acção foi uma resposta à profanação da Mesquita de Al-Aqsa e ao aumento da violência dos colonos, e confirma, insiste o MPPM num comunicado, «que não é possível ter uma situação de paz na Palestina e, por consequência, no Médio Oriente, continuando a espezinhar os legítimos direitos do povo palestino e persistindo em manter a ocupação colonial e a violência das forças militares e dos colonos». Diversos grupos da resistência declararam o apoio à operação lançada contra Israel, esta manhã, a partir da Faixa de Gaza, sublinhando que faz parte da luta de libertação nacional. «Fazemos parte desta batalha e os nossos combatentes estão lado a lado com os seus irmãos nas Brigadas al-Qassam (ala militar do Hamas) até à vitória», afirmou em comunicado Abu Hamza, porta-voz das Brigadas de al-Quds, braço militar da Jihad Islâmica. Em termos semelhantes, refere a Prensa Latina, se pronunciaram as Brigadas al-Nasser Salah al-Din, do Movimento de Resistência Popular: «Unidos numa trincheira neste dia glorioso do nosso povo.» Por seu lado, as Brigadas de Resistência Nacional anunciaram que os seus membros se juntaram à operação, lançada esta manhã pelo Hamas, que incluiu o lançamento de milhares de rockets e uma incursão terrestre em território ocupado em 1948. Atingido por disparos de colonos na cidade de Huwara, Labib Dumaidi, de 19 anos, é a mais recente das quatro vítimas mortais na Margem Ocidental ocupada, revelou o Ministério da Saúde. De acordo com a informação divulgada pelo Ministério, Labib Mohammed Dumaidi ficou gravemente ferido durante um ataque de colonos, ontem à noite, na cidade de Huwara, a sul de Nablus. Levado para um hospital, não resistiu aos ferimentos, já nas primeiras horas de sexta-feira. Residentes de Huwara tentaram fazer frente à provocação levada a cabo por dezenas de colonos, protegidos por forças militares israelitas, indica a Wafa. Registaram-se fortes confrontos e as tropas israelitas usaram fogo real, gás lacrimogéneo e granadas atordoantes para dispersar os palestinianos. Fontes do Crescente Vermelho Palestiniano informaram que pelo menos 25 pessoas, incluindo quatro crianças, sofreram efeitos de asfixia devido à inalação de gás lacrimogéneo. Também em Huwara, as forças israelitas mataram, ontem à tarde, outro palestiniano, cuja identidade ainda não foi revelada. Dias depois de colonos extremistas terem invadido e atacado Huwara, Bezalel Smotrich afirmou que Israel deve «aniquilar» a localidade palestiniana no Norte da Cisjordânia ocupada. «Penso que Huwara precisa de ser destruída», disse o ministro israelita das Finanças, Bezalel Smotrich, esta quarta-feira, defendendo que «o Estado devia fazê-lo e não cidadãos privados», refere a PressTV com base na imprensa israelita. As declarações do ministro de extrema-direita do governo de Benjamin Netanyahu seguem-se ao ataque perpetrado contra a localidade palestiniana, no domingo à noite, por centenas de colonos armados. Tratou-se da «resposta» à morte de dois israelitas de um colonato ilegal, executados por um atacante palestiniano de Huwara. Este ataque, por sua vez, seguiu-se ao massacre de Nablus, em que as forças de ocupação israelitas mataram 11 palestinianos e feriram mais de cem. No domingo à noite, os colonos queimaram pelo menos 150 carros, 52 casas e várias lojas. Uma pessoa foi morta e o número de feridos palestinianos é superior a 390, indica a agência Wafa. Grupos israelitas de defesa dos direitos humanos como Peace Now e B’Tselem referiram-se ao ataque dos colonos como um «pogrom» apoiado pelas autoridades de ocupação. Por seu lado, o Crescente Vermelho palestiniano acusou as forças israelitas de impedirem as ambulâncias e os paramédicos de acederem ao local do ataque, a poucos quilómetros de Nablus. No Knesset, a extrema-direita israelita considerou os ataques a Huwara «legítimos». Hussein al-Sheikh, da Comissão Executiva da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), afirmou, no Twitter, que as afirmações de Smotrich para apagar Huwara do mapa são o apelo de um «racista terrorista». Também o primeiro-ministro da Autoridade Palestiniana (AP), Mohammad Shtayyeh, se referiu às afirmações do ministro israelita como «terroristas» e «racistas», e alertou para o facto de que «fazem prever uma escalada séria» contra o povo palestiniano nos territórios ocupados. Neste sentido, pediu às Nações Unidas, à União Europeia e demais organizações internacionais que condenem as declarações de Smotrich. Antes, já tinha pedido ajuda internacional «contra os crimes de Israel». O Parlamento (da Liga) Árabe, com sede no Cairo, condenou esta quarta-feira os ataques executados por colonos israelitas contra o povo palestiniano na Cisjordânia ocupada, referindo-se em especial ao assalto à localidade de Huwara. Perante os ataques terroristas sistemáticos dos colonos contra cidadãos indefesos, com armas de fogo, incêndios de casas e viaturas, expulsão de agricultores, assassinatos e outros crimes, exortou o mundo e em especial o Conselho de Segurança da ONU a adoptar medidas para proteger o povo palestiniano. Antes, a Liga Árabe já tinha proposto que as milícias de colonos passem a ser incluídas na lista de grupos terroristas. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Na parte da manhã, as forças israelitas já tinham matado dois palestinianos, identificados como Hudhayfah Fares, de 27 anos, e Abd al-Rahman Atta, de 23, na aldeia de Shufa, na sequência de um ataque de colonos a viaturas na região de Tulkarem. De acordo com as Nações Unidas, 2023 está a ser o ano mais mortífero para os palestinianos na Margem Ocidental desde que há registo de fatalidades provocadas pelas forças de ocupação. Nabil Abu Rudeineh, porta-voz da Presidência palestiniana, disse à imprensa que a ocupação israelita pisou todas as linhas vermelhas, com a sua insistência na política de assassinatos e incursões em cidades, aldeias e acampamentos palestinianos. Numa entrevista à Palestine TV, o representante da Presidência responsabilizou o governo israelita e a administração norte-americana pelos «crimes perigosos perpetrados pela ocupação e os seus colonos por todo o território palestiniano», os mais recentes dos quais nas imediações de Nablus e Tulkarem, refere a Wafa. Apesar da «guerra implacável» que a ocupação israelita está a travar contra o povo palestiniano «à vista de todo o mundo», o responsável afirmou que isso não irá impedir «o nosso povo de prosseguir a sua luta legítima» até à «criação do seu Estado independente, com Jerusalém como capital». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Na Cisjordânia, a Cova dos Leões, um dos grupos da resistência mais activos, fez um apelo à mobilização geral dos seus membros, bem como ao «ataque imediato em todos os lugares contra as forças de ocupação e os seus colonos». Com base em fontes israelitas, a agência Prensa Latina indica que o Exército de ocupação deu conta de combates em 21 locais no Sul de Israel, na sequência da operação palestiniana – embora tenha posteriormente reduzido esse número para sete. Ao anunciar a ofensiva desta manhã (às 7h locais), o comandante das Brigadas al-Qassam, Muhammad al-Deif, disse que o grupo palestiniano disparou para território israelita 5000 rockets. Al-Deif afirmou que a operação é uma resposta aos sistemáticos crimes israelitas contra o povo palestiniano e a profanação contínua por colonos judeus da mesquita de al-Aqsa, em Jerusalém, e ocorre num contexto de escalada de agressões, da parte de colonos e forças israelitas, em Jerusalém Oriental e na Cisjordânia ocupada. A Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos registou mais de 135 mil casos de detenções, pelas forças de ocupação israelitas, desde o início da Intifada de al-Aqsa, em 2000. Num relatório emitido por ocasião do 23.º aniversário do início da Segunda Intifada ou Intifada de al-Aqsa (28 de Setembro de 2000), a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos sublinha que as detenções levadas a cabo pelas forças israelitas afectaram todas as camadas da sociedade, e não deixaram de parte menores de idade, idosos e mulheres. Dos mais de 135 mil casos registados pelo organismo, 21 mil dizem respeito a menores, indica o relatório – divulgado pela Wafa –, que dá conta da detenção de metade dos deputados do Conselho Legislativo Palestiniano (Parlamento), de vários ministros, centenas de académicos, jornalistas e funcionários de organizações da sociedade civil e instituições internacionais. Israel mantém nas suas prisões 1264 palestinianos sem acusações nem julgamento, o número mais elevado em 30 anos, revelou a ONG Hamoked. Desde a Primeira Intifada (1987-1993) que não havia tantos palestinianos detidos ao abrigo da polémica norma, alertou a organização não governamental este fim-de-semana, com base nos dados dos serviços prisionais. Jessica Montell, directora executiva da Hamoked, organização israelita que presta assistência jurídica gratuita aos palestinianos que vivem sob a ocupação, afirmou que a detenção administrativa é «massiva e arbitrária» e que Israel mantém nesse regime, sem acusação nem julgamento, mais de 1200 palestinianos, «alguns dos quais durante anos sem uma revisão eficaz». Ao abrigo deste regime, a detenção, decretada por um comandante militar, com base naquilo a que Israel chama «prova secreta» – que nem o advogado do detido tem direito a ver –, pode ser infinitamente renovada por períodos até seis meses. A Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) revelou, este domingo, que nove presos palestinianos sem acusação ou julgamento continuam em greve de fome por tempo indeterminado. Os presos Kayed al-Fasfous e Sultan Khlouf iniciaram o protesto contra a detenção administrativa há 19 dias. Por seu lado, Osama Darkouk encontra-se em greve de fome há 15 dias. Outros seis reclusos palestinianos em cadeias israelitas estão em greve de fome há 12 dias: Hadi Nazzal, Mohammad Taysir Zakarneh, Anas Kmail, Abdelrahman Baraka, Mohammad Basem Ikhmis e Zuhdi Abdo, informa a agência Wafa, com base na SPP. Na semana passada, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos pediu à chamada comunidade internacional que quebre o silêncio em torno do «crime israelita da detenção administrativa», que permite manter na cadeia presos sem acusação ou julgamento, numa clara violação das normas internacionais. Ao abrigo deste regime, a detenção, decretada por um comandante militar, com base naquilo a que Israel chama «prova secreta» – que nem o advogado do detido tem direito a ver –, pode ser infinitamente renovada por períodos até seis meses. A Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) revelou, esta segunda-feira, que quatro presos palestinianos sem acusação ou julgamento tinham iniciado há nove dias uma greve de fome por tempo indeterminado. Em comunicado divulgado pela Wafa, a SPP indicou que Anas Ibrahim Shadid, de 26 anos, Mahmoud Abdel Halim Talahma, de 32, Abdullah Mohammad Abido, de 36, e Mohammad Ahmad Dandis, de 25, iniciaram o protesto para denunciar a sua detenção sem acusação ou julgamento. Acrescentou que todos os detidos estão na cadeia israelita de Ofer, perto de Ramallah, e são originários da província de Hebron (al-Khalil), no Sul da Cisjordânia ocupada. A organização de defesa dos direitos dos presos informa que Shadid foi preso três vezes, sempre no regime de detenção administrativa, tendo passado, no total, três anos atrás das grades. Durante esses períodos, levou a cabo duas greves de fome, uma delas com a duração de 90 dias, em 2016. Os prisioneiros iniciaram uma greve de fome, há uma semana, para exigir a sua libertação e denunciar um regime de detenção que permite mantê-los na cadeia sem acusação ou julgamento. O protesto dos trinta presos palestinianos, membros e simpatizantes da Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP), completou uma semana sem solução aparente à vista, tendo em conta a inflexibilidade das autoridades de Telavive. Em comunicado, a Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) anunciou que os serviços prisionais israelitas têm estado a ameaçar com castigos os reclusos que lutam contra o regime de detenção administrativa. Entre as punições, contam-se privá-los de visitas, retirar-lhes os seus pertences e isolá-los em celas de castigo. Nesta primeira semana de protesto, os serviços prisionais israelitas colocaram 28 dos grevistas em quatro celas de isolamento na prisão de Ofer, informa a Wafa com base no documento divulgado pelo SPP. Um outro, o advogado Salah Hammouri, foi metido na solitária numa cadeia no Norte de Israel, enquanto Ghassan Zawahreh foi levado para uma cela de isolamento numa prisão localizada no Deserto do Neguev (al-Naqab). Os prisioneiros, em cadeias israelitas, iniciaram uma greve de fome por tempo indeterminado contra um regime que permite mantê-los detidos sem acusação ou julgamento, por períodos renováveis de seis meses. O início do protesto, este domingo, por parte de prisioneiros que são membros ou apoiantes da Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP), foi confirmado pela Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos. Em declarações à agência Wafa, Hassan Abed Rabbo, porta-voz da comissão, disse que os presos decidiram avançar contra uma política que permite a Israel manter nas suas prisões, sem acusação ou julgamento, presos palestinianos por tempo indefinido, na medida em que o período de detenção, até seis meses, é infinitamente renovável. Numa mensagem divulgada há alguns dias, os presos sublinharam que a luta contra o regime de detenção administrativa continua e denunciaram que as medidas tomadas pelas autoridades prisionais israelitas «já não se baseiam em obsessões de segurança, mas são actos de vingança devido ao seu passado». Qadri Abu Baker, líder da Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos, disse à Wafa que, na próxima quinta-feira, mais 50 presos se devem juntar à greve de fome, para denunciar o regime de detenção administrativa a que são submetidos e a escalada por parte de Israel no que respeita a este procedimento. O maior número de detenções administrativas – sem julgamento ou acusação – foi decretado em Maio, quando Israel lançou uma ofensiva de 11 dias contra a Faixa de Gaza. A Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) revelou, este domingo, que o número divulgado diz respeito tanto a novas ordens como à renovação de ordens já emitidas nos territórios ocupados, pelas autoridades israelitas. No documento apresentado, o organismo lembra que política de detenção administrativa visa «esmagar os activistas políticos palestinianos» e se baseia num ficheiro secreto não acessível aos presos – nem sequer aos seus advogados –, que são mantidos na cadeia sem acusação ou julgamento, informa a WAFA. O maior número de ordens de detenção administrativa foi emitido em Maio último, quando a Israel lançou uma ofensiva de 11 dias contra a Faixa de Gaza, explicou a organização de defesa dos presos, acrescentado que, ao longo do ano, 60 prisioneiros recorreram à greve de fome com o propósito de reconquistar a liberdade. Uma comissão de apoio aos prisioneiros revelou que 13 palestinianos permaneciam em greve de fome nas cadeias, este domingo, contra o regime que permite mantê-los reclusos sem acusação ou julgamento. Num comunicado ontem emitido, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos informou que o prisioneiro Salem Ziadat, de 40 anos, é, dos 13 que continuavam o protesto, aquele que está em greve de fome há mais tempo, permanecendo em jejum há 28 dias contra a sua detenção administrativa, sem acusação ou julgamento, revelou a agência WAFA. A Comissão informou ainda que o número de reclusos palestinianos em greve de fome até ontem era de 15, mas que Mohammad Khaled Abusill e Ahmad Abdulrahman Abusill tinham chegado a um acordo com o Serviço Prisional Israelita no que respeita à «limitação» da chamada detenção administrativa. Grupos de defesa dos presos apresentaram um relatório sobre o primeiro semestre de 2021. Nas cadeias israelitas, há actualmente 4850 palestinianos, 540 dos quais ao abrigo da «detenção administrativa». Entre os palestinianos que se encontram nos cárceres de Israel, contam-se 43 mulheres e 225 menores, segundo o documento conjunto divulgado este fim-de-semana pela Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos, a Sociedade dos Presos Palestinianos, a Addameer e o Centro de Informação Wadi Hilweh. Os organismos referidos precisaram que 12 presos são membros do Conselho Legislativo Palestiniano (Parlamento), 70 são provenientes dos territórios ocupados em 1948, 350 são originários de Jerusalém ocupada e 240 da Faixa de Gaza cercada. O informe destaca a existência de 540 prisioneiros palestinianos em detenção administrativa, sem acusação formada ou julgamento, por períodos de seis meses indefinidamente renováveis. No que respeita a detenções, os organismos de defesa dos presos revelaram que Israel prendeu 5426 palestinianos entre 1 de Janeiro e 30 de Junho deste ano – um número superior a todas as detenções efectuadas pelas forças israelitas em 2020 e registadas por estas organizações: 4636. Por ocasião do Dia da Criança Palestiniana, que se assinala a 5 de Abril, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos revelou também que 140 menores permanecem em cadeias israelitas. Os menores palestinianos, alguns dos quais crianças, continuam a ser alvo das forças militares israelitas, que os prendem, muitas vezes de forma violenta, nos territórios ocupados. De acordo com um relatório publicado este domingo pela Sociedade dos Prisioneiros Palestinianos, pelo menos 230 foram detidos desde o início do ano, a maioria dos quais em Jerusalém Oriental ocupada. O grupo de defesa dos direitos dos presos sublinhou que «as crianças encarceradas são submetidas a vários tipos de abusos, incluindo «a recusa de comida e de bebida por longas horas, abuso verbal e a detenção em condições duras». O informe veio a lume na véspera do Dia da Criança Palestiniana, que se assinala a 5 de Abril, com actividades culturais, educativas e mediáticas que, refere a PressTV, visam reforçar a consciência sobre o sofrimento dos menores palestinianos. Também no âmbito do Dia da Criança Palestiniana, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos revelou que 140 menores permanecem em cadeias israelitas, incluindo dois que se encontram presos ao abrigo do regime de detenção administrativa. Uma comissão da ONU reafirmou denúncias expostas em vários relatórios sobre detenções de menores palestinianos por Israel – quase sempre presos de noite, algemados e vendados. É o início da «viagem ao inferno». A instância, composta por especialistas independentes das Nações Unidas, expressou particular preocupação pela expansão dos colonatos e o aumento da violência dos colonos israelitas, em que se incluem ataques a crianças e às suas escolas. Segundo se pode ler no portal oficial de notícias da ONU, na semana passada diversas organizações informaram a comissão sobre as operações nocturnas levadas a efeito pelas forças israelitas com o propósito de deter crianças e adolescentes na Cisjordânia ocupada, com «graves consequências para o seu bem-estar e gozo dos seus direitos». «Mais de 300 crianças estão detidas no sistema militar israelita. A maioria por delitos menores, como atirar pedras e publicações nas redes sociais», assinala a comissão, que denuncia o facto de os menores serem «levados para locais desconhecidos, presos em viaturas militares e sujeitos a ameaças e abusos verbais», bem como o facto de, por vezes, serem «obrigados a assinar confissões em hebraico, uma língua que não costumam entender». Estas preocupações reafirmam as que têm sido veiculadas, ao longo do tempo, por várias entidades, nomeadamente a Comissão dos Prisioneiros Palestinianos, órgão dependente da Autoridade Palestiniana que, em diversas ocasiões (também este ano), alertou para o facto de os menores serem torturados e sofrerem abusos nos cárceres israelitas, bem como para o facto de serem espancados, insultados e pressionados no momento da detenção. No final de Março, um relatório publicado pelo Ministério palestiniano da Informação denunciava também esta realidade, afirmando que «95% das crianças palestinianas presas pelas autoridades israelitas foram torturadas durante a detenção». De acordo com o relatório, até 2015 foram documentadas anualmente 700 detenções de menores palestinianos. Já em 2017, Israel prendeu 1467 crianças e adolescentes; 1063 no ano seguinte e, nos dois primeiros dois meses deste ano, 118. Entre 2000 e 2018, foram presos mais de 16 mil menores. Numa peça intitulada «“Endless Trip to Hell”: Israel Jails Hundreds of Palestinian Boys a Year. These Are Their Testimonies», publicada em Março e plenamente actual, o periódico israelita Haaretz aborda esta realidade, em que as crianças, algumas com idades inferiores a 13 anos, «são detidas pela calada da noite, vendadas e algemadas, alvo de abusos e constrangidas» a confessar «crimes» que não cometeram. A peça, que reúne testemunhos de sete jovens da Margem Ocidental ocupada com idades compreendidas entre os dez e os 15 anos, revela as diversas fases do processo de detenção, que começa nas operações nocturnas e passa pelo interrogatório, a prisão, o julgamento e a proposta de um acordo. Na sua maioria, os jovens são presos por, alegadamente, terem atirado pedras ou queimado pneus, mas, como sublinha a advogada Farah Bayadsi o objectivo das detenções «é mais para mostrar controlo do que para aplicar a lei». A experiência traumática é fundamentada por tudo aquilo por que as crianças passam durante uma detenção. Arrancadas de casa quando dormem, são algemadas e vendadas, levadas em veículos militares para colonatos e bases israelitas, passando por todo um processo que envolve intimidação, ameaças, agressões físicas, afastamento da família e pressão para «confessar». O nível de brutalidade varia. Khaled Mahmoud Selvi, preso quando tinha 15 anos, foi levado para a prisão e despido (o que, de acordo com o jornal, ocorre em 55% dos casos), tendo sido obrigado a permanecer dez minutos nu, em pé, durante o Inverno. De acordo com os dados recolhidos pela organização não governamental (ONG) British-Palestinian Military Court Watch, 97% dos jovens palestinianos detidos pelas forças militares israelitas (IDF) vivem em pequenas localidades a menos de dois quilómetros de um colonato. O advogado Gerard Horton, da ONG referida, afirma que a ideia é «assustar toda a aldeia» e que se trata de um «instrumento eficaz» para controlar uma comunidade. Acrescenta que, do ponto de vista dos ocupantes e opressores, a pressão «tem de ser constante»: «Cada geração tem de sentir a mão pesada das IDF.» A experiência é traumática. O pai de Khaled Shtaiwi, preso com 13 anos em Novembro do ano passado, contou ao periódico que criou na sua aldeia o «dia da psicologia», porque o seu filho não é capaz de falar sobre o que se passou e porque quer ajudar todas as crianças que foram presas pelos israelitas. Em Beit Ummar, Omar Ayyash foi preso com dez anos de idade, em Dezembro último. Agora, as crianças que brincam nas ruas da aldeia afastam-se assim que se apercebem da aproximação de soldados israelitas. Tornou-se um hábito desde que as tropas levaram Omar. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Por seu lado, a organização Defense for Children International – Palestine (DCIP) destacou que todos os anos entre 500 e 700 menores palestinianos são processados em tribunais militares israelitas e que 85% das crianças palestinianas detidas em 2020 foram «submetidas a violência física». Num comunicado, a DCIP afirma ter documentado 27 casos em que as crianças foram mantidas na solitária um ou dois dias, alegando as forças israelitas «objectivos de investigação». Esta prática é, segundo o organismo, uma forma de «tortura ou tratamento cruel, desumano e degradante». Desde Outubro de 2015, a DCIP registou a 36 ordens de detenção administrativa decretadas contra menores palestinianos, dois dos quais se mantêm nesse regime. Ainda de acordo com o organismo sediado em Genebra, em 2020, as forças israelitas mataram nove menores palestinianos na Cisjordânia ocupada, incluindo Jerusalém Oriental, e na Faixa de Gaza, seis dos quais com fogo real. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. O relatório divulgado este fim-de-semana informa que, entre os palestinianos detidos pelas forças israelitas, se incluem 854 menores e 107 mulheres, tendo sido emitidas na primeira metade do ano 680 ordens de detenção administrativa, incluindo 312 novas. No mês de Junho foram presos 615 palestinianos, revela o texto, destacando que Maio foi de longe o mês em que se registou um maior número de detenções na primeira metade deste ano. Então, mês de massacre contra Gaza e de múltiplas provocações sionistas no Complexo da Mesquita de al-Aqsa e em Jerusalém Oriental ocupada, as forças israelitas prenderam 3100 palestinianos, incluindo 2000 nos territórios ocupados em 1948 (actual Estado de Israel) e 677 em Jerusalém Oriental ocupada, informa a WAFA. De acordo com a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos, há actualmente nove presos em greve de fome nos cárceres israelitas como forma de protesto contra o regime de detenção administrativa que lhes foi aplicado. A Comissão pediu às instâncias internacionais e regionais de defesa dos direitos humanos que pressionem as autoridades israelitas no sentido de acabar com os maus-tratos aos presos em greve de fome, que passam também pela sua reclusão na solitária. Os presos palestinianos recorrem com frequência a esta forma de luta contra um regime de detenção ilegal, cujo fim exigem. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. De acordo com os grupos de defesa dos direitos dos prisioneiros palestinianos, há actualmente quase 550 nos cárceres israelitas detidos ao abrigo deste regime, que tem merecido ampla condenação internacional e que permite a Israel manter nas suas prisões, sem acusação ou julgamento, presos palestinianos por tempo indefinido, na medida em que o período de detenção, até seis meses, é infinitamente renovável. A detenção, que é decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta» – e é tão «secreta» que nem o advogado do detido tem direito a vê-la. Alguns prisioneiros palestinianos passaram mais de uma década nas cadeias israelitas ao abrigo deste regime de «detenção», que é considerado ilegal à luz do direito internacional. Como forma de protesto contra as suas detenções ilegais e para exigir que Israel ponha fim a esta prática, os presos palestinianos recorrem com frequência a greves de fome por tempo indeterminado. Apesar da pressão internacional e dos protestos dos prisioneiros, as autoridades israelitas não têm dado sinais de querer acabar com este regime. Pelo contrário, tanto a comissão referida como o Centro Palestiniano de Estudos sobre Prisioneiros têm dado conta de novas ordens de detenção administrativa e de múltiplas renovações. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Na maior parte dos casos, estavam presos ao abrigo do regime de detenção administrativa, como Hisham Abu Hawwash, de 40 anos, habitante da localidade de Dura (Cisjordânia ocupada) que se mantém há 140 dias em greve de fome e está numa situação considerada muito crítica. Nos últimos dias, as autoridades palestinianas alertaram para o estado de saúde crítico de Abu Hawwash, responsabilizaram Telavive por aquilo que lhe possa acontecer e pediram à comunidade internacional que pressione as autoridades israelitas para o libertarem. Também a Cruz Vermelha se mostrou preocupada com o caso, sublinhando a necessidade de tratar os reclusos com humanidade e de encontrar uma solução que evite «consequências irreversíveis» para Hawwash. De acordo com a SPP, este domingo cerca de 500 reclusos palestinianos presos em Israel ao abrigo do regime da detenção administrativa – criticado pela ONU – declararam o boicote aos tribunais israelitas, porque «sentem que os tribunais alinham sempre com o governo militar e as suas ordens, e não os tratam com imparcialidade». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. De acordo com a comissão, há actualmente mais de 760 presos nas cadeias israelitas sem acusação ou julgamento. A detenção, decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta», que nem o advogado do detido tem direito a ver. Cerca de 80% dos presos palestinianos neste regime são ex-presos que já passaram anos atrás das grades, revela a Wafa. Em comunicado, emitido há dias, o Ramo Penitenciário da Frente Popular para a Libertação da Palestina afirmou que «estes 30 prisioneiros, juntos, passaram quase 200 anos em detenção administrativa. Duzentos anos de cativeiro sem acusação ou julgamento por capricho dos oficiais de inteligência da ocupação». O texto, divulgado pela Samidoun (rede de solidariedade com os presos palestinianos), sublinha que se trata de uma «pena perpétua», uma vez que muitos presos são libertados durante alguns meses e são novamente detidos. «Temos um mês de liberdade por cada ano de detenção», afirmam. Dizem que são «alimentados pela dignidade» e querem que as autoridades israelitas saibam que, mesmo que os torturem e lhes provoquem dor, «que a nossa luta continua, e que semearemos alegria, vida e esperança, e que nossa luta pela liberdade e pela humanidade livre de tormentos não vai parar». Leila Khaled, membro do Comité Central da FPLP e símbolo da resistência palestiniana, anunciou uma greve de fome solidária com os presos, a quem saudou por estarem «na primeira linha do confronto a este inimigo criminoso fascista». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. De acordo com a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos, dos cerca de 4600 palestinianos actualmente presos nas cadeias israelitas, mais de 760 são reclusos sem acusação ou julgamento, cuja detenção pode ser infinitamente renovada por períodos até seis meses. A detenção, decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta», que nem o advogado do detido tem direito a ver. Após o início da greve de fome, Basil Mizher, outro advogado palestiniano detido sem acusação ou julgamento, viu ser-lhe renovada a detenção administrativa por mais três meses, no passado dia 28. Numa mensagem que Mizher escreveu no início do protesto, lida pela sua mãe numa acção solidária no campo de refugiados de Dheisheh, em Belém, o preso diz que a sua profissão é a de advogado, mas que mal se lembra dela, pois quase não a conseguiu exercer desde que se formou – foi submetido a três detenções administrativas desde que passou no exame. Em vez de ir trabalhar, foi para a prisão, lê-se no texto divulgado pela pela Samidoun (rede de solidariedade com os presos palestinianos). «Ou nos submetemos à opressão e à privação e aceitamos o roubo perpétuo da nossa liberdade e da nossa vida à vista do mundo, ou nos revoltamos contra a injustiça e derrubamos os muros do carcereiro com todas as ferramentas que temos», escreveu Basil Mizher a propósito da greve de fome, que é a «recusa da política de subordinação e domesticação». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Talahma, detido desde Março de 2022, é um advogado e antigo prisioneiro, que passou dois anos e meio nas cadeias israelitas. Abido é também um antigo prisioneiro, que passou cinco anos e meio nas prisões da ocupação – a maior parte do tempo ao abrigo do regime de detenção administrativa. Por seu lado, Dandis foi preso pela primeira vez a 23 de Março último, tendo-lhe sido imposta uma detenção administrativa por um período de seis meses. Este protesto ocorre num contexto em que Israel intensifica o recurso às detenções sem acusação ou julgamento. Segundo revelou a SPP, existem actualmente nas cadeias israelitas 1083 presos palestinianos a quem foi aplicado este regime de detenção, 17 dos quais são menores. O regime de detenção administrativa, que tem merecido ampla condenação internacional, permite a Israel manter nas suas prisões, sem acusação ou julgamento, presos palestinianos por tempo indefinido, na medida em que o período de detenção, até seis meses, é infinitamente renovável. O primeiro-ministro palestiniano, Mohammad Shtayyeh, responsabilizou Israel pelo «assassinato» de Khader Adnan, ao não atender ao protesto contra a sua detenção sem acusação ou julgamento. A Sociedade de Prisioneiros Palestinianos (SPP) afirmou, em comunicado, que Khader Adnan, de 44 anos, foi encontrado inconsciente esta madrugada na sua cela, tendo sido levado para um hospital, onde foi declarado morto. Adnan, natural da cidade de Arraba (perto de Jenin), foi preso 12 vezes ao longo da sua vida, tendo recorrido à greve de fome em diversas ocasiões para protestar contra as suas detenções sem qualquer acusação, afirmou a SPP, citada pela agência Wafa. A última detenção ocorreu a 5 de Fevereiro e Adnan entrou de imediato em greve de fome por tempo indeterminado, refere a fonte, acrescentando que pelo menos 236 presos palestinianos morreram desde 1967. Ao ter conhecimento da notícia, o primeiro-ministro palestiniano, Mohammad Shtayyeh, acusou Israel de ter cometido um assassinato. O número foi destacado pela Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) em conferência de imprensa. A maior parte encontra-se nos centros de detenção de Ofer e de Naqab (Neguev). O regime de detenção administrativa, que tem merecido ampla condenação internacional – até do Departamento de Estado norte-americano e da Amnistia Internacional –, permite a Israel manter nas suas prisões, sem acusação ou julgamento, presos palestinianos por tempo indefinido, na medida em que o período de detenção, até seis meses, é infinitamente renovável. Em relatórios anteriores, a SPP lembrou que esta política visa «esmagar os activistas políticos palestinianos» e se baseia num ficheiro secreto não acessível aos presos – nem sequer aos seus advogados. Os prisioneiros iniciaram uma greve de fome, há uma semana, para exigir a sua libertação e denunciar um regime de detenção que permite mantê-los na cadeia sem acusação ou julgamento. O protesto dos trinta presos palestinianos, membros e simpatizantes da Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP), completou uma semana sem solução aparente à vista, tendo em conta a inflexibilidade das autoridades de Telavive. Em comunicado, a Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) anunciou que os serviços prisionais israelitas têm estado a ameaçar com castigos os reclusos que lutam contra o regime de detenção administrativa. Entre as punições, contam-se privá-los de visitas, retirar-lhes os seus pertences e isolá-los em celas de castigo. Nesta primeira semana de protesto, os serviços prisionais israelitas colocaram 28 dos grevistas em quatro celas de isolamento na prisão de Ofer, informa a Wafa com base no documento divulgado pelo SPP. Um outro, o advogado Salah Hammouri, foi metido na solitária numa cadeia no Norte de Israel, enquanto Ghassan Zawahreh foi levado para uma cela de isolamento numa prisão localizada no Deserto do Neguev (al-Naqab). Os prisioneiros, em cadeias israelitas, iniciaram uma greve de fome por tempo indeterminado contra um regime que permite mantê-los detidos sem acusação ou julgamento, por períodos renováveis de seis meses. O início do protesto, este domingo, por parte de prisioneiros que são membros ou apoiantes da Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP), foi confirmado pela Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos. Em declarações à agência Wafa, Hassan Abed Rabbo, porta-voz da comissão, disse que os presos decidiram avançar contra uma política que permite a Israel manter nas suas prisões, sem acusação ou julgamento, presos palestinianos por tempo indefinido, na medida em que o período de detenção, até seis meses, é infinitamente renovável. Numa mensagem divulgada há alguns dias, os presos sublinharam que a luta contra o regime de detenção administrativa continua e denunciaram que as medidas tomadas pelas autoridades prisionais israelitas «já não se baseiam em obsessões de segurança, mas são actos de vingança devido ao seu passado». Qadri Abu Baker, líder da Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos, disse à Wafa que, na próxima quinta-feira, mais 50 presos se devem juntar à greve de fome, para denunciar o regime de detenção administrativa a que são submetidos e a escalada por parte de Israel no que respeita a este procedimento. O maior número de detenções administrativas – sem julgamento ou acusação – foi decretado em Maio, quando Israel lançou uma ofensiva de 11 dias contra a Faixa de Gaza. A Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) revelou, este domingo, que o número divulgado diz respeito tanto a novas ordens como à renovação de ordens já emitidas nos territórios ocupados, pelas autoridades israelitas. No documento apresentado, o organismo lembra que política de detenção administrativa visa «esmagar os activistas políticos palestinianos» e se baseia num ficheiro secreto não acessível aos presos – nem sequer aos seus advogados –, que são mantidos na cadeia sem acusação ou julgamento, informa a WAFA. O maior número de ordens de detenção administrativa foi emitido em Maio último, quando a Israel lançou uma ofensiva de 11 dias contra a Faixa de Gaza, explicou a organização de defesa dos presos, acrescentado que, ao longo do ano, 60 prisioneiros recorreram à greve de fome com o propósito de reconquistar a liberdade. Uma comissão de apoio aos prisioneiros revelou que 13 palestinianos permaneciam em greve de fome nas cadeias, este domingo, contra o regime que permite mantê-los reclusos sem acusação ou julgamento. Num comunicado ontem emitido, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos informou que o prisioneiro Salem Ziadat, de 40 anos, é, dos 13 que continuavam o protesto, aquele que está em greve de fome há mais tempo, permanecendo em jejum há 28 dias contra a sua detenção administrativa, sem acusação ou julgamento, revelou a agência WAFA. A Comissão informou ainda que o número de reclusos palestinianos em greve de fome até ontem era de 15, mas que Mohammad Khaled Abusill e Ahmad Abdulrahman Abusill tinham chegado a um acordo com o Serviço Prisional Israelita no que respeita à «limitação» da chamada detenção administrativa. Grupos de defesa dos presos apresentaram um relatório sobre o primeiro semestre de 2021. Nas cadeias israelitas, há actualmente 4850 palestinianos, 540 dos quais ao abrigo da «detenção administrativa». Entre os palestinianos que se encontram nos cárceres de Israel, contam-se 43 mulheres e 225 menores, segundo o documento conjunto divulgado este fim-de-semana pela Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos, a Sociedade dos Presos Palestinianos, a Addameer e o Centro de Informação Wadi Hilweh. Os organismos referidos precisaram que 12 presos são membros do Conselho Legislativo Palestiniano (Parlamento), 70 são provenientes dos territórios ocupados em 1948, 350 são originários de Jerusalém ocupada e 240 da Faixa de Gaza cercada. O informe destaca a existência de 540 prisioneiros palestinianos em detenção administrativa, sem acusação formada ou julgamento, por períodos de seis meses indefinidamente renováveis. No que respeita a detenções, os organismos de defesa dos presos revelaram que Israel prendeu 5426 palestinianos entre 1 de Janeiro e 30 de Junho deste ano – um número superior a todas as detenções efectuadas pelas forças israelitas em 2020 e registadas por estas organizações: 4636. Por ocasião do Dia da Criança Palestiniana, que se assinala a 5 de Abril, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos revelou também que 140 menores permanecem em cadeias israelitas. Os menores palestinianos, alguns dos quais crianças, continuam a ser alvo das forças militares israelitas, que os prendem, muitas vezes de forma violenta, nos territórios ocupados. De acordo com um relatório publicado este domingo pela Sociedade dos Prisioneiros Palestinianos, pelo menos 230 foram detidos desde o início do ano, a maioria dos quais em Jerusalém Oriental ocupada. O grupo de defesa dos direitos dos presos sublinhou que «as crianças encarceradas são submetidas a vários tipos de abusos, incluindo «a recusa de comida e de bebida por longas horas, abuso verbal e a detenção em condições duras». O informe veio a lume na véspera do Dia da Criança Palestiniana, que se assinala a 5 de Abril, com actividades culturais, educativas e mediáticas que, refere a PressTV, visam reforçar a consciência sobre o sofrimento dos menores palestinianos. Também no âmbito do Dia da Criança Palestiniana, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos revelou que 140 menores permanecem em cadeias israelitas, incluindo dois que se encontram presos ao abrigo do regime de detenção administrativa. Uma comissão da ONU reafirmou denúncias expostas em vários relatórios sobre detenções de menores palestinianos por Israel – quase sempre presos de noite, algemados e vendados. É o início da «viagem ao inferno». A instância, composta por especialistas independentes das Nações Unidas, expressou particular preocupação pela expansão dos colonatos e o aumento da violência dos colonos israelitas, em que se incluem ataques a crianças e às suas escolas. Segundo se pode ler no portal oficial de notícias da ONU, na semana passada diversas organizações informaram a comissão sobre as operações nocturnas levadas a efeito pelas forças israelitas com o propósito de deter crianças e adolescentes na Cisjordânia ocupada, com «graves consequências para o seu bem-estar e gozo dos seus direitos». «Mais de 300 crianças estão detidas no sistema militar israelita. A maioria por delitos menores, como atirar pedras e publicações nas redes sociais», assinala a comissão, que denuncia o facto de os menores serem «levados para locais desconhecidos, presos em viaturas militares e sujeitos a ameaças e abusos verbais», bem como o facto de, por vezes, serem «obrigados a assinar confissões em hebraico, uma língua que não costumam entender». Estas preocupações reafirmam as que têm sido veiculadas, ao longo do tempo, por várias entidades, nomeadamente a Comissão dos Prisioneiros Palestinianos, órgão dependente da Autoridade Palestiniana que, em diversas ocasiões (também este ano), alertou para o facto de os menores serem torturados e sofrerem abusos nos cárceres israelitas, bem como para o facto de serem espancados, insultados e pressionados no momento da detenção. No final de Março, um relatório publicado pelo Ministério palestiniano da Informação denunciava também esta realidade, afirmando que «95% das crianças palestinianas presas pelas autoridades israelitas foram torturadas durante a detenção». De acordo com o relatório, até 2015 foram documentadas anualmente 700 detenções de menores palestinianos. Já em 2017, Israel prendeu 1467 crianças e adolescentes; 1063 no ano seguinte e, nos dois primeiros dois meses deste ano, 118. Entre 2000 e 2018, foram presos mais de 16 mil menores. Numa peça intitulada «“Endless Trip to Hell”: Israel Jails Hundreds of Palestinian Boys a Year. These Are Their Testimonies», publicada em Março e plenamente actual, o periódico israelita Haaretz aborda esta realidade, em que as crianças, algumas com idades inferiores a 13 anos, «são detidas pela calada da noite, vendadas e algemadas, alvo de abusos e constrangidas» a confessar «crimes» que não cometeram. A peça, que reúne testemunhos de sete jovens da Margem Ocidental ocupada com idades compreendidas entre os dez e os 15 anos, revela as diversas fases do processo de detenção, que começa nas operações nocturnas e passa pelo interrogatório, a prisão, o julgamento e a proposta de um acordo. Na sua maioria, os jovens são presos por, alegadamente, terem atirado pedras ou queimado pneus, mas, como sublinha a advogada Farah Bayadsi o objectivo das detenções «é mais para mostrar controlo do que para aplicar a lei». A experiência traumática é fundamentada por tudo aquilo por que as crianças passam durante uma detenção. Arrancadas de casa quando dormem, são algemadas e vendadas, levadas em veículos militares para colonatos e bases israelitas, passando por todo um processo que envolve intimidação, ameaças, agressões físicas, afastamento da família e pressão para «confessar». O nível de brutalidade varia. Khaled Mahmoud Selvi, preso quando tinha 15 anos, foi levado para a prisão e despido (o que, de acordo com o jornal, ocorre em 55% dos casos), tendo sido obrigado a permanecer dez minutos nu, em pé, durante o Inverno. De acordo com os dados recolhidos pela organização não governamental (ONG) British-Palestinian Military Court Watch, 97% dos jovens palestinianos detidos pelas forças militares israelitas (IDF) vivem em pequenas localidades a menos de dois quilómetros de um colonato. O advogado Gerard Horton, da ONG referida, afirma que a ideia é «assustar toda a aldeia» e que se trata de um «instrumento eficaz» para controlar uma comunidade. Acrescenta que, do ponto de vista dos ocupantes e opressores, a pressão «tem de ser constante»: «Cada geração tem de sentir a mão pesada das IDF.» A experiência é traumática. O pai de Khaled Shtaiwi, preso com 13 anos em Novembro do ano passado, contou ao periódico que criou na sua aldeia o «dia da psicologia», porque o seu filho não é capaz de falar sobre o que se passou e porque quer ajudar todas as crianças que foram presas pelos israelitas. Em Beit Ummar, Omar Ayyash foi preso com dez anos de idade, em Dezembro último. Agora, as crianças que brincam nas ruas da aldeia afastam-se assim que se apercebem da aproximação de soldados israelitas. Tornou-se um hábito desde que as tropas levaram Omar. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Por seu lado, a organização Defense for Children International – Palestine (DCIP) destacou que todos os anos entre 500 e 700 menores palestinianos são processados em tribunais militares israelitas e que 85% das crianças palestinianas detidas em 2020 foram «submetidas a violência física». Num comunicado, a DCIP afirma ter documentado 27 casos em que as crianças foram mantidas na solitária um ou dois dias, alegando as forças israelitas «objectivos de investigação». Esta prática é, segundo o organismo, uma forma de «tortura ou tratamento cruel, desumano e degradante». Desde Outubro de 2015, a DCIP registou a 36 ordens de detenção administrativa decretadas contra menores palestinianos, dois dos quais se mantêm nesse regime. Ainda de acordo com o organismo sediado em Genebra, em 2020, as forças israelitas mataram nove menores palestinianos na Cisjordânia ocupada, incluindo Jerusalém Oriental, e na Faixa de Gaza, seis dos quais com fogo real. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. O relatório divulgado este fim-de-semana informa que, entre os palestinianos detidos pelas forças israelitas, se incluem 854 menores e 107 mulheres, tendo sido emitidas na primeira metade do ano 680 ordens de detenção administrativa, incluindo 312 novas. No mês de Junho foram presos 615 palestinianos, revela o texto, destacando que Maio foi de longe o mês em que se registou um maior número de detenções na primeira metade deste ano. Então, mês de massacre contra Gaza e de múltiplas provocações sionistas no Complexo da Mesquita de al-Aqsa e em Jerusalém Oriental ocupada, as forças israelitas prenderam 3100 palestinianos, incluindo 2000 nos territórios ocupados em 1948 (actual Estado de Israel) e 677 em Jerusalém Oriental ocupada, informa a WAFA. De acordo com a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos, há actualmente nove presos em greve de fome nos cárceres israelitas como forma de protesto contra o regime de detenção administrativa que lhes foi aplicado. A Comissão pediu às instâncias internacionais e regionais de defesa dos direitos humanos que pressionem as autoridades israelitas no sentido de acabar com os maus-tratos aos presos em greve de fome, que passam também pela sua reclusão na solitária. Os presos palestinianos recorrem com frequência a esta forma de luta contra um regime de detenção ilegal, cujo fim exigem. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. De acordo com os grupos de defesa dos direitos dos prisioneiros palestinianos, há actualmente quase 550 nos cárceres israelitas detidos ao abrigo deste regime, que tem merecido ampla condenação internacional e que permite a Israel manter nas suas prisões, sem acusação ou julgamento, presos palestinianos por tempo indefinido, na medida em que o período de detenção, até seis meses, é infinitamente renovável. A detenção, que é decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta» – e é tão «secreta» que nem o advogado do detido tem direito a vê-la. Alguns prisioneiros palestinianos passaram mais de uma década nas cadeias israelitas ao abrigo deste regime de «detenção», que é considerado ilegal à luz do direito internacional. Como forma de protesto contra as suas detenções ilegais e para exigir que Israel ponha fim a esta prática, os presos palestinianos recorrem com frequência a greves de fome por tempo indeterminado. Apesar da pressão internacional e dos protestos dos prisioneiros, as autoridades israelitas não têm dado sinais de querer acabar com este regime. Pelo contrário, tanto a comissão referida como o Centro Palestiniano de Estudos sobre Prisioneiros têm dado conta de novas ordens de detenção administrativa e de múltiplas renovações. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Na maior parte dos casos, estavam presos ao abrigo do regime de detenção administrativa, como Hisham Abu Hawwash, de 40 anos, habitante da localidade de Dura (Cisjordânia ocupada) que se mantém há 140 dias em greve de fome e está numa situação considerada muito crítica. Nos últimos dias, as autoridades palestinianas alertaram para o estado de saúde crítico de Abu Hawwash, responsabilizaram Telavive por aquilo que lhe possa acontecer e pediram à comunidade internacional que pressione as autoridades israelitas para o libertarem. Também a Cruz Vermelha se mostrou preocupada com o caso, sublinhando a necessidade de tratar os reclusos com humanidade e de encontrar uma solução que evite «consequências irreversíveis» para Hawwash. De acordo com a SPP, este domingo cerca de 500 reclusos palestinianos presos em Israel ao abrigo do regime da detenção administrativa – criticado pela ONU – declararam o boicote aos tribunais israelitas, porque «sentem que os tribunais alinham sempre com o governo militar e as suas ordens, e não os tratam com imparcialidade». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. De acordo com a comissão, há actualmente mais de 760 presos nas cadeias israelitas sem acusação ou julgamento. A detenção, decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta», que nem o advogado do detido tem direito a ver. Cerca de 80% dos presos palestinianos neste regime são ex-presos que já passaram anos atrás das grades, revela a Wafa. Em comunicado, emitido há dias, o Ramo Penitenciário da Frente Popular para a Libertação da Palestina afirmou que «estes 30 prisioneiros, juntos, passaram quase 200 anos em detenção administrativa. Duzentos anos de cativeiro sem acusação ou julgamento por capricho dos oficiais de inteligência da ocupação». O texto, divulgado pela Samidoun (rede de solidariedade com os presos palestinianos), sublinha que se trata de uma «pena perpétua», uma vez que muitos presos são libertados durante alguns meses e são novamente detidos. «Temos um mês de liberdade por cada ano de detenção», afirmam. Dizem que são «alimentados pela dignidade» e querem que as autoridades israelitas saibam que, mesmo que os torturem e lhes provoquem dor, «que a nossa luta continua, e que semearemos alegria, vida e esperança, e que nossa luta pela liberdade e pela humanidade livre de tormentos não vai parar». Leila Khaled, membro do Comité Central da FPLP e símbolo da resistência palestiniana, anunciou uma greve de fome solidária com os presos, a quem saudou por estarem «na primeira linha do confronto a este inimigo criminoso fascista». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. De acordo com a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos, dos cerca de 4600 palestinianos actualmente presos nas cadeias israelitas, mais de 760 são reclusos sem acusação ou julgamento, cuja detenção pode ser infinitamente renovada por períodos até seis meses. A detenção, decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta», que nem o advogado do detido tem direito a ver. Após o início da greve de fome, Basil Mizher, outro advogado palestiniano detido sem acusação ou julgamento, viu ser-lhe renovada a detenção administrativa por mais três meses, no passado dia 28. Numa mensagem que Mizher escreveu no início do protesto, lida pela sua mãe numa acção solidária no campo de refugiados de Dheisheh, em Belém, o preso diz que a sua profissão é a de advogado, mas que mal se lembra dela, pois quase não a conseguiu exercer desde que se formou – foi submetido a três detenções administrativas desde que passou no exame. Em vez de ir trabalhar, foi para a prisão, lê-se no texto divulgado pela pela Samidoun (rede de solidariedade com os presos palestinianos). «Ou nos submetemos à opressão e à privação e aceitamos o roubo perpétuo da nossa liberdade e da nossa vida à vista do mundo, ou nos revoltamos contra a injustiça e derrubamos os muros do carcereiro com todas as ferramentas que temos», escreveu Basil Mizher a propósito da greve de fome, que é a «recusa da política de subordinação e domesticação». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Alguns prisioneiros palestinianos passaram mais de uma década nas cadeias israelitas ao abrigo deste sistema, e é comum os presos recorrerem a greves de fome por tempo indeterminado como forma de chamar a atenção para os seus casos e fazer pressão junto das autoridades israelitas para que os libertem. Agora, a SPP revelou também que, dos 835 palestinianos actualmente presos ao abrigo deste regime, 80 são mulheres, indica a agência Wafa. Além disso, a organização não governamental (ONG) informou que, ao longo de 2022, as autoridades israelitas emitiram 2134 ordens de detenção administrativa, 242 das quais em Novembro (o ano passado foram 1595). Desde o início de 2022 até ao fim de Novembro, as forças israelitas prenderam 6500 palestinianos, revelou a SPP, citada pela agência turca Anadolu. Entre os detidos, contavam-se 153 mulheres e 811 menores de idade acrescentou. As forças de ocupação israelitas detiveram 5300 palestinianos desde o princípio deste ano, incluindo 111 mulheres e 620 menores de idade, revelou esta segunda-feira uma organização não governamental. Em comunicado, a Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) afirmou que, com 2353 detenções registadas, Jerusalém Oriental ocupada se situa no primeiro lugar por regiões, e que Abril foi o mês com maior número de detenções (1228 casos), noticia a agência Wafa. A SPP condenou os ataques e raides israelitas contra cidades, aldeias e campos de refugiados na Cisjordânia ocupada para prender activistas, referindo que muitos palestinianos foram mortos, nesse processo, pelas balas do Exército. Neste contexto, o número de execuções extrajudiciais no terreno, em 2022, é mais elevado por comparação com anos anteriores, alertou a SPP, que também questionou os bloqueios militares a localidades e campos de refugiados palestinianos, classificando-os como uma punição colectiva. No que respeita às detenções administrativas, a organização afirmou que este ano, até à data, foram emitidas 1160. Só no mês de Agosto, foram decretadas 272, pelo que, no final de Setembro, havia cerca de 800 palestinianos nas prisões israelitas detidos sem acusação ou julgamento. Ao abrigo deste regime, os períodos de detenção podem ser infinitamente renovados por períodos até seis meses. A detenção, decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta», que nem o advogado do detido tem direito a ver. De forma reiterada, os presos palestinianos detidos sob este regime iniciam greves de fome para denunciar os seus casos e a política de detenção administrativa, exigindo a sua libertação. Diversas instâncias das Nações Unidas têm denunciado repetidamente este regime israelita de detenção, na medida em que não faculta aos detidos palestinianos as «salvaguardas jurídicas básicas» e violam o direito internacional humanitário. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Só no mês de Novembro, foram detidos 490 palestinianos, incluindo 76 menores e 12 mulheres, informaram, num relatório conjunto, a SPP, a Addameer, o Centro de Informação Wadi Hilweh e a Comissão dos Assuntos dos Presos e Ex-Presos Palestinianos. No relatório mensal a que o Middle East Monitor faz referência, as quatro organizações de defesa dos direitos presos afirmaram que, no mês passado, o maior número de detenções ocorreu em Hebron (al-Khalil; 135 casos), seguida por Jerusalém (123), Ramallah (52), Jenin e Nablus. De acordo com os grupos, há actualmente nas cadeias israelitas cerca de 4700 palestinianos presos, incluindo 34 mulheres e 150 menores. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. «A ocupação israelita e a sua administração prisional levaram a cabo o assassinato deliberado do preso Khader Adnan ao rejeitar o seu pedido de libertação, ao negligenciá-lo medicamente e ao mantê-lo na sua cela apesar da gravidade do seu estado de saúde», afirmou Shtayyeh em comunicado. Várias facções palestinianas pronunciaram-se no mesmo sentido, responsabilizando Israel pela morte de Khader Adnan e sublinhando o crime «premeditado e a sangue-frio». Por seu lado, o Ministério palestiniano dos Negócios Estrangeiros pediu uma investigação internacional sobre a morte do prisioneiro e instou o Tribunal Penal Internacional a incluir este caso no processo relativo aos crimes de guerra cometidos por Israel contra o povo palestiniano nos territórios ocupados. Para denunciar «o crime que levou à morte» de Khader Adnan numa prisão israelita, foi declarada, esta terça-feira, uma greve geral que «afecta todos os aspectos da vida», tanto na Faixa de Gaza cercada como na Margem Ocidental ocupada, incluindo Jerusalém Oriental, indica a Wafa. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Em relatórios anteriores, a SPP lembrou que esta política visa «esmagar os activistas políticos palestinianos» e se baseia num ficheiro secreto não acessível aos presos – nem sequer aos seus advogados. Alguns prisioneiros palestinianos passaram mais de uma década nas cadeias israelitas ao abrigo deste sistema, e é comum os presos recorrerem a greves de fome por tempo indeterminado como forma de chamar a atenção para os seus casos e fazer pressão junto das autoridades israelitas para que os libertem. A 2 de Maio último, Khader Adnan, de 44 anos, morreu na cadeia, quase três meses depois de ter iniciado uma greve de fome contra a sua detenção sem acusação ou julgamento. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Num comunicado de imprensa, que a Wafa cita, a Comissão exigiu «acção real e tangível, no sentido de formar um comité internacional de direitos humanos que vá imediatamente às prisões da ocupação israelita, analise o crime [de detenção administrativa] em todos os seus detalhes e observe de perto o sofrimento dos detidos administrativos, que estão presos sem quaisquer acusações ou julgamentos, e vivem à mercê dos chamados oficiais dos serviços de inteligência israelitas». «Os abusos imorais e desumanos associados à utilização desta política pela potência ocupante violam todos os princípios do direito internacional e da humanidade, e estão em contradição real com os teóricos da democracia e aqueles que afirmam ser democráticos em todo o mundo, especialmente na América e na Europa», acrescenta a nota. De acordo com os dados divulgados em Junho último pela organização israelita de defesa dos direitos B'Tselem, em Março deste ano, Israel mantinha nas suas prisões 1017 pessoas em regime de detenção administrativa. É preciso recuar duas décadas, até Abril de 2003, para encontrar um número mais elevado de detidos administrativos nas prisões israelitas – 1140 –, referiu a organização. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. «De acordo com a lei militar que se aplica na Cisjordânia, uma pessoa pode ser detida administrativamente durante seis meses, mas a ordem pode ser renovada, pelo que a reclusão na prática é indefinida e os detidos nunca sabem quando serão libertados», alertou a B'Tselem, outra organização israelita de defesa dos direitos humanos nos territórios ocupados. De forma sistemática, presos administrativos entram em greve de fome por tempo indeterminado para chamar a atenção para os seus casos e forçar a sua libertação. Em meados de Agosto, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos pediu à chamada comunidade internacional que quebre o silêncio em torno do «crime israelita da detenção administrativa». Num comunicado de imprensa, divulgado pela Wafa, a Comissão exigiu «acção real e tangível, no sentido de formar um comité internacional de direitos humanos que vá imediatamente às prisões da ocupação israelita, analise o crime [de detenção administrativa] em todos os seus detalhes e observe de perto o sofrimento dos detidos administrativos, que estão presos sem quaisquer acusações ou julgamentos, e vivem à mercê dos chamados oficiais dos serviços de inteligência israelitas». «Os abusos imorais e desumanos associados à utilização desta política pela potência ocupante violam todos os princípios do direito internacional e da humanidade, e estão em contradição real com os teóricos da democracia e aqueles que afirmam ser democráticos em todo o mundo, especialmente na América e na Europa», afirmou o organismo. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Desde 28 de Setembro de 2000 até à data, refere a Comissão, foram detidas mais de 2600 raparigas e mulheres, incluindo quatro que deram à luz na cadeia. No mesmo período, foram emitidas 32 mil ordens de detenção administrativa, a que Israel recorre para manter reclusos nas cadeias sem acusação nem julgamento, com base numa «prova secreta» que nem o advogado do detido pode ver. A Comissão registou um aumento «assinalável» no recurso a este regime, amplamente condenado a nível internacional, contra o qual os presos palestinianos protestam, de forma reiterada, entrando em greve de fome por tempo indeterminado, para exigir a sua libertação e o fim da aplicação da política de detenção referida. «De acordo com a lei militar que se aplica na Cisjordânia, uma pessoa pode ser detida administrativamente durante seis meses, mas a ordem pode ser renovada, pelo que a reclusão na prática é indefinida e os detidos nunca sabem quando serão libertados», alertou recentemente a B'Tselem, uma organização israelita de defesa dos direitos humanos nos territórios ocupados. Uma comissão da ONU reafirmou denúncias expostas em vários relatórios sobre detenções de menores palestinianos por Israel – quase sempre presos de noite, algemados e vendados. É o início da «viagem ao inferno». A instância, composta por especialistas independentes das Nações Unidas, expressou particular preocupação pela expansão dos colonatos e o aumento da violência dos colonos israelitas, em que se incluem ataques a crianças e às suas escolas. Segundo se pode ler no portal oficial de notícias da ONU, na semana passada diversas organizações informaram a comissão sobre as operações nocturnas levadas a efeito pelas forças israelitas com o propósito de deter crianças e adolescentes na Cisjordânia ocupada, com «graves consequências para o seu bem-estar e gozo dos seus direitos». «Mais de 300 crianças estão detidas no sistema militar israelita. A maioria por delitos menores, como atirar pedras e publicações nas redes sociais», assinala a comissão, que denuncia o facto de os menores serem «levados para locais desconhecidos, presos em viaturas militares e sujeitos a ameaças e abusos verbais», bem como o facto de, por vezes, serem «obrigados a assinar confissões em hebraico, uma língua que não costumam entender». Estas preocupações reafirmam as que têm sido veiculadas, ao longo do tempo, por várias entidades, nomeadamente a Comissão dos Prisioneiros Palestinianos, órgão dependente da Autoridade Palestiniana que, em diversas ocasiões (também este ano), alertou para o facto de os menores serem torturados e sofrerem abusos nos cárceres israelitas, bem como para o facto de serem espancados, insultados e pressionados no momento da detenção. No final de Março, um relatório publicado pelo Ministério palestiniano da Informação denunciava também esta realidade, afirmando que «95% das crianças palestinianas presas pelas autoridades israelitas foram torturadas durante a detenção». De acordo com o relatório, até 2015 foram documentadas anualmente 700 detenções de menores palestinianos. Já em 2017, Israel prendeu 1467 crianças e adolescentes; 1063 no ano seguinte e, nos dois primeiros dois meses deste ano, 118. Entre 2000 e 2018, foram presos mais de 16 mil menores. Numa peça intitulada «“Endless Trip to Hell”: Israel Jails Hundreds of Palestinian Boys a Year. These Are Their Testimonies», publicada em Março e plenamente actual, o periódico israelita Haaretz aborda esta realidade, em que as crianças, algumas com idades inferiores a 13 anos, «são detidas pela calada da noite, vendadas e algemadas, alvo de abusos e constrangidas» a confessar «crimes» que não cometeram. A peça, que reúne testemunhos de sete jovens da Margem Ocidental ocupada com idades compreendidas entre os dez e os 15 anos, revela as diversas fases do processo de detenção, que começa nas operações nocturnas e passa pelo interrogatório, a prisão, o julgamento e a proposta de um acordo. Na sua maioria, os jovens são presos por, alegadamente, terem atirado pedras ou queimado pneus, mas, como sublinha a advogada Farah Bayadsi o objectivo das detenções «é mais para mostrar controlo do que para aplicar a lei». A experiência traumática é fundamentada por tudo aquilo por que as crianças passam durante uma detenção. Arrancadas de casa quando dormem, são algemadas e vendadas, levadas em veículos militares para colonatos e bases israelitas, passando por todo um processo que envolve intimidação, ameaças, agressões físicas, afastamento da família e pressão para «confessar». O nível de brutalidade varia. Khaled Mahmoud Selvi, preso quando tinha 15 anos, foi levado para a prisão e despido (o que, de acordo com o jornal, ocorre em 55% dos casos), tendo sido obrigado a permanecer dez minutos nu, em pé, durante o Inverno. De acordo com os dados recolhidos pela organização não governamental (ONG) British-Palestinian Military Court Watch, 97% dos jovens palestinianos detidos pelas forças militares israelitas (IDF) vivem em pequenas localidades a menos de dois quilómetros de um colonato. O advogado Gerard Horton, da ONG referida, afirma que a ideia é «assustar toda a aldeia» e que se trata de um «instrumento eficaz» para controlar uma comunidade. Acrescenta que, do ponto de vista dos ocupantes e opressores, a pressão «tem de ser constante»: «Cada geração tem de sentir a mão pesada das IDF.» A experiência é traumática. O pai de Khaled Shtaiwi, preso com 13 anos em Novembro do ano passado, contou ao periódico que criou na sua aldeia o «dia da psicologia», porque o seu filho não é capaz de falar sobre o que se passou e porque quer ajudar todas as crianças que foram presas pelos israelitas. Em Beit Ummar, Omar Ayyash foi preso com dez anos de idade, em Dezembro último. Agora, as crianças que brincam nas ruas da aldeia afastam-se assim que se apercebem da aproximação de soldados israelitas. Tornou-se um hábito desde que as tropas levaram Omar. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. No relatório agora publicado, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos refere-se ainda ao recurso à tortura nos cárceres israelitas, bem como aos assassinatos e às «execuções lentas» por falta de cuidados médicos. Denuncia igualmente a «escalada de casos de opressão, abuso e incitação racista» contra os presos palestinianos. De acordo com o organismo, estão actualmente detidos em cadeias israelitas, nos territórios ocupados em 1948, cerca de 5200 palestinianos. Destes, 38 são mulheres e 170 são menores de idade. Há ainda mais de 1250 presos palestinianos em regime de detenção administrativa e 700 reclusos doentes, 24 dos quais com enfermidades oncológicas. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Num comunicado posterior, as Brigadas al-Qassam afirmaram ter capturado «mais de 35 soldados e civis israelitas do colonato sionista de Sderot». A operação desta manhã apanhou de surpresa o Exército da ocupação, o que está a valer múltiplas críticas ao governo de Netanyahu, em Israel. Entretanto, foi declarado o «estado de preparação para a guerra» entre as forças militares israelitas, e o ministro da Defesa, que aprovou o recrutamento de soldados na reserva, declarou o estado de emergência numa faixa de 80 quilómetros em redor da Faixa de Gaza. A agência Wafa já deu conta de bombardeamentos israelitas contra o enclave costeiro nas últimas horas, dos quais resultaram vários mortos. A mesma fonte refere que o Ministério palestiniano da Saúde colocou todas as unidades hospitalares do país em situação de emergência. De acordo com as autoridades de saúde no enclave costeiro, pelo menos 198 pessoas morreram e mais de 1600 ficaram feridas (muitas das quais em estado grave) como consequência dos bombardeamentos israelitas contra a Faixa e Gaza ao longo do dia, refere a Wafa, em retaliação contra o ataque da resistência palestiniana, esta manhã. Por seu lado, a agência Prensa Latina refere-se à morte de uma centena de israelitas e cerca de 900 feridos, no contexto da operação de grande escala da resistência palestiniana, que ocupou diversas localidades e bases militares da ocupação próximas do enclave cercado. Entretanto, a Wafa dá conta de vários ataques da parte de colonos e forças israelitas contra diversas localidades e bairros palestinianos na Cisjordânia e Jerusalém ocupadas, dos quais resultaram pelo menos um morto e um número indeterminado de feridos. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Israel retaliou com a «Operação Espadas de Ferro», com ataques aéreos sobre a Faixa de Gaza sitiada e, de acordo com a última contagem do Ministério da Saúde palestiniano, 313 habitantes de Gaza morreram na ofensiva, incluindo 20 crianças, enquanto outros 1990 palestinianos ficaram feridos no enclave. Do lado israelita, foram confirmadas até à manhã de hoje cerca de 300 pessoas mortas e 1864 feridas, das quais 19 estão em estado crítico, 326 em estado grave e as restantes em estado moderado ou ligeiro. No ano em que se assinalam os 75 anos da Nakba (catástrofe), «mais de cinco décadas depois de Israel ocupar militarmente a totalidade do território da Palestina histórica», o MPPM lembra que a campanha de limpeza étnica que acompanhou a formação de Israel se prolonga até hoje. «Em Gaza, de onde partiu esta acção, vivem cerca de 2,2 milhões de pessoas, descendentes dessas sucessivas vagas de limpeza étnica», alerta o movimento. Apesar de as Nações Unidas o considerarem «impróprio para sustentar a vida humana», desde 2006 que o Estado israelita impõe um «bloqueio criminoso» sobre aquele território. Uma ONG palestiniana e outra israelita acusam Israel de ter trabalhado para «branquear a verdade» sobre os crimes cometidos pelas suas tropas durante os protestos da Grande Marcha do Retorno, em Gaza. Num relatório conjunto, o Centro Palestiniano para os Direitos Humanos (PCHR), sediado em Gaza, e a organização israelita B'Tselem analisam as investigações que Israel diz ter levado a cabo na sequência da repressão exercida pelas forças israelitas sobre os manifestantes que, na Faixa de Gaza, reclamaram o direito de regresso dos refugiados a suas casas. Os protestos conhecidos como Grande Marcha do Retorno começaram a 30 de Março de 2018 e prolongaram-se por mais de um ano e meio. Pelo menos 200 palestinianos foram mortos e 13 500 ficaram feridos – seguindo os números por baixo, uma vez que outras fontes apontam para mais de 300 mortos e cerca de 18 mil feridos, várias dezenas dos quais menores. O vento e a chuva forte que se abateram esta semana sobre Gaza não impediram centenas de manifestantes de participarem, na sexta-feira, na última manifestação de 2019 da Grande Marcha do Retorno. Dezenas de palestinianos foram feridos esta sexta-feira pelas forças israelitas na Faixa de Gaza, quando participavam na 86.ª manifestação da Grande Marcha do Retorno, perto da vedação com que Israel isola o território palestino, segundo o Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente (MPPM). Vários dos participantes nas manifestações, segundo o MPPM, foram feridos por balas reais e revestidas de borracha, enquanto dezenas de outros sofreram de asfixia por efeito do gás lacrimogéneo disparado pelas forças de ocupação. Centenas de manifestantes participaram nos protestos apesar das adversas condições climatéricas. A Faixa de Gaza tem sido batida por vento e chuva forte na última semana, com as inundações a porem em risco cerca de 235 mil pessoas nas áreas mais baixas da Faixa de Gaza, segundo um relatório do Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA) no território palestiniano ocupado. A 30 de Março os palestinianos comemoram o Dia da Terra. Nesse dia, em 1976, no Norte de Israel, foram assassinados seis palestinianos que protestavam contra a expropriação de terras para dar lugar a aldeamentos judaicos. Cerca de 100 outras pessoas ficaram feridas e centenas foram presas durante a greve geral e as grandes manifestações de protesto que, no mesmo dia, ocorreram no território do Estado de Israel. A 30 de Março de 2018 a comemoração atingiu uma dimensão inusitada, ao tornar a celebração deste dia como o primeiro de uma «Grande Marcha do Retorno», uma reclamação do direito de regresso dos refugiados aos seus lares – tal como prescreve a resolução 194 das Nações Unidas – à Palestina histórica, de onde mais de 700 mil pessoas foram expulsas pelas tropas israelitas em 1948, durante a chamada «catástrofe» («Nakba», em árabe). Desde então o protesto repete-se semanalmente, violentamente reprimido pelas forças israelitas, incluindo com o recurso a snipers e fogo real directo. Como resultado, pelo menos 348 palestinos foram mortos em Gaza por fogo israelita desde o início das marchas, a maioria deles durante as manifestações, segundo uma contagem da AFP citada pelo MPPM. Para além disso, o Ministério da Saúde de Gaza regista mais de 18 mil feridos pelas forças repressivas sionistas. Entre as baixas contam-se crianças, mulheres, muitos adolescentes, jornalistas e trabalhadores dos serviços de saúde que tentam socorrer os manifestantes. Em Março, uma missão de averiguação da ONU concluiu que as forças israelitas cometeram violações de direitos humanos na repressão dos manifestantes em Gaza, o que pode constituir crimes de guerra. Os organizadores da Grande Marcha do Retorno anunciaram nesta quinta-feira que os protestos seriam suspensos até Março de 2020, altura em que serão retomados, coincidindo com o seu segundo aniversário e também com o Dia da Terra palestina (30 de Março). A partir daí realizar-se-ão a um ritmo mensal. Além do bloqueio a que sujeita a Faixa de Gaza, na última década Israel lançou três guerras de agressão contra o pequeno território palestino e dezenas de ataques de escala mais limitada, matando milhares de pessoas e causando enormes destruições de casas e infra-estruturas. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. As duas organizações não governamentais (ONG) acusam Israel de proteger os responsáveis políticos e militares, «em vez de tomar medidas contra as pessoas que conceberam e implementaram a política ilegal de atirar a matar». Israel foi célere a anunciar que estava a investigar os protestos, sobretudo devido aos procedimentos em curso no Tribunal Penal Internacional (TPI), afirmaram as organizações numa conferência de imprensa, a que a agência WAFA faz referência. Isso deve-se ao princípio da complementaridade do TPI, ou seja, se um Estado «estiver disposto e tiver capacidade» para realizar a investigação e a efectuar, o TPI não intervém. No entanto, não basta declarar que uma investigação está a ser feita; ela tem de ser eficaz, dirigida às altas patentes responsáveis e conduzir a uma acção contra elas, sublinham, acrescentando que isso não ocorre neste caso. «As investigações conduzidas por Israel não são mais do que uma cortina de fumo erguida para proteger do TPI os funcionários responsáveis. Israel não quer e não consegue investigar as violações de direitos humanos perpetradas pelas suas forças durante os protestos da Grande Marcha de Retorno na Faixa de Gaza. Tendo isto em conta, cabe agora ao TPI garantir a responsabilização penal», disseram as duas organizações. «Estas investigações – tal como as levadas a cabo pelo sistema de aplicação da lei militar noutros casos em que soldados causaram danos aos palestinianos – fazem parte do mecanismo de branqueamento de Israel, e o seu principal objectivo continua a ser silenciar as críticas externas, para que Israel possa continuar a implementar sua política sem mudanças», lê-se no portal da B'Tselem. A mudança da embaixada norte-americana de Telavive para Jerusalém fica associada a um «Dia de Raiva» na Palestina. Na Faixa de Gaza cercada, os franco-atiradores israelitas massacram os manifestantes. Quando o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel e a intenção de mudar a Embaixada do seu país de Telavive para essa cidade, ficou claro que tal passo constituía uma declaração de apoio ao Estado de Israel e à sua política de ocupação e repressão na Palestina, nomeadamente em Jerusalém. Várias organizações têm denunciado o número crescente de ameaças em locais religiosos não-judaicos, na cidade, bem como a intensificação do plano de «judaização» de Jerusalém Oriental, com o aumento da construção de colonatos e a expulsão da população palestiniana de suas casas, que são muitas vezes demolidas. Declarada por Israel como sua capital, Jerusalém tem o estatuto, reconhecido pelas Nações Unidas, de cidade ocupada, sendo Israel a potência ocupante (desde 1967). Os palestinianos querem-na como sua capital e quem apoia a solução dos «dois estados» reconhece que o Estado da Palestina tem em Jerusalém Oriental a sua capital. Logo em Dezembro, foi generalizado o repúdio internacional pela decisão da administração norte-americana e, a 21 desse mês, materializou-se na aprovação, por esmagadora maioria, na Assembleia Geral das Nações Unidas, de uma resolução que rejeita essa decisão e insta todos os estados-membros a não estabelecerem missões diplomáticas em Jerusalém, de acordo com a resolução 478 do Conselho de Segurança, de 1980. Esse repúdio face ao reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel também se fez sentir no interior de Israel, onde académicos, antigos embaixadores e defensores da paz enviaram uma carta a um representante de Trump, seguntou reportou o periódico Haaretz. Inicialmente, não ficou explícito que a concretização da mudança da Embaixada dos EUA para Jerusalém estaria associada ao 70.º aniversário da criação do Estado de Israel, que hoje se assinala, e que teria lugar na véspera da Nakba – a limpeza étnica levada a cabo pelas forças sionistas e pelo Estado de Israel, em que mais de 750 mil palestinianos foram expulsos das suas casas e terras –, uma «catástrofe» que todos os anos os palestinianos marcam a 15 de Maio. Na visita que efectuou em Janeiro a Israel, o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, afirmou que essa mudança deveria ocorrer no final de 2019. No entanto, a 23 de Fevereiro, o Departamento de Estado anunciou a antecipação da mudança para 14 de Maio, o que foi encarado pelos palestinianos como mais uma acção de «provocação». Em protesto contra a mudança da Embaixada dos EUA para Jerusalém, os palestinianos chamaram «Dia de Raiva» a este 14 de Maio. Nos territórios ocupados da Cisjordância, há notícia de mobilizações pelo menos em Ramallah e Hebron. Mas a grande mobilização está a ter lugar na Faixa de Gaza cercada, junto às vedações que enclausuram perto de 2 milhões de palestinianos – 80% dos quais são descendentes de refugiados – no pequeno enclave. De acordo com a PressTV, as forças militares israelitas, que reforçaram a sua presença tanto em redor de Gaza como na Margem Ocidental ocupada –, esperavam que 100 mil pessoas se manifestassem nos pontos habituais, hoje, dia da mudança da Embaixada norte-americana para Jerusalém. «os palestinianos querem mandar a mensagem de que não se adaptaram nem se vão adaptar à condição de refugiados» Sobre o culminar dos protestos pacíficos da Grande Marcha do Retorno, que se iniciaram a 30 de Março, o ministro israelita da Educação, Naftali Bennet, do partido de extrema-direita Lar Judaico, disse a uma rádio israelita que a vedação seria encarada como uma «Muralha de Ferro» e que quem se aproximasse dela seria tratado como um «terrorista», refere a PressTV. A mesma fonte indica ainda que a Força Aérea israelita lançou panfletos sobre a Faixa de Gaza, ontem e hoje, para demover os manifestantes de se aproximarem da vedação, mas sem sucesso, já que estes, segundo refere a Al Jazeera, têm estado a tentar atravessá-la, «defendendo o seu direito ao regresso, ao retorno, aconteça o que acontecer». Um membro do comité organizador da Grande Marcha do Retorno disse à Al Jazeera que, ao tentarem atravessar a vedação, «os palestinianos querem mandar a mensagem de que não se adaptaram nem se vão adaptar à condição de refugiados». Os franco-atiradores responderam de forma brutal, matando mais de quatro dezenas de pessoas que se manifestavam perto da vedação e ferindo perto de 2000, até ao momento. De acordo com a organização, os protestos de hoje e os que estão previstos para amanhã – dia da Nakba – devem ser os mais massivos, sendo o ponto culminante das sete semanas de mobilizações, fortemente reprimidas pelas forças israelitas, junto à vedação com a Faixa de Gaza. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Apesar dos milhares de feridos palestinianos resultantes da política de «atirar a matar» e de mais de centena e meia ter ficado sem membros inferiores ou superiores – as tropas israelitas usaram balas explosivas, as chamadas butterfly bullets, que se expandem no contacto com o corpo, provocando danos severos nos tecidos, nos ossos, nas veias –, nenhum destes casos foi investigado. Sem explicação, os militares decidiram investigar apenas os casos em que palestinianos foram mortos. Dos 234 casos recebidos pelos procuradores do Exército, foi completa a revisão de 143 e um deles, o da morte do adolescente Othman Hiles, de 14 anos, levou à condenação de um soldado por «abuso de autoridade ao ponto de pôr em risco a vida e a saúde». Foi condenado a um mês de serviço comunitário. No seu portal, a B'Tselem sublinha que «a conduta de Israel respeitante à investigação dos protestos em Gaza não é nova nem surpreendente», e recorda o que se passou depois da Operação Chumbo Fundido, em 2009, e da Operação Margem Protectora, em 2014. «Então, também, Israel desrespeitou o direito internacional, recusou-se a reformar a sua política apesar dos resultados letais e desviou as críticas prometendo investigar a sua conduta. Então, também, nada resultou dessa promessa», afirma. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Por outro lado, entre Março de 2018 e Dezembro de 2019, uma série de manifestações pacíficas designadas Grande Marcha do Retorno foram brutalmente reprimidas pelo exército de Israel, contabilizando-se 223 mortos e mais de nove mil feridos, sob o silêncio da comunidade internacional. «Os assaltos das forças de ocupação israelita às povoações e campos de refugiados palestinos, assim como a violência dos colonos e as prisões arbitrárias são o quotidiano com que os palestinos, homens e mulheres, jovens e menos jovens diariamente se confrontam», lembra o MPPM, salientando que, até este sábado, pelo menos 247 palestinianos, sobretudo jovens, foram mortos pelas forças israelitas e por colonos. Neste sentido, insiste que a paz no Médio Oriente e a solução da questão palestiniana «passam necessariamente por um desenlace que respeite os direitos inalienáveis» do povo palestiniano a uma pátria livre e independente, incluindo o direito de regresso dos refugiados. O MPPM rejeita os «lamentos» daqueles que «hipocritamente condenam as acções violentas de resistência dos oprimidos e se calam desde há décadas (ou pior, colaboram) perante a violência da ocupação», e entre os quais se encontra o Governo português. «Israel tem o direito de se defender. Estes ataques nada resolverão, contribuindo apenas para piorar a situação na região. Estamos solidários com Israel e oferecemos condolências pelas vítimas.», disse o ministro João Gomes Cravinho, este sábado, na rede social X. O governo palestiniano denunciou junto da ONU o assassinato de 44 menores, este ano, por soldados israelitas. Neste contexto, reclamou protecção para a infância e a responsabilização de Telavive. Numa carta enviada esta segunda-feira ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, o Ministério palestiniano dos Negócios Estrangeiros pediu protecção especial urgente para as crianças palestinianas, informa a agência Wafa. Mahmoud Samoudi, de 12 anos, foi, ontem, a vítima mortal mais recente das forças israelitas, não resistindo aos ferimentos quase duas semanas depois de ter sido atingido por uma bala no abdómen, durante uma operação militar na cidade de Jenin (Norte da Cisjordânia ocupada). Só nos últimos dias, «Israel, a potência ocupante, matou cinco crianças e jovens palestinianos, incluindo Adel Adel Daud (14 anos), Mahdi Ladadwa (17), Mahmoud Sous (17), Fayez Khaled Damdoum (17) e Ahmad Draghmeh (19)», indica o texto das autoridades palestinianas. Até 10 de Dezembro, 86 crianças foram mortas nos territórios ocupados da Palestina, fazendo de 2021 o ano mais mortífero para elas desde 2014, segundo os registos de uma organização não governamental. As forças israelitas mataram 76 crianças palestinianas este ano – 61 na Faixa de Gaza cercada e 15 na Cisjordânia ocupada, incluindo Jerusalém Oriental. Civis israelitas armados mataram duas crianças palestinianas na Cisjordânia, revela o relatório agora publicado pela Defense for Children International – Palestine (DCIP). A estas 78 crianças juntam-se sete que foram mortas por foguetes disparados incorrectamente por grupos armados palestinianos na Faixa de Gaza, e uma outra que foi morta por uma munição não detonada, cujas origens a ONG não conseguiu determinar. «Nos termos do direito internacional, a força letal intencional só se justifica em circunstâncias em que esteja presente uma ameaça directa à vida ou de ferimentos graves. No entanto, investigações e provas recolhidas pelo DCIP sugerem que as forças israelitas utilizam regularmente força letal contra crianças palestinianas em circunstâncias que podem equivaler a execuções extrajudiciais ou intencionais», lê-se relatório, traduzido pelo Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente – MPPM. Durante os 11 dias do ataque militar israelita à Faixa de Gaza, em Maio de 2021, naquilo que ficou conhecido como Operação Guardião dos Muros, as forças israelitas mataram 60 crianças palestinianas, segundo os dados recolhidos pela DCIP. «Aviões de guerra israelitas e drones armados bombardearam áreas civis densamente povoadas, matando crianças palestinianas que dormiam nas suas camas, brincavam nos seus bairros, faziam compras nas lojas perto das suas casas e celebravam o Eid al-Fitr [festa no fim do Ramadão] com as suas famílias», disse Ayed Abu Eqtaish, director do programa de responsabilização da DCIP. «A falta de vontade política da comunidade internacional para responsabilizar os funcionários israelitas garante que os soldados israelitas continuarão a matar ilegalmente crianças palestinianas com impunidade», acrescentou. A DCIP lembra que o direito humanitário internacional proíbe ataques indiscriminados e desproporcionados, e exige que todas as partes num conflito armado façam a distinção entre alvos militares, civis e objectos civis. O pico mais recente de assassinatos de crianças ocorrera em 2018, quando forças israelitas e colonos mataram crianças palestinianas a um ritmo médio superior a uma por semana (57). A maioria dessas mortes ocorreu durante os protestos da Marcha do Retorno, na Faixa de Gaza, refere o organismo. De acordo com os dados da DCIP, foram mortas 2196 crianças palestinianas, desde 2000, em resultado da presença de militares e de colonos israelitas nos territórios ocupados da Palestina. A Defense for Children International – Palestine é uma das seis organizações de direitos humanos que Israel pretende silenciar, lembra o MPPM, sublinhando que a medida tem merecido a condenação generalizada a nível internacional e foi denunciada pelo MPPM a 29 de Outubro último. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. A carta afirma que as forças de ocupação estão a utilizar «a política infame de atirar a matar» – de que resultou a morte de centenas de crianças palestinianas –, ao apontarem «deliberadamente» para a parte superior dos seus corpos. «Israel dispara deliberadamente contra os menores palestinianos com o objectivo declarado de os matar e mutilar, negando-lhes o direito à vida», lê-se no texto, sublinhando que «as crianças jamais devem ser mortas ou mutiladas», bem como a necessidade de medidas urgentes para as proteger da «escalada dos crimes israelitas». Neste sentido, o governo palestiniano exigiu medidas contra Telavive, destacando que as «evidências dos seus crimes crescentes contra as crianças palestinianas são, sem dúvida alguma, esmagadoras», violando o direito internacional e as resoluções que constituem a base da protecção das crianças nos conflitos armados. «A protecção das crianças é a maior obrigação moral, legal e política da humanidade», frisa o documento, no qual se pede à comunidade internacional que «ponha fim a este pesadelo intolerável que as nossas crianças vivem diariamente» e que tome medidas para responsabilizar Israel «pelos seus crimes horrendos». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. «Os que há décadas convivem com a ausência de qualquer real processo político conducente a uma solução que respeite os direitos do povo palestino, não têm autoridade moral para hoje se queixarem das tempestades que provocaram», defende o MPPM. Certo de que a violência poderá alastrar-se a todo o Médio Oriente, o movimento recorda que Israel, «com o apoio dos países "ocidentais" e em primeiro lugar dos Estados Unidos da América», é a maior potência militar da região e a única a dispor de armas nucleares. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Em simultâneo, revela a Wafa, têm-se registado múltiplas agressões e raides, da parte de colonos e forças istraelitas, na Margem Ocidental ocupada. Pelo menos cinco palestinianos foram ali mortos nas últimas 24 horas, em vários pontos do território ocupado. A operação israelita de larga escala segue-se à operação, lançada no sábado de manhã, por forças da resistência palestiniana na Faixa de Gaza, onde o Hamas é o elemento predominante. Segundo foi revelado então, a ala militar do Hamas lançou pelo menos 5000 rockets para aquilo que é hoje Israel. As forças da resistência derrubaram, em vários pontos, a vedação que cerca o território e atacaram os colonatos em redor por terra, mar e ar. Pelo menos 700 israelitas foram mortos nessa operação que alguma imprensa israelita classificou como «nunca vista» e mais de cem foram feitos prisioneiros, incluindo militares de alta patente. No domínio político-mediático da «comunidade internacional», o mundo predominantemente ocidental e branco, as vozes sobre «A Guerra» (só havia uma e mais nenhuma: a da Ucrânia) silenciaram-se e, nas fachadas das praças de capitais como Nova Iorque, Berlim ou Bruxelas, as bandeiras da Ucrânia foram substituídas pelas de Israel. Desde o Mandato Britânico que os palestinianos são sujeitos à opressão, que se intensificou com a construção, nas suas terras, do Estado de Israel, erguido à custa das forças paramilitares que expulsaram os palestinianos de suas casas e os mataram ou meteram em guetos. A campanha de limpeza étnica então iniciada mantém-se até hoje, sob um regime de apartheid, por via do saque de territórios e de recursos, a destruição de casas, escolas e outras infra-estruturas, e a expulsão dos palestinianos das terras onde vivem. De forma sistemática, as forças israelitas bombardeiam a Faixa de Gaza, que mantêm fechada e cercada num férreo bloqueio, com mais de dois milhões de pessoas a viver em condições insalubres, sem luz, água potável, mas «a comunidade internacional» projecta as suas bandeiras nos edifícios das suas praças quando a Palestina – reduzida ao Hamas – se ergue e rompe o cerco. Entretanto, no enorme campo de deslocados que é Gaza, cerca de 70 mil pessoas procuraram refúgio dos bombardeamentos nas 64 escolas operadas pela UNRWA – a agência da ONU para os refugiados palestinianos no Médio Oriente. Em comunicado, a UNRWA confirmou que dois alunos em escolas que opera em Khan Younis e Beit Hanoun se encontram entre os mortos. Pelo menos três escolas da organização sofreram danos provocados pelos bombardeamentos, acrescenta o texto. A UNRWA sublinhou que os civis devem ser sempre protegidos, também em período de guerra, e apelou a um cessar-fogo imediato e ao fim da violência em todo o lado. A operação das forças da resistência em território israelita continua. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Neste período, mais de 1350 palestinianos perderam a vida e mais de 6000 ficaram feridos, a grande maioria dos quais na sequência dos bombardeamentos indiscriminados da aviação israelita sobre o enclave costeiro densamente habitado, outros em ataques das forças de ocupação na Margem Ocidental, revelou esta quinta-feira o Ministério palestiniano da Saúde. Já uma agência ONU informou que mais de 338 mil pessoas foram obrigadas a fugir de suas casas devido aos bombardeamentos. Um jornalista palestiniano, Salam Mesma, perdeu a vida na terça-feira, na sequência de um bombardeamento que tirou também a vida a toda a sua família, revelou o Palestine Online. Na véspera, outros três jornalistas palestinianos foram mortos – Mohammad Soboh, Saeed al-Taweel e Hisham al-Nawajha. Taweel, que era o editor-chefe do portal noticioso Al-Khamsa, foi morto com os seus colegas quando saíram para filmar e fotografar a evacuação de um edifício que estava em risco de ser bombardeado pela aviação israelita. Foram atingidos mesmo usando os coletes e os capacetes que os identificavam claramente como jornalistas. Milhares de pessoas participaram no funeral de al-Taweed e Soboh, que perderam a vida de imediato; al-Nawajha ainda foi levado para um hospital, onde viria a falecer. Outros dois jornalistas – Ibrahim Mohammed Lafi e Mohammad Jarghoun – foram mortos quando faziam reportagens sobre a guerra no sábado, em locais diferentes da Faixa de Gaza. Também no sábado, Mohammed el-Salhi, jornalista freelancer, foi morto a na Faixa de Gaza. Já esta quarta-feira a agência Wafa revelou que o jornalista palestiniano Mohammad Fayez Abu Matar, que trabalhava para várias agências internacionais, foi morto durante um bombardeamento israelita na região de Rafah. O Sindicato dos Jornalistas Palestinianos condenou o assassinato de jornalistas na Faixa de Gaza, tendo feito um apelo a associações árabes e mundiais de jornalistas, bem como a instituições ligadas à ONU e à defesa dos direitos humanos «para que tomem medidas para proteger os jornalistas palestinianos e travem os assassinatos perpetrados de forma sistemática e por decisão oficial do governo da ocupação israelita». Milhares de sírios manifestaram-se em solidariedade com o povo palestiniano e contra a brutalidade da máquina de guerra israelita em Gaza, onde mais de 22 mil unidades habitacionais foram destruídas. Em Damasco, os manifestantes concentraram-se esta terça-feira na Praça Arnous, no centro da cidade, ergueram bandeiras palestinianas e sírias, e exibiram faixas com frases que deixam claro o total apoio do povo sírio aos palestinianos, à sua luta de libertação nacional e pela recuperação dos territórios ocupados. Os manifestantes criticaram a impunidade que os Estados Unidos conferem a Israel e a incapacidade das Nações Unidas para travar a crueldade exercida por Telavive contra o povo palestiniano, refere Fady Marouf, correspondente da Prensa Latina no país levantino. Na mobilização damascena, esta terça-feira, os manifestantes afirmaram que a propalada «invencibilidade do Exército israelita foi para sempre arrasada», na sequência da operação «Dilúvio de al-Aqsa», lançada por várias facções da resistência palestiniana em Gaza, onde o movimento Hamas é predominante. Neste mesmo contexto, enquanto edifícios emblemáticos em Nova Iorque, Berlim ou Bruxelas exibiram a bandeira israelita projectada, a Ópera de Damasco fez brilhar as cores da bandeira palestiniana, como expressão de solidariedade e unidade na luta contra um inimigo comum. A nível oficial, Parlamento, Ministério dos Negócios Estrangeiros e o partido Baath, no poder, emitiram comunicados em que reafirmaram a histórico posicionamento de apoio da parte de Damasco aos seus irmãos palestinianos, até que estes recuperem os direitos que lhes assistem, garantidos pelo Direito Internacional. Nos últimos dias, milhares de pessoas manifestaram-se em várias cidades do mundo em solidariedade com o povo palestiniano e contra um novo episódio de barbárie israelita na Faixa de Gaza – desta vez, em resposta à operação da resistência nos territórios ocupados em 1948. Houve grandes manifestações em cidades norte-americanas como Nova Iorque, Chicago, Mineápolis, Los Angeles, Atlanta, San Francisco ou Nova Jérsia, de condenação à agressão israelita contra o povo palestiniano no enclave costeiro. Neste contexto, 33 organizações estudantis universitárias dos EUA condenaram a «brutal agressão» sionista contra Gaza e a Cisjordânia, tendo responsabilizado a ocupação pela deterioração da situação, «obrigando os palestinianos a viver numa prisão a céu aberto», refere a agência Wafa. Também houve grandes mobilizações solidárias com o povo palestiniano no Reino Unido, exigindo um Estado independente para a Palestina e o fim da agressão israelita. No sábado, a resistência palestiniana quebrou a vedação que cerca o enclave e lançou uma ofensiva contra os territórios ocupados em 1948. Desde então, a aviação israelita matou mais de 430 palestinianos. De acordo com os dados divulgados pelo Ministério palestiniano da Saúde esta manhã, os bombardeamentos indiscriminados na Faixa de Gaza, conhecida como «a maior prisão a céu aberto», provocaram a morte a 436 pessoas, incluindo 91 menores, e fizeram 2271 feridos, 244 dos quais crianças. Nas últimas horas, a aviação da ocupação lançou centenas de raides contra o enclave costeiro, onde vivem mais de dois milhões de pessoas, atingindo edifícios residenciais, infra-estruturas oficiais e civis, bem como edifícios religiosos, tendo destruído pelo menos duas mesquitas, indica a agência Wafa. Só no sábado, os bombardeamentos israelitas provocaram 300 mortos, o que, segundo destaca o portal The Cradle, é o número mais elevado de palestinianos mortos em ataques aéreos da ocupação num só dia desde 2008. Enquanto se mantiver a ocupação colonial e a violência das forças militares e dos colonos, não haverá paz, alerta o Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente (MPPM). O MPPM reage assim às acções desencadeadas em Gaza e em Israel na madrugada deste sábado. Eram 4h30 em Lisboa (6h30 no local), quando militantes de organizações da resistência palestiniana lançaram, a partir da Faixa de Gaza, um ataque de surpresa, em larga escala, contra Israel, no que apelidaram de «Operação Dilúvio Al-Aqsa». Segundo as organizações, a acção foi uma resposta à profanação da Mesquita de Al-Aqsa e ao aumento da violência dos colonos, e confirma, insiste o MPPM num comunicado, «que não é possível ter uma situação de paz na Palestina e, por consequência, no Médio Oriente, continuando a espezinhar os legítimos direitos do povo palestino e persistindo em manter a ocupação colonial e a violência das forças militares e dos colonos». Diversos grupos da resistência declararam o apoio à operação lançada contra Israel, esta manhã, a partir da Faixa de Gaza, sublinhando que faz parte da luta de libertação nacional. «Fazemos parte desta batalha e os nossos combatentes estão lado a lado com os seus irmãos nas Brigadas al-Qassam (ala militar do Hamas) até à vitória», afirmou em comunicado Abu Hamza, porta-voz das Brigadas de al-Quds, braço militar da Jihad Islâmica. Em termos semelhantes, refere a Prensa Latina, se pronunciaram as Brigadas al-Nasser Salah al-Din, do Movimento de Resistência Popular: «Unidos numa trincheira neste dia glorioso do nosso povo.» Por seu lado, as Brigadas de Resistência Nacional anunciaram que os seus membros se juntaram à operação, lançada esta manhã pelo Hamas, que incluiu o lançamento de milhares de rockets e uma incursão terrestre em território ocupado em 1948. Atingido por disparos de colonos na cidade de Huwara, Labib Dumaidi, de 19 anos, é a mais recente das quatro vítimas mortais na Margem Ocidental ocupada, revelou o Ministério da Saúde. De acordo com a informação divulgada pelo Ministério, Labib Mohammed Dumaidi ficou gravemente ferido durante um ataque de colonos, ontem à noite, na cidade de Huwara, a sul de Nablus. Levado para um hospital, não resistiu aos ferimentos, já nas primeiras horas de sexta-feira. Residentes de Huwara tentaram fazer frente à provocação levada a cabo por dezenas de colonos, protegidos por forças militares israelitas, indica a Wafa. Registaram-se fortes confrontos e as tropas israelitas usaram fogo real, gás lacrimogéneo e granadas atordoantes para dispersar os palestinianos. Fontes do Crescente Vermelho Palestiniano informaram que pelo menos 25 pessoas, incluindo quatro crianças, sofreram efeitos de asfixia devido à inalação de gás lacrimogéneo. Também em Huwara, as forças israelitas mataram, ontem à tarde, outro palestiniano, cuja identidade ainda não foi revelada. Dias depois de colonos extremistas terem invadido e atacado Huwara, Bezalel Smotrich afirmou que Israel deve «aniquilar» a localidade palestiniana no Norte da Cisjordânia ocupada. «Penso que Huwara precisa de ser destruída», disse o ministro israelita das Finanças, Bezalel Smotrich, esta quarta-feira, defendendo que «o Estado devia fazê-lo e não cidadãos privados», refere a PressTV com base na imprensa israelita. As declarações do ministro de extrema-direita do governo de Benjamin Netanyahu seguem-se ao ataque perpetrado contra a localidade palestiniana, no domingo à noite, por centenas de colonos armados. Tratou-se da «resposta» à morte de dois israelitas de um colonato ilegal, executados por um atacante palestiniano de Huwara. Este ataque, por sua vez, seguiu-se ao massacre de Nablus, em que as forças de ocupação israelitas mataram 11 palestinianos e feriram mais de cem. No domingo à noite, os colonos queimaram pelo menos 150 carros, 52 casas e várias lojas. Uma pessoa foi morta e o número de feridos palestinianos é superior a 390, indica a agência Wafa. Grupos israelitas de defesa dos direitos humanos como Peace Now e B’Tselem referiram-se ao ataque dos colonos como um «pogrom» apoiado pelas autoridades de ocupação. Por seu lado, o Crescente Vermelho palestiniano acusou as forças israelitas de impedirem as ambulâncias e os paramédicos de acederem ao local do ataque, a poucos quilómetros de Nablus. No Knesset, a extrema-direita israelita considerou os ataques a Huwara «legítimos». Hussein al-Sheikh, da Comissão Executiva da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), afirmou, no Twitter, que as afirmações de Smotrich para apagar Huwara do mapa são o apelo de um «racista terrorista». Também o primeiro-ministro da Autoridade Palestiniana (AP), Mohammad Shtayyeh, se referiu às afirmações do ministro israelita como «terroristas» e «racistas», e alertou para o facto de que «fazem prever uma escalada séria» contra o povo palestiniano nos territórios ocupados. Neste sentido, pediu às Nações Unidas, à União Europeia e demais organizações internacionais que condenem as declarações de Smotrich. Antes, já tinha pedido ajuda internacional «contra os crimes de Israel». O Parlamento (da Liga) Árabe, com sede no Cairo, condenou esta quarta-feira os ataques executados por colonos israelitas contra o povo palestiniano na Cisjordânia ocupada, referindo-se em especial ao assalto à localidade de Huwara. Perante os ataques terroristas sistemáticos dos colonos contra cidadãos indefesos, com armas de fogo, incêndios de casas e viaturas, expulsão de agricultores, assassinatos e outros crimes, exortou o mundo e em especial o Conselho de Segurança da ONU a adoptar medidas para proteger o povo palestiniano. Antes, a Liga Árabe já tinha proposto que as milícias de colonos passem a ser incluídas na lista de grupos terroristas. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Na parte da manhã, as forças israelitas já tinham matado dois palestinianos, identificados como Hudhayfah Fares, de 27 anos, e Abd al-Rahman Atta, de 23, na aldeia de Shufa, na sequência de um ataque de colonos a viaturas na região de Tulkarem. De acordo com as Nações Unidas, 2023 está a ser o ano mais mortífero para os palestinianos na Margem Ocidental desde que há registo de fatalidades provocadas pelas forças de ocupação. Nabil Abu Rudeineh, porta-voz da Presidência palestiniana, disse à imprensa que a ocupação israelita pisou todas as linhas vermelhas, com a sua insistência na política de assassinatos e incursões em cidades, aldeias e acampamentos palestinianos. Numa entrevista à Palestine TV, o representante da Presidência responsabilizou o governo israelita e a administração norte-americana pelos «crimes perigosos perpetrados pela ocupação e os seus colonos por todo o território palestiniano», os mais recentes dos quais nas imediações de Nablus e Tulkarem, refere a Wafa. Apesar da «guerra implacável» que a ocupação israelita está a travar contra o povo palestiniano «à vista de todo o mundo», o responsável afirmou que isso não irá impedir «o nosso povo de prosseguir a sua luta legítima» até à «criação do seu Estado independente, com Jerusalém como capital». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Na Cisjordânia, a Cova dos Leões, um dos grupos da resistência mais activos, fez um apelo à mobilização geral dos seus membros, bem como ao «ataque imediato em todos os lugares contra as forças de ocupação e os seus colonos». Com base em fontes israelitas, a agência Prensa Latina indica que o Exército de ocupação deu conta de combates em 21 locais no Sul de Israel, na sequência da operação palestiniana – embora tenha posteriormente reduzido esse número para sete. Ao anunciar a ofensiva desta manhã (às 7h locais), o comandante das Brigadas al-Qassam, Muhammad al-Deif, disse que o grupo palestiniano disparou para território israelita 5000 rockets. Al-Deif afirmou que a operação é uma resposta aos sistemáticos crimes israelitas contra o povo palestiniano e a profanação contínua por colonos judeus da mesquita de al-Aqsa, em Jerusalém, e ocorre num contexto de escalada de agressões, da parte de colonos e forças israelitas, em Jerusalém Oriental e na Cisjordânia ocupada. A Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos registou mais de 135 mil casos de detenções, pelas forças de ocupação israelitas, desde o início da Intifada de al-Aqsa, em 2000. Num relatório emitido por ocasião do 23.º aniversário do início da Segunda Intifada ou Intifada de al-Aqsa (28 de Setembro de 2000), a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos sublinha que as detenções levadas a cabo pelas forças israelitas afectaram todas as camadas da sociedade, e não deixaram de parte menores de idade, idosos e mulheres. Dos mais de 135 mil casos registados pelo organismo, 21 mil dizem respeito a menores, indica o relatório – divulgado pela Wafa –, que dá conta da detenção de metade dos deputados do Conselho Legislativo Palestiniano (Parlamento), de vários ministros, centenas de académicos, jornalistas e funcionários de organizações da sociedade civil e instituições internacionais. Israel mantém nas suas prisões 1264 palestinianos sem acusações nem julgamento, o número mais elevado em 30 anos, revelou a ONG Hamoked. Desde a Primeira Intifada (1987-1993) que não havia tantos palestinianos detidos ao abrigo da polémica norma, alertou a organização não governamental este fim-de-semana, com base nos dados dos serviços prisionais. Jessica Montell, directora executiva da Hamoked, organização israelita que presta assistência jurídica gratuita aos palestinianos que vivem sob a ocupação, afirmou que a detenção administrativa é «massiva e arbitrária» e que Israel mantém nesse regime, sem acusação nem julgamento, mais de 1200 palestinianos, «alguns dos quais durante anos sem uma revisão eficaz». Ao abrigo deste regime, a detenção, decretada por um comandante militar, com base naquilo a que Israel chama «prova secreta» – que nem o advogado do detido tem direito a ver –, pode ser infinitamente renovada por períodos até seis meses. A Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) revelou, este domingo, que nove presos palestinianos sem acusação ou julgamento continuam em greve de fome por tempo indeterminado. Os presos Kayed al-Fasfous e Sultan Khlouf iniciaram o protesto contra a detenção administrativa há 19 dias. Por seu lado, Osama Darkouk encontra-se em greve de fome há 15 dias. Outros seis reclusos palestinianos em cadeias israelitas estão em greve de fome há 12 dias: Hadi Nazzal, Mohammad Taysir Zakarneh, Anas Kmail, Abdelrahman Baraka, Mohammad Basem Ikhmis e Zuhdi Abdo, informa a agência Wafa, com base na SPP. Na semana passada, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos pediu à chamada comunidade internacional que quebre o silêncio em torno do «crime israelita da detenção administrativa», que permite manter na cadeia presos sem acusação ou julgamento, numa clara violação das normas internacionais. Ao abrigo deste regime, a detenção, decretada por um comandante militar, com base naquilo a que Israel chama «prova secreta» – que nem o advogado do detido tem direito a ver –, pode ser infinitamente renovada por períodos até seis meses. A Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) revelou, esta segunda-feira, que quatro presos palestinianos sem acusação ou julgamento tinham iniciado há nove dias uma greve de fome por tempo indeterminado. Em comunicado divulgado pela Wafa, a SPP indicou que Anas Ibrahim Shadid, de 26 anos, Mahmoud Abdel Halim Talahma, de 32, Abdullah Mohammad Abido, de 36, e Mohammad Ahmad Dandis, de 25, iniciaram o protesto para denunciar a sua detenção sem acusação ou julgamento. Acrescentou que todos os detidos estão na cadeia israelita de Ofer, perto de Ramallah, e são originários da província de Hebron (al-Khalil), no Sul da Cisjordânia ocupada. A organização de defesa dos direitos dos presos informa que Shadid foi preso três vezes, sempre no regime de detenção administrativa, tendo passado, no total, três anos atrás das grades. Durante esses períodos, levou a cabo duas greves de fome, uma delas com a duração de 90 dias, em 2016. Os prisioneiros iniciaram uma greve de fome, há uma semana, para exigir a sua libertação e denunciar um regime de detenção que permite mantê-los na cadeia sem acusação ou julgamento. O protesto dos trinta presos palestinianos, membros e simpatizantes da Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP), completou uma semana sem solução aparente à vista, tendo em conta a inflexibilidade das autoridades de Telavive. Em comunicado, a Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) anunciou que os serviços prisionais israelitas têm estado a ameaçar com castigos os reclusos que lutam contra o regime de detenção administrativa. Entre as punições, contam-se privá-los de visitas, retirar-lhes os seus pertences e isolá-los em celas de castigo. Nesta primeira semana de protesto, os serviços prisionais israelitas colocaram 28 dos grevistas em quatro celas de isolamento na prisão de Ofer, informa a Wafa com base no documento divulgado pelo SPP. Um outro, o advogado Salah Hammouri, foi metido na solitária numa cadeia no Norte de Israel, enquanto Ghassan Zawahreh foi levado para uma cela de isolamento numa prisão localizada no Deserto do Neguev (al-Naqab). Os prisioneiros, em cadeias israelitas, iniciaram uma greve de fome por tempo indeterminado contra um regime que permite mantê-los detidos sem acusação ou julgamento, por períodos renováveis de seis meses. O início do protesto, este domingo, por parte de prisioneiros que são membros ou apoiantes da Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP), foi confirmado pela Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos. Em declarações à agência Wafa, Hassan Abed Rabbo, porta-voz da comissão, disse que os presos decidiram avançar contra uma política que permite a Israel manter nas suas prisões, sem acusação ou julgamento, presos palestinianos por tempo indefinido, na medida em que o período de detenção, até seis meses, é infinitamente renovável. Numa mensagem divulgada há alguns dias, os presos sublinharam que a luta contra o regime de detenção administrativa continua e denunciaram que as medidas tomadas pelas autoridades prisionais israelitas «já não se baseiam em obsessões de segurança, mas são actos de vingança devido ao seu passado». Qadri Abu Baker, líder da Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos, disse à Wafa que, na próxima quinta-feira, mais 50 presos se devem juntar à greve de fome, para denunciar o regime de detenção administrativa a que são submetidos e a escalada por parte de Israel no que respeita a este procedimento. O maior número de detenções administrativas – sem julgamento ou acusação – foi decretado em Maio, quando Israel lançou uma ofensiva de 11 dias contra a Faixa de Gaza. A Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) revelou, este domingo, que o número divulgado diz respeito tanto a novas ordens como à renovação de ordens já emitidas nos territórios ocupados, pelas autoridades israelitas. No documento apresentado, o organismo lembra que política de detenção administrativa visa «esmagar os activistas políticos palestinianos» e se baseia num ficheiro secreto não acessível aos presos – nem sequer aos seus advogados –, que são mantidos na cadeia sem acusação ou julgamento, informa a WAFA. O maior número de ordens de detenção administrativa foi emitido em Maio último, quando a Israel lançou uma ofensiva de 11 dias contra a Faixa de Gaza, explicou a organização de defesa dos presos, acrescentado que, ao longo do ano, 60 prisioneiros recorreram à greve de fome com o propósito de reconquistar a liberdade. Uma comissão de apoio aos prisioneiros revelou que 13 palestinianos permaneciam em greve de fome nas cadeias, este domingo, contra o regime que permite mantê-los reclusos sem acusação ou julgamento. Num comunicado ontem emitido, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos informou que o prisioneiro Salem Ziadat, de 40 anos, é, dos 13 que continuavam o protesto, aquele que está em greve de fome há mais tempo, permanecendo em jejum há 28 dias contra a sua detenção administrativa, sem acusação ou julgamento, revelou a agência WAFA. A Comissão informou ainda que o número de reclusos palestinianos em greve de fome até ontem era de 15, mas que Mohammad Khaled Abusill e Ahmad Abdulrahman Abusill tinham chegado a um acordo com o Serviço Prisional Israelita no que respeita à «limitação» da chamada detenção administrativa. Grupos de defesa dos presos apresentaram um relatório sobre o primeiro semestre de 2021. Nas cadeias israelitas, há actualmente 4850 palestinianos, 540 dos quais ao abrigo da «detenção administrativa». Entre os palestinianos que se encontram nos cárceres de Israel, contam-se 43 mulheres e 225 menores, segundo o documento conjunto divulgado este fim-de-semana pela Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos, a Sociedade dos Presos Palestinianos, a Addameer e o Centro de Informação Wadi Hilweh. Os organismos referidos precisaram que 12 presos são membros do Conselho Legislativo Palestiniano (Parlamento), 70 são provenientes dos territórios ocupados em 1948, 350 são originários de Jerusalém ocupada e 240 da Faixa de Gaza cercada. O informe destaca a existência de 540 prisioneiros palestinianos em detenção administrativa, sem acusação formada ou julgamento, por períodos de seis meses indefinidamente renováveis. No que respeita a detenções, os organismos de defesa dos presos revelaram que Israel prendeu 5426 palestinianos entre 1 de Janeiro e 30 de Junho deste ano – um número superior a todas as detenções efectuadas pelas forças israelitas em 2020 e registadas por estas organizações: 4636. Por ocasião do Dia da Criança Palestiniana, que se assinala a 5 de Abril, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos revelou também que 140 menores permanecem em cadeias israelitas. Os menores palestinianos, alguns dos quais crianças, continuam a ser alvo das forças militares israelitas, que os prendem, muitas vezes de forma violenta, nos territórios ocupados. De acordo com um relatório publicado este domingo pela Sociedade dos Prisioneiros Palestinianos, pelo menos 230 foram detidos desde o início do ano, a maioria dos quais em Jerusalém Oriental ocupada. O grupo de defesa dos direitos dos presos sublinhou que «as crianças encarceradas são submetidas a vários tipos de abusos, incluindo «a recusa de comida e de bebida por longas horas, abuso verbal e a detenção em condições duras». O informe veio a lume na véspera do Dia da Criança Palestiniana, que se assinala a 5 de Abril, com actividades culturais, educativas e mediáticas que, refere a PressTV, visam reforçar a consciência sobre o sofrimento dos menores palestinianos. Também no âmbito do Dia da Criança Palestiniana, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos revelou que 140 menores permanecem em cadeias israelitas, incluindo dois que se encontram presos ao abrigo do regime de detenção administrativa. Uma comissão da ONU reafirmou denúncias expostas em vários relatórios sobre detenções de menores palestinianos por Israel – quase sempre presos de noite, algemados e vendados. É o início da «viagem ao inferno». A instância, composta por especialistas independentes das Nações Unidas, expressou particular preocupação pela expansão dos colonatos e o aumento da violência dos colonos israelitas, em que se incluem ataques a crianças e às suas escolas. Segundo se pode ler no portal oficial de notícias da ONU, na semana passada diversas organizações informaram a comissão sobre as operações nocturnas levadas a efeito pelas forças israelitas com o propósito de deter crianças e adolescentes na Cisjordânia ocupada, com «graves consequências para o seu bem-estar e gozo dos seus direitos». «Mais de 300 crianças estão detidas no sistema militar israelita. A maioria por delitos menores, como atirar pedras e publicações nas redes sociais», assinala a comissão, que denuncia o facto de os menores serem «levados para locais desconhecidos, presos em viaturas militares e sujeitos a ameaças e abusos verbais», bem como o facto de, por vezes, serem «obrigados a assinar confissões em hebraico, uma língua que não costumam entender». Estas preocupações reafirmam as que têm sido veiculadas, ao longo do tempo, por várias entidades, nomeadamente a Comissão dos Prisioneiros Palestinianos, órgão dependente da Autoridade Palestiniana que, em diversas ocasiões (também este ano), alertou para o facto de os menores serem torturados e sofrerem abusos nos cárceres israelitas, bem como para o facto de serem espancados, insultados e pressionados no momento da detenção. No final de Março, um relatório publicado pelo Ministério palestiniano da Informação denunciava também esta realidade, afirmando que «95% das crianças palestinianas presas pelas autoridades israelitas foram torturadas durante a detenção». De acordo com o relatório, até 2015 foram documentadas anualmente 700 detenções de menores palestinianos. Já em 2017, Israel prendeu 1467 crianças e adolescentes; 1063 no ano seguinte e, nos dois primeiros dois meses deste ano, 118. Entre 2000 e 2018, foram presos mais de 16 mil menores. Numa peça intitulada «“Endless Trip to Hell”: Israel Jails Hundreds of Palestinian Boys a Year. These Are Their Testimonies», publicada em Março e plenamente actual, o periódico israelita Haaretz aborda esta realidade, em que as crianças, algumas com idades inferiores a 13 anos, «são detidas pela calada da noite, vendadas e algemadas, alvo de abusos e constrangidas» a confessar «crimes» que não cometeram. A peça, que reúne testemunhos de sete jovens da Margem Ocidental ocupada com idades compreendidas entre os dez e os 15 anos, revela as diversas fases do processo de detenção, que começa nas operações nocturnas e passa pelo interrogatório, a prisão, o julgamento e a proposta de um acordo. Na sua maioria, os jovens são presos por, alegadamente, terem atirado pedras ou queimado pneus, mas, como sublinha a advogada Farah Bayadsi o objectivo das detenções «é mais para mostrar controlo do que para aplicar a lei». A experiência traumática é fundamentada por tudo aquilo por que as crianças passam durante uma detenção. Arrancadas de casa quando dormem, são algemadas e vendadas, levadas em veículos militares para colonatos e bases israelitas, passando por todo um processo que envolve intimidação, ameaças, agressões físicas, afastamento da família e pressão para «confessar». O nível de brutalidade varia. Khaled Mahmoud Selvi, preso quando tinha 15 anos, foi levado para a prisão e despido (o que, de acordo com o jornal, ocorre em 55% dos casos), tendo sido obrigado a permanecer dez minutos nu, em pé, durante o Inverno. De acordo com os dados recolhidos pela organização não governamental (ONG) British-Palestinian Military Court Watch, 97% dos jovens palestinianos detidos pelas forças militares israelitas (IDF) vivem em pequenas localidades a menos de dois quilómetros de um colonato. O advogado Gerard Horton, da ONG referida, afirma que a ideia é «assustar toda a aldeia» e que se trata de um «instrumento eficaz» para controlar uma comunidade. Acrescenta que, do ponto de vista dos ocupantes e opressores, a pressão «tem de ser constante»: «Cada geração tem de sentir a mão pesada das IDF.» A experiência é traumática. O pai de Khaled Shtaiwi, preso com 13 anos em Novembro do ano passado, contou ao periódico que criou na sua aldeia o «dia da psicologia», porque o seu filho não é capaz de falar sobre o que se passou e porque quer ajudar todas as crianças que foram presas pelos israelitas. Em Beit Ummar, Omar Ayyash foi preso com dez anos de idade, em Dezembro último. Agora, as crianças que brincam nas ruas da aldeia afastam-se assim que se apercebem da aproximação de soldados israelitas. Tornou-se um hábito desde que as tropas levaram Omar. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Por seu lado, a organização Defense for Children International – Palestine (DCIP) destacou que todos os anos entre 500 e 700 menores palestinianos são processados em tribunais militares israelitas e que 85% das crianças palestinianas detidas em 2020 foram «submetidas a violência física». Num comunicado, a DCIP afirma ter documentado 27 casos em que as crianças foram mantidas na solitária um ou dois dias, alegando as forças israelitas «objectivos de investigação». Esta prática é, segundo o organismo, uma forma de «tortura ou tratamento cruel, desumano e degradante». Desde Outubro de 2015, a DCIP registou a 36 ordens de detenção administrativa decretadas contra menores palestinianos, dois dos quais se mantêm nesse regime. Ainda de acordo com o organismo sediado em Genebra, em 2020, as forças israelitas mataram nove menores palestinianos na Cisjordânia ocupada, incluindo Jerusalém Oriental, e na Faixa de Gaza, seis dos quais com fogo real. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. O relatório divulgado este fim-de-semana informa que, entre os palestinianos detidos pelas forças israelitas, se incluem 854 menores e 107 mulheres, tendo sido emitidas na primeira metade do ano 680 ordens de detenção administrativa, incluindo 312 novas. No mês de Junho foram presos 615 palestinianos, revela o texto, destacando que Maio foi de longe o mês em que se registou um maior número de detenções na primeira metade deste ano. Então, mês de massacre contra Gaza e de múltiplas provocações sionistas no Complexo da Mesquita de al-Aqsa e em Jerusalém Oriental ocupada, as forças israelitas prenderam 3100 palestinianos, incluindo 2000 nos territórios ocupados em 1948 (actual Estado de Israel) e 677 em Jerusalém Oriental ocupada, informa a WAFA. De acordo com a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos, há actualmente nove presos em greve de fome nos cárceres israelitas como forma de protesto contra o regime de detenção administrativa que lhes foi aplicado. A Comissão pediu às instâncias internacionais e regionais de defesa dos direitos humanos que pressionem as autoridades israelitas no sentido de acabar com os maus-tratos aos presos em greve de fome, que passam também pela sua reclusão na solitária. Os presos palestinianos recorrem com frequência a esta forma de luta contra um regime de detenção ilegal, cujo fim exigem. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. De acordo com os grupos de defesa dos direitos dos prisioneiros palestinianos, há actualmente quase 550 nos cárceres israelitas detidos ao abrigo deste regime, que tem merecido ampla condenação internacional e que permite a Israel manter nas suas prisões, sem acusação ou julgamento, presos palestinianos por tempo indefinido, na medida em que o período de detenção, até seis meses, é infinitamente renovável. A detenção, que é decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta» – e é tão «secreta» que nem o advogado do detido tem direito a vê-la. Alguns prisioneiros palestinianos passaram mais de uma década nas cadeias israelitas ao abrigo deste regime de «detenção», que é considerado ilegal à luz do direito internacional. Como forma de protesto contra as suas detenções ilegais e para exigir que Israel ponha fim a esta prática, os presos palestinianos recorrem com frequência a greves de fome por tempo indeterminado. Apesar da pressão internacional e dos protestos dos prisioneiros, as autoridades israelitas não têm dado sinais de querer acabar com este regime. Pelo contrário, tanto a comissão referida como o Centro Palestiniano de Estudos sobre Prisioneiros têm dado conta de novas ordens de detenção administrativa e de múltiplas renovações. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Na maior parte dos casos, estavam presos ao abrigo do regime de detenção administrativa, como Hisham Abu Hawwash, de 40 anos, habitante da localidade de Dura (Cisjordânia ocupada) que se mantém há 140 dias em greve de fome e está numa situação considerada muito crítica. Nos últimos dias, as autoridades palestinianas alertaram para o estado de saúde crítico de Abu Hawwash, responsabilizaram Telavive por aquilo que lhe possa acontecer e pediram à comunidade internacional que pressione as autoridades israelitas para o libertarem. Também a Cruz Vermelha se mostrou preocupada com o caso, sublinhando a necessidade de tratar os reclusos com humanidade e de encontrar uma solução que evite «consequências irreversíveis» para Hawwash. De acordo com a SPP, este domingo cerca de 500 reclusos palestinianos presos em Israel ao abrigo do regime da detenção administrativa – criticado pela ONU – declararam o boicote aos tribunais israelitas, porque «sentem que os tribunais alinham sempre com o governo militar e as suas ordens, e não os tratam com imparcialidade». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. De acordo com a comissão, há actualmente mais de 760 presos nas cadeias israelitas sem acusação ou julgamento. A detenção, decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta», que nem o advogado do detido tem direito a ver. Cerca de 80% dos presos palestinianos neste regime são ex-presos que já passaram anos atrás das grades, revela a Wafa. Em comunicado, emitido há dias, o Ramo Penitenciário da Frente Popular para a Libertação da Palestina afirmou que «estes 30 prisioneiros, juntos, passaram quase 200 anos em detenção administrativa. Duzentos anos de cativeiro sem acusação ou julgamento por capricho dos oficiais de inteligência da ocupação». O texto, divulgado pela Samidoun (rede de solidariedade com os presos palestinianos), sublinha que se trata de uma «pena perpétua», uma vez que muitos presos são libertados durante alguns meses e são novamente detidos. «Temos um mês de liberdade por cada ano de detenção», afirmam. Dizem que são «alimentados pela dignidade» e querem que as autoridades israelitas saibam que, mesmo que os torturem e lhes provoquem dor, «que a nossa luta continua, e que semearemos alegria, vida e esperança, e que nossa luta pela liberdade e pela humanidade livre de tormentos não vai parar». Leila Khaled, membro do Comité Central da FPLP e símbolo da resistência palestiniana, anunciou uma greve de fome solidária com os presos, a quem saudou por estarem «na primeira linha do confronto a este inimigo criminoso fascista». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. De acordo com a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos, dos cerca de 4600 palestinianos actualmente presos nas cadeias israelitas, mais de 760 são reclusos sem acusação ou julgamento, cuja detenção pode ser infinitamente renovada por períodos até seis meses. A detenção, decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta», que nem o advogado do detido tem direito a ver. Após o início da greve de fome, Basil Mizher, outro advogado palestiniano detido sem acusação ou julgamento, viu ser-lhe renovada a detenção administrativa por mais três meses, no passado dia 28. Numa mensagem que Mizher escreveu no início do protesto, lida pela sua mãe numa acção solidária no campo de refugiados de Dheisheh, em Belém, o preso diz que a sua profissão é a de advogado, mas que mal se lembra dela, pois quase não a conseguiu exercer desde que se formou – foi submetido a três detenções administrativas desde que passou no exame. Em vez de ir trabalhar, foi para a prisão, lê-se no texto divulgado pela pela Samidoun (rede de solidariedade com os presos palestinianos). «Ou nos submetemos à opressão e à privação e aceitamos o roubo perpétuo da nossa liberdade e da nossa vida à vista do mundo, ou nos revoltamos contra a injustiça e derrubamos os muros do carcereiro com todas as ferramentas que temos», escreveu Basil Mizher a propósito da greve de fome, que é a «recusa da política de subordinação e domesticação». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Talahma, detido desde Março de 2022, é um advogado e antigo prisioneiro, que passou dois anos e meio nas cadeias israelitas. Abido é também um antigo prisioneiro, que passou cinco anos e meio nas prisões da ocupação – a maior parte do tempo ao abrigo do regime de detenção administrativa. Por seu lado, Dandis foi preso pela primeira vez a 23 de Março último, tendo-lhe sido imposta uma detenção administrativa por um período de seis meses. Este protesto ocorre num contexto em que Israel intensifica o recurso às detenções sem acusação ou julgamento. Segundo revelou a SPP, existem actualmente nas cadeias israelitas 1083 presos palestinianos a quem foi aplicado este regime de detenção, 17 dos quais são menores. O regime de detenção administrativa, que tem merecido ampla condenação internacional, permite a Israel manter nas suas prisões, sem acusação ou julgamento, presos palestinianos por tempo indefinido, na medida em que o período de detenção, até seis meses, é infinitamente renovável. O primeiro-ministro palestiniano, Mohammad Shtayyeh, responsabilizou Israel pelo «assassinato» de Khader Adnan, ao não atender ao protesto contra a sua detenção sem acusação ou julgamento. A Sociedade de Prisioneiros Palestinianos (SPP) afirmou, em comunicado, que Khader Adnan, de 44 anos, foi encontrado inconsciente esta madrugada na sua cela, tendo sido levado para um hospital, onde foi declarado morto. Adnan, natural da cidade de Arraba (perto de Jenin), foi preso 12 vezes ao longo da sua vida, tendo recorrido à greve de fome em diversas ocasiões para protestar contra as suas detenções sem qualquer acusação, afirmou a SPP, citada pela agência Wafa. A última detenção ocorreu a 5 de Fevereiro e Adnan entrou de imediato em greve de fome por tempo indeterminado, refere a fonte, acrescentando que pelo menos 236 presos palestinianos morreram desde 1967. Ao ter conhecimento da notícia, o primeiro-ministro palestiniano, Mohammad Shtayyeh, acusou Israel de ter cometido um assassinato. O número foi destacado pela Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) em conferência de imprensa. A maior parte encontra-se nos centros de detenção de Ofer e de Naqab (Neguev). O regime de detenção administrativa, que tem merecido ampla condenação internacional – até do Departamento de Estado norte-americano e da Amnistia Internacional –, permite a Israel manter nas suas prisões, sem acusação ou julgamento, presos palestinianos por tempo indefinido, na medida em que o período de detenção, até seis meses, é infinitamente renovável. Em relatórios anteriores, a SPP lembrou que esta política visa «esmagar os activistas políticos palestinianos» e se baseia num ficheiro secreto não acessível aos presos – nem sequer aos seus advogados. Os prisioneiros iniciaram uma greve de fome, há uma semana, para exigir a sua libertação e denunciar um regime de detenção que permite mantê-los na cadeia sem acusação ou julgamento. O protesto dos trinta presos palestinianos, membros e simpatizantes da Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP), completou uma semana sem solução aparente à vista, tendo em conta a inflexibilidade das autoridades de Telavive. Em comunicado, a Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) anunciou que os serviços prisionais israelitas têm estado a ameaçar com castigos os reclusos que lutam contra o regime de detenção administrativa. Entre as punições, contam-se privá-los de visitas, retirar-lhes os seus pertences e isolá-los em celas de castigo. Nesta primeira semana de protesto, os serviços prisionais israelitas colocaram 28 dos grevistas em quatro celas de isolamento na prisão de Ofer, informa a Wafa com base no documento divulgado pelo SPP. Um outro, o advogado Salah Hammouri, foi metido na solitária numa cadeia no Norte de Israel, enquanto Ghassan Zawahreh foi levado para uma cela de isolamento numa prisão localizada no Deserto do Neguev (al-Naqab). Os prisioneiros, em cadeias israelitas, iniciaram uma greve de fome por tempo indeterminado contra um regime que permite mantê-los detidos sem acusação ou julgamento, por períodos renováveis de seis meses. O início do protesto, este domingo, por parte de prisioneiros que são membros ou apoiantes da Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP), foi confirmado pela Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos. Em declarações à agência Wafa, Hassan Abed Rabbo, porta-voz da comissão, disse que os presos decidiram avançar contra uma política que permite a Israel manter nas suas prisões, sem acusação ou julgamento, presos palestinianos por tempo indefinido, na medida em que o período de detenção, até seis meses, é infinitamente renovável. Numa mensagem divulgada há alguns dias, os presos sublinharam que a luta contra o regime de detenção administrativa continua e denunciaram que as medidas tomadas pelas autoridades prisionais israelitas «já não se baseiam em obsessões de segurança, mas são actos de vingança devido ao seu passado». Qadri Abu Baker, líder da Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos, disse à Wafa que, na próxima quinta-feira, mais 50 presos se devem juntar à greve de fome, para denunciar o regime de detenção administrativa a que são submetidos e a escalada por parte de Israel no que respeita a este procedimento. O maior número de detenções administrativas – sem julgamento ou acusação – foi decretado em Maio, quando Israel lançou uma ofensiva de 11 dias contra a Faixa de Gaza. A Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) revelou, este domingo, que o número divulgado diz respeito tanto a novas ordens como à renovação de ordens já emitidas nos territórios ocupados, pelas autoridades israelitas. No documento apresentado, o organismo lembra que política de detenção administrativa visa «esmagar os activistas políticos palestinianos» e se baseia num ficheiro secreto não acessível aos presos – nem sequer aos seus advogados –, que são mantidos na cadeia sem acusação ou julgamento, informa a WAFA. O maior número de ordens de detenção administrativa foi emitido em Maio último, quando a Israel lançou uma ofensiva de 11 dias contra a Faixa de Gaza, explicou a organização de defesa dos presos, acrescentado que, ao longo do ano, 60 prisioneiros recorreram à greve de fome com o propósito de reconquistar a liberdade. Uma comissão de apoio aos prisioneiros revelou que 13 palestinianos permaneciam em greve de fome nas cadeias, este domingo, contra o regime que permite mantê-los reclusos sem acusação ou julgamento. Num comunicado ontem emitido, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos informou que o prisioneiro Salem Ziadat, de 40 anos, é, dos 13 que continuavam o protesto, aquele que está em greve de fome há mais tempo, permanecendo em jejum há 28 dias contra a sua detenção administrativa, sem acusação ou julgamento, revelou a agência WAFA. A Comissão informou ainda que o número de reclusos palestinianos em greve de fome até ontem era de 15, mas que Mohammad Khaled Abusill e Ahmad Abdulrahman Abusill tinham chegado a um acordo com o Serviço Prisional Israelita no que respeita à «limitação» da chamada detenção administrativa. Grupos de defesa dos presos apresentaram um relatório sobre o primeiro semestre de 2021. Nas cadeias israelitas, há actualmente 4850 palestinianos, 540 dos quais ao abrigo da «detenção administrativa». Entre os palestinianos que se encontram nos cárceres de Israel, contam-se 43 mulheres e 225 menores, segundo o documento conjunto divulgado este fim-de-semana pela Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos, a Sociedade dos Presos Palestinianos, a Addameer e o Centro de Informação Wadi Hilweh. Os organismos referidos precisaram que 12 presos são membros do Conselho Legislativo Palestiniano (Parlamento), 70 são provenientes dos territórios ocupados em 1948, 350 são originários de Jerusalém ocupada e 240 da Faixa de Gaza cercada. O informe destaca a existência de 540 prisioneiros palestinianos em detenção administrativa, sem acusação formada ou julgamento, por períodos de seis meses indefinidamente renováveis. No que respeita a detenções, os organismos de defesa dos presos revelaram que Israel prendeu 5426 palestinianos entre 1 de Janeiro e 30 de Junho deste ano – um número superior a todas as detenções efectuadas pelas forças israelitas em 2020 e registadas por estas organizações: 4636. Por ocasião do Dia da Criança Palestiniana, que se assinala a 5 de Abril, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos revelou também que 140 menores permanecem em cadeias israelitas. Os menores palestinianos, alguns dos quais crianças, continuam a ser alvo das forças militares israelitas, que os prendem, muitas vezes de forma violenta, nos territórios ocupados. De acordo com um relatório publicado este domingo pela Sociedade dos Prisioneiros Palestinianos, pelo menos 230 foram detidos desde o início do ano, a maioria dos quais em Jerusalém Oriental ocupada. O grupo de defesa dos direitos dos presos sublinhou que «as crianças encarceradas são submetidas a vários tipos de abusos, incluindo «a recusa de comida e de bebida por longas horas, abuso verbal e a detenção em condições duras». O informe veio a lume na véspera do Dia da Criança Palestiniana, que se assinala a 5 de Abril, com actividades culturais, educativas e mediáticas que, refere a PressTV, visam reforçar a consciência sobre o sofrimento dos menores palestinianos. Também no âmbito do Dia da Criança Palestiniana, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos revelou que 140 menores permanecem em cadeias israelitas, incluindo dois que se encontram presos ao abrigo do regime de detenção administrativa. Uma comissão da ONU reafirmou denúncias expostas em vários relatórios sobre detenções de menores palestinianos por Israel – quase sempre presos de noite, algemados e vendados. É o início da «viagem ao inferno». A instância, composta por especialistas independentes das Nações Unidas, expressou particular preocupação pela expansão dos colonatos e o aumento da violência dos colonos israelitas, em que se incluem ataques a crianças e às suas escolas. Segundo se pode ler no portal oficial de notícias da ONU, na semana passada diversas organizações informaram a comissão sobre as operações nocturnas levadas a efeito pelas forças israelitas com o propósito de deter crianças e adolescentes na Cisjordânia ocupada, com «graves consequências para o seu bem-estar e gozo dos seus direitos». «Mais de 300 crianças estão detidas no sistema militar israelita. A maioria por delitos menores, como atirar pedras e publicações nas redes sociais», assinala a comissão, que denuncia o facto de os menores serem «levados para locais desconhecidos, presos em viaturas militares e sujeitos a ameaças e abusos verbais», bem como o facto de, por vezes, serem «obrigados a assinar confissões em hebraico, uma língua que não costumam entender». Estas preocupações reafirmam as que têm sido veiculadas, ao longo do tempo, por várias entidades, nomeadamente a Comissão dos Prisioneiros Palestinianos, órgão dependente da Autoridade Palestiniana que, em diversas ocasiões (também este ano), alertou para o facto de os menores serem torturados e sofrerem abusos nos cárceres israelitas, bem como para o facto de serem espancados, insultados e pressionados no momento da detenção. No final de Março, um relatório publicado pelo Ministério palestiniano da Informação denunciava também esta realidade, afirmando que «95% das crianças palestinianas presas pelas autoridades israelitas foram torturadas durante a detenção». De acordo com o relatório, até 2015 foram documentadas anualmente 700 detenções de menores palestinianos. Já em 2017, Israel prendeu 1467 crianças e adolescentes; 1063 no ano seguinte e, nos dois primeiros dois meses deste ano, 118. Entre 2000 e 2018, foram presos mais de 16 mil menores. Numa peça intitulada «“Endless Trip to Hell”: Israel Jails Hundreds of Palestinian Boys a Year. These Are Their Testimonies», publicada em Março e plenamente actual, o periódico israelita Haaretz aborda esta realidade, em que as crianças, algumas com idades inferiores a 13 anos, «são detidas pela calada da noite, vendadas e algemadas, alvo de abusos e constrangidas» a confessar «crimes» que não cometeram. A peça, que reúne testemunhos de sete jovens da Margem Ocidental ocupada com idades compreendidas entre os dez e os 15 anos, revela as diversas fases do processo de detenção, que começa nas operações nocturnas e passa pelo interrogatório, a prisão, o julgamento e a proposta de um acordo. Na sua maioria, os jovens são presos por, alegadamente, terem atirado pedras ou queimado pneus, mas, como sublinha a advogada Farah Bayadsi o objectivo das detenções «é mais para mostrar controlo do que para aplicar a lei». A experiência traumática é fundamentada por tudo aquilo por que as crianças passam durante uma detenção. Arrancadas de casa quando dormem, são algemadas e vendadas, levadas em veículos militares para colonatos e bases israelitas, passando por todo um processo que envolve intimidação, ameaças, agressões físicas, afastamento da família e pressão para «confessar». O nível de brutalidade varia. Khaled Mahmoud Selvi, preso quando tinha 15 anos, foi levado para a prisão e despido (o que, de acordo com o jornal, ocorre em 55% dos casos), tendo sido obrigado a permanecer dez minutos nu, em pé, durante o Inverno. De acordo com os dados recolhidos pela organização não governamental (ONG) British-Palestinian Military Court Watch, 97% dos jovens palestinianos detidos pelas forças militares israelitas (IDF) vivem em pequenas localidades a menos de dois quilómetros de um colonato. O advogado Gerard Horton, da ONG referida, afirma que a ideia é «assustar toda a aldeia» e que se trata de um «instrumento eficaz» para controlar uma comunidade. Acrescenta que, do ponto de vista dos ocupantes e opressores, a pressão «tem de ser constante»: «Cada geração tem de sentir a mão pesada das IDF.» A experiência é traumática. O pai de Khaled Shtaiwi, preso com 13 anos em Novembro do ano passado, contou ao periódico que criou na sua aldeia o «dia da psicologia», porque o seu filho não é capaz de falar sobre o que se passou e porque quer ajudar todas as crianças que foram presas pelos israelitas. Em Beit Ummar, Omar Ayyash foi preso com dez anos de idade, em Dezembro último. Agora, as crianças que brincam nas ruas da aldeia afastam-se assim que se apercebem da aproximação de soldados israelitas. Tornou-se um hábito desde que as tropas levaram Omar. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Por seu lado, a organização Defense for Children International – Palestine (DCIP) destacou que todos os anos entre 500 e 700 menores palestinianos são processados em tribunais militares israelitas e que 85% das crianças palestinianas detidas em 2020 foram «submetidas a violência física». Num comunicado, a DCIP afirma ter documentado 27 casos em que as crianças foram mantidas na solitária um ou dois dias, alegando as forças israelitas «objectivos de investigação». Esta prática é, segundo o organismo, uma forma de «tortura ou tratamento cruel, desumano e degradante». Desde Outubro de 2015, a DCIP registou a 36 ordens de detenção administrativa decretadas contra menores palestinianos, dois dos quais se mantêm nesse regime. Ainda de acordo com o organismo sediado em Genebra, em 2020, as forças israelitas mataram nove menores palestinianos na Cisjordânia ocupada, incluindo Jerusalém Oriental, e na Faixa de Gaza, seis dos quais com fogo real. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. O relatório divulgado este fim-de-semana informa que, entre os palestinianos detidos pelas forças israelitas, se incluem 854 menores e 107 mulheres, tendo sido emitidas na primeira metade do ano 680 ordens de detenção administrativa, incluindo 312 novas. No mês de Junho foram presos 615 palestinianos, revela o texto, destacando que Maio foi de longe o mês em que se registou um maior número de detenções na primeira metade deste ano. Então, mês de massacre contra Gaza e de múltiplas provocações sionistas no Complexo da Mesquita de al-Aqsa e em Jerusalém Oriental ocupada, as forças israelitas prenderam 3100 palestinianos, incluindo 2000 nos territórios ocupados em 1948 (actual Estado de Israel) e 677 em Jerusalém Oriental ocupada, informa a WAFA. De acordo com a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos, há actualmente nove presos em greve de fome nos cárceres israelitas como forma de protesto contra o regime de detenção administrativa que lhes foi aplicado. A Comissão pediu às instâncias internacionais e regionais de defesa dos direitos humanos que pressionem as autoridades israelitas no sentido de acabar com os maus-tratos aos presos em greve de fome, que passam também pela sua reclusão na solitária. Os presos palestinianos recorrem com frequência a esta forma de luta contra um regime de detenção ilegal, cujo fim exigem. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. De acordo com os grupos de defesa dos direitos dos prisioneiros palestinianos, há actualmente quase 550 nos cárceres israelitas detidos ao abrigo deste regime, que tem merecido ampla condenação internacional e que permite a Israel manter nas suas prisões, sem acusação ou julgamento, presos palestinianos por tempo indefinido, na medida em que o período de detenção, até seis meses, é infinitamente renovável. A detenção, que é decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta» – e é tão «secreta» que nem o advogado do detido tem direito a vê-la. Alguns prisioneiros palestinianos passaram mais de uma década nas cadeias israelitas ao abrigo deste regime de «detenção», que é considerado ilegal à luz do direito internacional. Como forma de protesto contra as suas detenções ilegais e para exigir que Israel ponha fim a esta prática, os presos palestinianos recorrem com frequência a greves de fome por tempo indeterminado. Apesar da pressão internacional e dos protestos dos prisioneiros, as autoridades israelitas não têm dado sinais de querer acabar com este regime. Pelo contrário, tanto a comissão referida como o Centro Palestiniano de Estudos sobre Prisioneiros têm dado conta de novas ordens de detenção administrativa e de múltiplas renovações. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Na maior parte dos casos, estavam presos ao abrigo do regime de detenção administrativa, como Hisham Abu Hawwash, de 40 anos, habitante da localidade de Dura (Cisjordânia ocupada) que se mantém há 140 dias em greve de fome e está numa situação considerada muito crítica. Nos últimos dias, as autoridades palestinianas alertaram para o estado de saúde crítico de Abu Hawwash, responsabilizaram Telavive por aquilo que lhe possa acontecer e pediram à comunidade internacional que pressione as autoridades israelitas para o libertarem. Também a Cruz Vermelha se mostrou preocupada com o caso, sublinhando a necessidade de tratar os reclusos com humanidade e de encontrar uma solução que evite «consequências irreversíveis» para Hawwash. De acordo com a SPP, este domingo cerca de 500 reclusos palestinianos presos em Israel ao abrigo do regime da detenção administrativa – criticado pela ONU – declararam o boicote aos tribunais israelitas, porque «sentem que os tribunais alinham sempre com o governo militar e as suas ordens, e não os tratam com imparcialidade». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. De acordo com a comissão, há actualmente mais de 760 presos nas cadeias israelitas sem acusação ou julgamento. A detenção, decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta», que nem o advogado do detido tem direito a ver. Cerca de 80% dos presos palestinianos neste regime são ex-presos que já passaram anos atrás das grades, revela a Wafa. Em comunicado, emitido há dias, o Ramo Penitenciário da Frente Popular para a Libertação da Palestina afirmou que «estes 30 prisioneiros, juntos, passaram quase 200 anos em detenção administrativa. Duzentos anos de cativeiro sem acusação ou julgamento por capricho dos oficiais de inteligência da ocupação». O texto, divulgado pela Samidoun (rede de solidariedade com os presos palestinianos), sublinha que se trata de uma «pena perpétua», uma vez que muitos presos são libertados durante alguns meses e são novamente detidos. «Temos um mês de liberdade por cada ano de detenção», afirmam. Dizem que são «alimentados pela dignidade» e querem que as autoridades israelitas saibam que, mesmo que os torturem e lhes provoquem dor, «que a nossa luta continua, e que semearemos alegria, vida e esperança, e que nossa luta pela liberdade e pela humanidade livre de tormentos não vai parar». Leila Khaled, membro do Comité Central da FPLP e símbolo da resistência palestiniana, anunciou uma greve de fome solidária com os presos, a quem saudou por estarem «na primeira linha do confronto a este inimigo criminoso fascista». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. De acordo com a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos, dos cerca de 4600 palestinianos actualmente presos nas cadeias israelitas, mais de 760 são reclusos sem acusação ou julgamento, cuja detenção pode ser infinitamente renovada por períodos até seis meses. A detenção, decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta», que nem o advogado do detido tem direito a ver. Após o início da greve de fome, Basil Mizher, outro advogado palestiniano detido sem acusação ou julgamento, viu ser-lhe renovada a detenção administrativa por mais três meses, no passado dia 28. Numa mensagem que Mizher escreveu no início do protesto, lida pela sua mãe numa acção solidária no campo de refugiados de Dheisheh, em Belém, o preso diz que a sua profissão é a de advogado, mas que mal se lembra dela, pois quase não a conseguiu exercer desde que se formou – foi submetido a três detenções administrativas desde que passou no exame. Em vez de ir trabalhar, foi para a prisão, lê-se no texto divulgado pela pela Samidoun (rede de solidariedade com os presos palestinianos). «Ou nos submetemos à opressão e à privação e aceitamos o roubo perpétuo da nossa liberdade e da nossa vida à vista do mundo, ou nos revoltamos contra a injustiça e derrubamos os muros do carcereiro com todas as ferramentas que temos», escreveu Basil Mizher a propósito da greve de fome, que é a «recusa da política de subordinação e domesticação». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Alguns prisioneiros palestinianos passaram mais de uma década nas cadeias israelitas ao abrigo deste sistema, e é comum os presos recorrerem a greves de fome por tempo indeterminado como forma de chamar a atenção para os seus casos e fazer pressão junto das autoridades israelitas para que os libertem. Agora, a SPP revelou também que, dos 835 palestinianos actualmente presos ao abrigo deste regime, 80 são mulheres, indica a agência Wafa. Além disso, a organização não governamental (ONG) informou que, ao longo de 2022, as autoridades israelitas emitiram 2134 ordens de detenção administrativa, 242 das quais em Novembro (o ano passado foram 1595). Desde o início de 2022 até ao fim de Novembro, as forças israelitas prenderam 6500 palestinianos, revelou a SPP, citada pela agência turca Anadolu. Entre os detidos, contavam-se 153 mulheres e 811 menores de idade acrescentou. As forças de ocupação israelitas detiveram 5300 palestinianos desde o princípio deste ano, incluindo 111 mulheres e 620 menores de idade, revelou esta segunda-feira uma organização não governamental. Em comunicado, a Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) afirmou que, com 2353 detenções registadas, Jerusalém Oriental ocupada se situa no primeiro lugar por regiões, e que Abril foi o mês com maior número de detenções (1228 casos), noticia a agência Wafa. A SPP condenou os ataques e raides israelitas contra cidades, aldeias e campos de refugiados na Cisjordânia ocupada para prender activistas, referindo que muitos palestinianos foram mortos, nesse processo, pelas balas do Exército. Neste contexto, o número de execuções extrajudiciais no terreno, em 2022, é mais elevado por comparação com anos anteriores, alertou a SPP, que também questionou os bloqueios militares a localidades e campos de refugiados palestinianos, classificando-os como uma punição colectiva. No que respeita às detenções administrativas, a organização afirmou que este ano, até à data, foram emitidas 1160. Só no mês de Agosto, foram decretadas 272, pelo que, no final de Setembro, havia cerca de 800 palestinianos nas prisões israelitas detidos sem acusação ou julgamento. Ao abrigo deste regime, os períodos de detenção podem ser infinitamente renovados por períodos até seis meses. A detenção, decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta», que nem o advogado do detido tem direito a ver. De forma reiterada, os presos palestinianos detidos sob este regime iniciam greves de fome para denunciar os seus casos e a política de detenção administrativa, exigindo a sua libertação. Diversas instâncias das Nações Unidas têm denunciado repetidamente este regime israelita de detenção, na medida em que não faculta aos detidos palestinianos as «salvaguardas jurídicas básicas» e violam o direito internacional humanitário. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Só no mês de Novembro, foram detidos 490 palestinianos, incluindo 76 menores e 12 mulheres, informaram, num relatório conjunto, a SPP, a Addameer, o Centro de Informação Wadi Hilweh e a Comissão dos Assuntos dos Presos e Ex-Presos Palestinianos. No relatório mensal a que o Middle East Monitor faz referência, as quatro organizações de defesa dos direitos presos afirmaram que, no mês passado, o maior número de detenções ocorreu em Hebron (al-Khalil; 135 casos), seguida por Jerusalém (123), Ramallah (52), Jenin e Nablus. De acordo com os grupos, há actualmente nas cadeias israelitas cerca de 4700 palestinianos presos, incluindo 34 mulheres e 150 menores. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. «A ocupação israelita e a sua administração prisional levaram a cabo o assassinato deliberado do preso Khader Adnan ao rejeitar o seu pedido de libertação, ao negligenciá-lo medicamente e ao mantê-lo na sua cela apesar da gravidade do seu estado de saúde», afirmou Shtayyeh em comunicado. Várias facções palestinianas pronunciaram-se no mesmo sentido, responsabilizando Israel pela morte de Khader Adnan e sublinhando o crime «premeditado e a sangue-frio». Por seu lado, o Ministério palestiniano dos Negócios Estrangeiros pediu uma investigação internacional sobre a morte do prisioneiro e instou o Tribunal Penal Internacional a incluir este caso no processo relativo aos crimes de guerra cometidos por Israel contra o povo palestiniano nos territórios ocupados. Para denunciar «o crime que levou à morte» de Khader Adnan numa prisão israelita, foi declarada, esta terça-feira, uma greve geral que «afecta todos os aspectos da vida», tanto na Faixa de Gaza cercada como na Margem Ocidental ocupada, incluindo Jerusalém Oriental, indica a Wafa. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Em relatórios anteriores, a SPP lembrou que esta política visa «esmagar os activistas políticos palestinianos» e se baseia num ficheiro secreto não acessível aos presos – nem sequer aos seus advogados. Alguns prisioneiros palestinianos passaram mais de uma década nas cadeias israelitas ao abrigo deste sistema, e é comum os presos recorrerem a greves de fome por tempo indeterminado como forma de chamar a atenção para os seus casos e fazer pressão junto das autoridades israelitas para que os libertem. A 2 de Maio último, Khader Adnan, de 44 anos, morreu na cadeia, quase três meses depois de ter iniciado uma greve de fome contra a sua detenção sem acusação ou julgamento. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Num comunicado de imprensa, que a Wafa cita, a Comissão exigiu «acção real e tangível, no sentido de formar um comité internacional de direitos humanos que vá imediatamente às prisões da ocupação israelita, analise o crime [de detenção administrativa] em todos os seus detalhes e observe de perto o sofrimento dos detidos administrativos, que estão presos sem quaisquer acusações ou julgamentos, e vivem à mercê dos chamados oficiais dos serviços de inteligência israelitas». «Os abusos imorais e desumanos associados à utilização desta política pela potência ocupante violam todos os princípios do direito internacional e da humanidade, e estão em contradição real com os teóricos da democracia e aqueles que afirmam ser democráticos em todo o mundo, especialmente na América e na Europa», acrescenta a nota. De acordo com os dados divulgados em Junho último pela organização israelita de defesa dos direitos B'Tselem, em Março deste ano, Israel mantinha nas suas prisões 1017 pessoas em regime de detenção administrativa. É preciso recuar duas décadas, até Abril de 2003, para encontrar um número mais elevado de detidos administrativos nas prisões israelitas – 1140 –, referiu a organização. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. «De acordo com a lei militar que se aplica na Cisjordânia, uma pessoa pode ser detida administrativamente durante seis meses, mas a ordem pode ser renovada, pelo que a reclusão na prática é indefinida e os detidos nunca sabem quando serão libertados», alertou a B'Tselem, outra organização israelita de defesa dos direitos humanos nos territórios ocupados. De forma sistemática, presos administrativos entram em greve de fome por tempo indeterminado para chamar a atenção para os seus casos e forçar a sua libertação. Em meados de Agosto, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos pediu à chamada comunidade internacional que quebre o silêncio em torno do «crime israelita da detenção administrativa». Num comunicado de imprensa, divulgado pela Wafa, a Comissão exigiu «acção real e tangível, no sentido de formar um comité internacional de direitos humanos que vá imediatamente às prisões da ocupação israelita, analise o crime [de detenção administrativa] em todos os seus detalhes e observe de perto o sofrimento dos detidos administrativos, que estão presos sem quaisquer acusações ou julgamentos, e vivem à mercê dos chamados oficiais dos serviços de inteligência israelitas». «Os abusos imorais e desumanos associados à utilização desta política pela potência ocupante violam todos os princípios do direito internacional e da humanidade, e estão em contradição real com os teóricos da democracia e aqueles que afirmam ser democráticos em todo o mundo, especialmente na América e na Europa», afirmou o organismo. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Desde 28 de Setembro de 2000 até à data, refere a Comissão, foram detidas mais de 2600 raparigas e mulheres, incluindo quatro que deram à luz na cadeia. No mesmo período, foram emitidas 32 mil ordens de detenção administrativa, a que Israel recorre para manter reclusos nas cadeias sem acusação nem julgamento, com base numa «prova secreta» que nem o advogado do detido pode ver. A Comissão registou um aumento «assinalável» no recurso a este regime, amplamente condenado a nível internacional, contra o qual os presos palestinianos protestam, de forma reiterada, entrando em greve de fome por tempo indeterminado, para exigir a sua libertação e o fim da aplicação da política de detenção referida. «De acordo com a lei militar que se aplica na Cisjordânia, uma pessoa pode ser detida administrativamente durante seis meses, mas a ordem pode ser renovada, pelo que a reclusão na prática é indefinida e os detidos nunca sabem quando serão libertados», alertou recentemente a B'Tselem, uma organização israelita de defesa dos direitos humanos nos territórios ocupados. Uma comissão da ONU reafirmou denúncias expostas em vários relatórios sobre detenções de menores palestinianos por Israel – quase sempre presos de noite, algemados e vendados. É o início da «viagem ao inferno». A instância, composta por especialistas independentes das Nações Unidas, expressou particular preocupação pela expansão dos colonatos e o aumento da violência dos colonos israelitas, em que se incluem ataques a crianças e às suas escolas. Segundo se pode ler no portal oficial de notícias da ONU, na semana passada diversas organizações informaram a comissão sobre as operações nocturnas levadas a efeito pelas forças israelitas com o propósito de deter crianças e adolescentes na Cisjordânia ocupada, com «graves consequências para o seu bem-estar e gozo dos seus direitos». «Mais de 300 crianças estão detidas no sistema militar israelita. A maioria por delitos menores, como atirar pedras e publicações nas redes sociais», assinala a comissão, que denuncia o facto de os menores serem «levados para locais desconhecidos, presos em viaturas militares e sujeitos a ameaças e abusos verbais», bem como o facto de, por vezes, serem «obrigados a assinar confissões em hebraico, uma língua que não costumam entender». Estas preocupações reafirmam as que têm sido veiculadas, ao longo do tempo, por várias entidades, nomeadamente a Comissão dos Prisioneiros Palestinianos, órgão dependente da Autoridade Palestiniana que, em diversas ocasiões (também este ano), alertou para o facto de os menores serem torturados e sofrerem abusos nos cárceres israelitas, bem como para o facto de serem espancados, insultados e pressionados no momento da detenção. No final de Março, um relatório publicado pelo Ministério palestiniano da Informação denunciava também esta realidade, afirmando que «95% das crianças palestinianas presas pelas autoridades israelitas foram torturadas durante a detenção». De acordo com o relatório, até 2015 foram documentadas anualmente 700 detenções de menores palestinianos. Já em 2017, Israel prendeu 1467 crianças e adolescentes; 1063 no ano seguinte e, nos dois primeiros dois meses deste ano, 118. Entre 2000 e 2018, foram presos mais de 16 mil menores. Numa peça intitulada «“Endless Trip to Hell”: Israel Jails Hundreds of Palestinian Boys a Year. These Are Their Testimonies», publicada em Março e plenamente actual, o periódico israelita Haaretz aborda esta realidade, em que as crianças, algumas com idades inferiores a 13 anos, «são detidas pela calada da noite, vendadas e algemadas, alvo de abusos e constrangidas» a confessar «crimes» que não cometeram. A peça, que reúne testemunhos de sete jovens da Margem Ocidental ocupada com idades compreendidas entre os dez e os 15 anos, revela as diversas fases do processo de detenção, que começa nas operações nocturnas e passa pelo interrogatório, a prisão, o julgamento e a proposta de um acordo. Na sua maioria, os jovens são presos por, alegadamente, terem atirado pedras ou queimado pneus, mas, como sublinha a advogada Farah Bayadsi o objectivo das detenções «é mais para mostrar controlo do que para aplicar a lei». A experiência traumática é fundamentada por tudo aquilo por que as crianças passam durante uma detenção. Arrancadas de casa quando dormem, são algemadas e vendadas, levadas em veículos militares para colonatos e bases israelitas, passando por todo um processo que envolve intimidação, ameaças, agressões físicas, afastamento da família e pressão para «confessar». O nível de brutalidade varia. Khaled Mahmoud Selvi, preso quando tinha 15 anos, foi levado para a prisão e despido (o que, de acordo com o jornal, ocorre em 55% dos casos), tendo sido obrigado a permanecer dez minutos nu, em pé, durante o Inverno. De acordo com os dados recolhidos pela organização não governamental (ONG) British-Palestinian Military Court Watch, 97% dos jovens palestinianos detidos pelas forças militares israelitas (IDF) vivem em pequenas localidades a menos de dois quilómetros de um colonato. O advogado Gerard Horton, da ONG referida, afirma que a ideia é «assustar toda a aldeia» e que se trata de um «instrumento eficaz» para controlar uma comunidade. Acrescenta que, do ponto de vista dos ocupantes e opressores, a pressão «tem de ser constante»: «Cada geração tem de sentir a mão pesada das IDF.» A experiência é traumática. O pai de Khaled Shtaiwi, preso com 13 anos em Novembro do ano passado, contou ao periódico que criou na sua aldeia o «dia da psicologia», porque o seu filho não é capaz de falar sobre o que se passou e porque quer ajudar todas as crianças que foram presas pelos israelitas. Em Beit Ummar, Omar Ayyash foi preso com dez anos de idade, em Dezembro último. Agora, as crianças que brincam nas ruas da aldeia afastam-se assim que se apercebem da aproximação de soldados israelitas. Tornou-se um hábito desde que as tropas levaram Omar. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. No relatório agora publicado, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos refere-se ainda ao recurso à tortura nos cárceres israelitas, bem como aos assassinatos e às «execuções lentas» por falta de cuidados médicos. Denuncia igualmente a «escalada de casos de opressão, abuso e incitação racista» contra os presos palestinianos. De acordo com o organismo, estão actualmente detidos em cadeias israelitas, nos territórios ocupados em 1948, cerca de 5200 palestinianos. Destes, 38 são mulheres e 170 são menores de idade. Há ainda mais de 1250 presos palestinianos em regime de detenção administrativa e 700 reclusos doentes, 24 dos quais com enfermidades oncológicas. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Num comunicado posterior, as Brigadas al-Qassam afirmaram ter capturado «mais de 35 soldados e civis israelitas do colonato sionista de Sderot». A operação desta manhã apanhou de surpresa o Exército da ocupação, o que está a valer múltiplas críticas ao governo de Netanyahu, em Israel. Entretanto, foi declarado o «estado de preparação para a guerra» entre as forças militares israelitas, e o ministro da Defesa, que aprovou o recrutamento de soldados na reserva, declarou o estado de emergência numa faixa de 80 quilómetros em redor da Faixa de Gaza. A agência Wafa já deu conta de bombardeamentos israelitas contra o enclave costeiro nas últimas horas, dos quais resultaram vários mortos. A mesma fonte refere que o Ministério palestiniano da Saúde colocou todas as unidades hospitalares do país em situação de emergência. De acordo com as autoridades de saúde no enclave costeiro, pelo menos 198 pessoas morreram e mais de 1600 ficaram feridas (muitas das quais em estado grave) como consequência dos bombardeamentos israelitas contra a Faixa e Gaza ao longo do dia, refere a Wafa, em retaliação contra o ataque da resistência palestiniana, esta manhã. Por seu lado, a agência Prensa Latina refere-se à morte de uma centena de israelitas e cerca de 900 feridos, no contexto da operação de grande escala da resistência palestiniana, que ocupou diversas localidades e bases militares da ocupação próximas do enclave cercado. Entretanto, a Wafa dá conta de vários ataques da parte de colonos e forças israelitas contra diversas localidades e bairros palestinianos na Cisjordânia e Jerusalém ocupadas, dos quais resultaram pelo menos um morto e um número indeterminado de feridos. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Israel retaliou com a «Operação Espadas de Ferro», com ataques aéreos sobre a Faixa de Gaza sitiada e, de acordo com a última contagem do Ministério da Saúde palestiniano, 313 habitantes de Gaza morreram na ofensiva, incluindo 20 crianças, enquanto outros 1990 palestinianos ficaram feridos no enclave. Do lado israelita, foram confirmadas até à manhã de hoje cerca de 300 pessoas mortas e 1864 feridas, das quais 19 estão em estado crítico, 326 em estado grave e as restantes em estado moderado ou ligeiro. No ano em que se assinalam os 75 anos da Nakba (catástrofe), «mais de cinco décadas depois de Israel ocupar militarmente a totalidade do território da Palestina histórica», o MPPM lembra que a campanha de limpeza étnica que acompanhou a formação de Israel se prolonga até hoje. «Em Gaza, de onde partiu esta acção, vivem cerca de 2,2 milhões de pessoas, descendentes dessas sucessivas vagas de limpeza étnica», alerta o movimento. Apesar de as Nações Unidas o considerarem «impróprio para sustentar a vida humana», desde 2006 que o Estado israelita impõe um «bloqueio criminoso» sobre aquele território. Uma ONG palestiniana e outra israelita acusam Israel de ter trabalhado para «branquear a verdade» sobre os crimes cometidos pelas suas tropas durante os protestos da Grande Marcha do Retorno, em Gaza. Num relatório conjunto, o Centro Palestiniano para os Direitos Humanos (PCHR), sediado em Gaza, e a organização israelita B'Tselem analisam as investigações que Israel diz ter levado a cabo na sequência da repressão exercida pelas forças israelitas sobre os manifestantes que, na Faixa de Gaza, reclamaram o direito de regresso dos refugiados a suas casas. Os protestos conhecidos como Grande Marcha do Retorno começaram a 30 de Março de 2018 e prolongaram-se por mais de um ano e meio. Pelo menos 200 palestinianos foram mortos e 13 500 ficaram feridos – seguindo os números por baixo, uma vez que outras fontes apontam para mais de 300 mortos e cerca de 18 mil feridos, várias dezenas dos quais menores. O vento e a chuva forte que se abateram esta semana sobre Gaza não impediram centenas de manifestantes de participarem, na sexta-feira, na última manifestação de 2019 da Grande Marcha do Retorno. Dezenas de palestinianos foram feridos esta sexta-feira pelas forças israelitas na Faixa de Gaza, quando participavam na 86.ª manifestação da Grande Marcha do Retorno, perto da vedação com que Israel isola o território palestino, segundo o Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente (MPPM). Vários dos participantes nas manifestações, segundo o MPPM, foram feridos por balas reais e revestidas de borracha, enquanto dezenas de outros sofreram de asfixia por efeito do gás lacrimogéneo disparado pelas forças de ocupação. Centenas de manifestantes participaram nos protestos apesar das adversas condições climatéricas. A Faixa de Gaza tem sido batida por vento e chuva forte na última semana, com as inundações a porem em risco cerca de 235 mil pessoas nas áreas mais baixas da Faixa de Gaza, segundo um relatório do Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA) no território palestiniano ocupado. A 30 de Março os palestinianos comemoram o Dia da Terra. Nesse dia, em 1976, no Norte de Israel, foram assassinados seis palestinianos que protestavam contra a expropriação de terras para dar lugar a aldeamentos judaicos. Cerca de 100 outras pessoas ficaram feridas e centenas foram presas durante a greve geral e as grandes manifestações de protesto que, no mesmo dia, ocorreram no território do Estado de Israel. A 30 de Março de 2018 a comemoração atingiu uma dimensão inusitada, ao tornar a celebração deste dia como o primeiro de uma «Grande Marcha do Retorno», uma reclamação do direito de regresso dos refugiados aos seus lares – tal como prescreve a resolução 194 das Nações Unidas – à Palestina histórica, de onde mais de 700 mil pessoas foram expulsas pelas tropas israelitas em 1948, durante a chamada «catástrofe» («Nakba», em árabe). Desde então o protesto repete-se semanalmente, violentamente reprimido pelas forças israelitas, incluindo com o recurso a snipers e fogo real directo. Como resultado, pelo menos 348 palestinos foram mortos em Gaza por fogo israelita desde o início das marchas, a maioria deles durante as manifestações, segundo uma contagem da AFP citada pelo MPPM. Para além disso, o Ministério da Saúde de Gaza regista mais de 18 mil feridos pelas forças repressivas sionistas. Entre as baixas contam-se crianças, mulheres, muitos adolescentes, jornalistas e trabalhadores dos serviços de saúde que tentam socorrer os manifestantes. Em Março, uma missão de averiguação da ONU concluiu que as forças israelitas cometeram violações de direitos humanos na repressão dos manifestantes em Gaza, o que pode constituir crimes de guerra. Os organizadores da Grande Marcha do Retorno anunciaram nesta quinta-feira que os protestos seriam suspensos até Março de 2020, altura em que serão retomados, coincidindo com o seu segundo aniversário e também com o Dia da Terra palestina (30 de Março). A partir daí realizar-se-ão a um ritmo mensal. Além do bloqueio a que sujeita a Faixa de Gaza, na última década Israel lançou três guerras de agressão contra o pequeno território palestino e dezenas de ataques de escala mais limitada, matando milhares de pessoas e causando enormes destruições de casas e infra-estruturas. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. As duas organizações não governamentais (ONG) acusam Israel de proteger os responsáveis políticos e militares, «em vez de tomar medidas contra as pessoas que conceberam e implementaram a política ilegal de atirar a matar». Israel foi célere a anunciar que estava a investigar os protestos, sobretudo devido aos procedimentos em curso no Tribunal Penal Internacional (TPI), afirmaram as organizações numa conferência de imprensa, a que a agência WAFA faz referência. Isso deve-se ao princípio da complementaridade do TPI, ou seja, se um Estado «estiver disposto e tiver capacidade» para realizar a investigação e a efectuar, o TPI não intervém. No entanto, não basta declarar que uma investigação está a ser feita; ela tem de ser eficaz, dirigida às altas patentes responsáveis e conduzir a uma acção contra elas, sublinham, acrescentando que isso não ocorre neste caso. «As investigações conduzidas por Israel não são mais do que uma cortina de fumo erguida para proteger do TPI os funcionários responsáveis. Israel não quer e não consegue investigar as violações de direitos humanos perpetradas pelas suas forças durante os protestos da Grande Marcha de Retorno na Faixa de Gaza. Tendo isto em conta, cabe agora ao TPI garantir a responsabilização penal», disseram as duas organizações. «Estas investigações – tal como as levadas a cabo pelo sistema de aplicação da lei militar noutros casos em que soldados causaram danos aos palestinianos – fazem parte do mecanismo de branqueamento de Israel, e o seu principal objectivo continua a ser silenciar as críticas externas, para que Israel possa continuar a implementar sua política sem mudanças», lê-se no portal da B'Tselem. A mudança da embaixada norte-americana de Telavive para Jerusalém fica associada a um «Dia de Raiva» na Palestina. Na Faixa de Gaza cercada, os franco-atiradores israelitas massacram os manifestantes. Quando o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel e a intenção de mudar a Embaixada do seu país de Telavive para essa cidade, ficou claro que tal passo constituía uma declaração de apoio ao Estado de Israel e à sua política de ocupação e repressão na Palestina, nomeadamente em Jerusalém. Várias organizações têm denunciado o número crescente de ameaças em locais religiosos não-judaicos, na cidade, bem como a intensificação do plano de «judaização» de Jerusalém Oriental, com o aumento da construção de colonatos e a expulsão da população palestiniana de suas casas, que são muitas vezes demolidas. Declarada por Israel como sua capital, Jerusalém tem o estatuto, reconhecido pelas Nações Unidas, de cidade ocupada, sendo Israel a potência ocupante (desde 1967). Os palestinianos querem-na como sua capital e quem apoia a solução dos «dois estados» reconhece que o Estado da Palestina tem em Jerusalém Oriental a sua capital. Logo em Dezembro, foi generalizado o repúdio internacional pela decisão da administração norte-americana e, a 21 desse mês, materializou-se na aprovação, por esmagadora maioria, na Assembleia Geral das Nações Unidas, de uma resolução que rejeita essa decisão e insta todos os estados-membros a não estabelecerem missões diplomáticas em Jerusalém, de acordo com a resolução 478 do Conselho de Segurança, de 1980. Esse repúdio face ao reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel também se fez sentir no interior de Israel, onde académicos, antigos embaixadores e defensores da paz enviaram uma carta a um representante de Trump, seguntou reportou o periódico Haaretz. Inicialmente, não ficou explícito que a concretização da mudança da Embaixada dos EUA para Jerusalém estaria associada ao 70.º aniversário da criação do Estado de Israel, que hoje se assinala, e que teria lugar na véspera da Nakba – a limpeza étnica levada a cabo pelas forças sionistas e pelo Estado de Israel, em que mais de 750 mil palestinianos foram expulsos das suas casas e terras –, uma «catástrofe» que todos os anos os palestinianos marcam a 15 de Maio. Na visita que efectuou em Janeiro a Israel, o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, afirmou que essa mudança deveria ocorrer no final de 2019. No entanto, a 23 de Fevereiro, o Departamento de Estado anunciou a antecipação da mudança para 14 de Maio, o que foi encarado pelos palestinianos como mais uma acção de «provocação». Em protesto contra a mudança da Embaixada dos EUA para Jerusalém, os palestinianos chamaram «Dia de Raiva» a este 14 de Maio. Nos territórios ocupados da Cisjordância, há notícia de mobilizações pelo menos em Ramallah e Hebron. Mas a grande mobilização está a ter lugar na Faixa de Gaza cercada, junto às vedações que enclausuram perto de 2 milhões de palestinianos – 80% dos quais são descendentes de refugiados – no pequeno enclave. De acordo com a PressTV, as forças militares israelitas, que reforçaram a sua presença tanto em redor de Gaza como na Margem Ocidental ocupada –, esperavam que 100 mil pessoas se manifestassem nos pontos habituais, hoje, dia da mudança da Embaixada norte-americana para Jerusalém. «os palestinianos querem mandar a mensagem de que não se adaptaram nem se vão adaptar à condição de refugiados» Sobre o culminar dos protestos pacíficos da Grande Marcha do Retorno, que se iniciaram a 30 de Março, o ministro israelita da Educação, Naftali Bennet, do partido de extrema-direita Lar Judaico, disse a uma rádio israelita que a vedação seria encarada como uma «Muralha de Ferro» e que quem se aproximasse dela seria tratado como um «terrorista», refere a PressTV. A mesma fonte indica ainda que a Força Aérea israelita lançou panfletos sobre a Faixa de Gaza, ontem e hoje, para demover os manifestantes de se aproximarem da vedação, mas sem sucesso, já que estes, segundo refere a Al Jazeera, têm estado a tentar atravessá-la, «defendendo o seu direito ao regresso, ao retorno, aconteça o que acontecer». Um membro do comité organizador da Grande Marcha do Retorno disse à Al Jazeera que, ao tentarem atravessar a vedação, «os palestinianos querem mandar a mensagem de que não se adaptaram nem se vão adaptar à condição de refugiados». Os franco-atiradores responderam de forma brutal, matando mais de quatro dezenas de pessoas que se manifestavam perto da vedação e ferindo perto de 2000, até ao momento. De acordo com a organização, os protestos de hoje e os que estão previstos para amanhã – dia da Nakba – devem ser os mais massivos, sendo o ponto culminante das sete semanas de mobilizações, fortemente reprimidas pelas forças israelitas, junto à vedação com a Faixa de Gaza. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Apesar dos milhares de feridos palestinianos resultantes da política de «atirar a matar» e de mais de centena e meia ter ficado sem membros inferiores ou superiores – as tropas israelitas usaram balas explosivas, as chamadas butterfly bullets, que se expandem no contacto com o corpo, provocando danos severos nos tecidos, nos ossos, nas veias –, nenhum destes casos foi investigado. Sem explicação, os militares decidiram investigar apenas os casos em que palestinianos foram mortos. Dos 234 casos recebidos pelos procuradores do Exército, foi completa a revisão de 143 e um deles, o da morte do adolescente Othman Hiles, de 14 anos, levou à condenação de um soldado por «abuso de autoridade ao ponto de pôr em risco a vida e a saúde». Foi condenado a um mês de serviço comunitário. No seu portal, a B'Tselem sublinha que «a conduta de Israel respeitante à investigação dos protestos em Gaza não é nova nem surpreendente», e recorda o que se passou depois da Operação Chumbo Fundido, em 2009, e da Operação Margem Protectora, em 2014. «Então, também, Israel desrespeitou o direito internacional, recusou-se a reformar a sua política apesar dos resultados letais e desviou as críticas prometendo investigar a sua conduta. Então, também, nada resultou dessa promessa», afirma. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Por outro lado, entre Março de 2018 e Dezembro de 2019, uma série de manifestações pacíficas designadas Grande Marcha do Retorno foram brutalmente reprimidas pelo exército de Israel, contabilizando-se 223 mortos e mais de nove mil feridos, sob o silêncio da comunidade internacional. «Os assaltos das forças de ocupação israelita às povoações e campos de refugiados palestinos, assim como a violência dos colonos e as prisões arbitrárias são o quotidiano com que os palestinos, homens e mulheres, jovens e menos jovens diariamente se confrontam», lembra o MPPM, salientando que, até este sábado, pelo menos 247 palestinianos, sobretudo jovens, foram mortos pelas forças israelitas e por colonos. Neste sentido, insiste que a paz no Médio Oriente e a solução da questão palestiniana «passam necessariamente por um desenlace que respeite os direitos inalienáveis» do povo palestiniano a uma pátria livre e independente, incluindo o direito de regresso dos refugiados. O MPPM rejeita os «lamentos» daqueles que «hipocritamente condenam as acções violentas de resistência dos oprimidos e se calam desde há décadas (ou pior, colaboram) perante a violência da ocupação», e entre os quais se encontra o Governo português. «Israel tem o direito de se defender. Estes ataques nada resolverão, contribuindo apenas para piorar a situação na região. Estamos solidários com Israel e oferecemos condolências pelas vítimas.», disse o ministro João Gomes Cravinho, este sábado, na rede social X. O governo palestiniano denunciou junto da ONU o assassinato de 44 menores, este ano, por soldados israelitas. Neste contexto, reclamou protecção para a infância e a responsabilização de Telavive. Numa carta enviada esta segunda-feira ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, o Ministério palestiniano dos Negócios Estrangeiros pediu protecção especial urgente para as crianças palestinianas, informa a agência Wafa. Mahmoud Samoudi, de 12 anos, foi, ontem, a vítima mortal mais recente das forças israelitas, não resistindo aos ferimentos quase duas semanas depois de ter sido atingido por uma bala no abdómen, durante uma operação militar na cidade de Jenin (Norte da Cisjordânia ocupada). Só nos últimos dias, «Israel, a potência ocupante, matou cinco crianças e jovens palestinianos, incluindo Adel Adel Daud (14 anos), Mahdi Ladadwa (17), Mahmoud Sous (17), Fayez Khaled Damdoum (17) e Ahmad Draghmeh (19)», indica o texto das autoridades palestinianas. Até 10 de Dezembro, 86 crianças foram mortas nos territórios ocupados da Palestina, fazendo de 2021 o ano mais mortífero para elas desde 2014, segundo os registos de uma organização não governamental. As forças israelitas mataram 76 crianças palestinianas este ano – 61 na Faixa de Gaza cercada e 15 na Cisjordânia ocupada, incluindo Jerusalém Oriental. Civis israelitas armados mataram duas crianças palestinianas na Cisjordânia, revela o relatório agora publicado pela Defense for Children International – Palestine (DCIP). A estas 78 crianças juntam-se sete que foram mortas por foguetes disparados incorrectamente por grupos armados palestinianos na Faixa de Gaza, e uma outra que foi morta por uma munição não detonada, cujas origens a ONG não conseguiu determinar. «Nos termos do direito internacional, a força letal intencional só se justifica em circunstâncias em que esteja presente uma ameaça directa à vida ou de ferimentos graves. No entanto, investigações e provas recolhidas pelo DCIP sugerem que as forças israelitas utilizam regularmente força letal contra crianças palestinianas em circunstâncias que podem equivaler a execuções extrajudiciais ou intencionais», lê-se relatório, traduzido pelo Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente – MPPM. Durante os 11 dias do ataque militar israelita à Faixa de Gaza, em Maio de 2021, naquilo que ficou conhecido como Operação Guardião dos Muros, as forças israelitas mataram 60 crianças palestinianas, segundo os dados recolhidos pela DCIP. «Aviões de guerra israelitas e drones armados bombardearam áreas civis densamente povoadas, matando crianças palestinianas que dormiam nas suas camas, brincavam nos seus bairros, faziam compras nas lojas perto das suas casas e celebravam o Eid al-Fitr [festa no fim do Ramadão] com as suas famílias», disse Ayed Abu Eqtaish, director do programa de responsabilização da DCIP. «A falta de vontade política da comunidade internacional para responsabilizar os funcionários israelitas garante que os soldados israelitas continuarão a matar ilegalmente crianças palestinianas com impunidade», acrescentou. A DCIP lembra que o direito humanitário internacional proíbe ataques indiscriminados e desproporcionados, e exige que todas as partes num conflito armado façam a distinção entre alvos militares, civis e objectos civis. O pico mais recente de assassinatos de crianças ocorrera em 2018, quando forças israelitas e colonos mataram crianças palestinianas a um ritmo médio superior a uma por semana (57). A maioria dessas mortes ocorreu durante os protestos da Marcha do Retorno, na Faixa de Gaza, refere o organismo. De acordo com os dados da DCIP, foram mortas 2196 crianças palestinianas, desde 2000, em resultado da presença de militares e de colonos israelitas nos territórios ocupados da Palestina. A Defense for Children International – Palestine é uma das seis organizações de direitos humanos que Israel pretende silenciar, lembra o MPPM, sublinhando que a medida tem merecido a condenação generalizada a nível internacional e foi denunciada pelo MPPM a 29 de Outubro último. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. A carta afirma que as forças de ocupação estão a utilizar «a política infame de atirar a matar» – de que resultou a morte de centenas de crianças palestinianas –, ao apontarem «deliberadamente» para a parte superior dos seus corpos. «Israel dispara deliberadamente contra os menores palestinianos com o objectivo declarado de os matar e mutilar, negando-lhes o direito à vida», lê-se no texto, sublinhando que «as crianças jamais devem ser mortas ou mutiladas», bem como a necessidade de medidas urgentes para as proteger da «escalada dos crimes israelitas». Neste sentido, o governo palestiniano exigiu medidas contra Telavive, destacando que as «evidências dos seus crimes crescentes contra as crianças palestinianas são, sem dúvida alguma, esmagadoras», violando o direito internacional e as resoluções que constituem a base da protecção das crianças nos conflitos armados. «A protecção das crianças é a maior obrigação moral, legal e política da humanidade», frisa o documento, no qual se pede à comunidade internacional que «ponha fim a este pesadelo intolerável que as nossas crianças vivem diariamente» e que tome medidas para responsabilizar Israel «pelos seus crimes horrendos». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. «Os que há décadas convivem com a ausência de qualquer real processo político conducente a uma solução que respeite os direitos do povo palestino, não têm autoridade moral para hoje se queixarem das tempestades que provocaram», defende o MPPM. Certo de que a violência poderá alastrar-se a todo o Médio Oriente, o movimento recorda que Israel, «com o apoio dos países "ocidentais" e em primeiro lugar dos Estados Unidos da América», é a maior potência militar da região e a única a dispor de armas nucleares. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Em simultâneo, revela a Wafa, têm-se registado múltiplas agressões e raides, da parte de colonos e forças istraelitas, na Margem Ocidental ocupada. Pelo menos cinco palestinianos foram ali mortos nas últimas 24 horas, em vários pontos do território ocupado. A operação israelita de larga escala segue-se à operação, lançada no sábado de manhã, por forças da resistência palestiniana na Faixa de Gaza, onde o Hamas é o elemento predominante. Segundo foi revelado então, a ala militar do Hamas lançou pelo menos 5000 rockets para aquilo que é hoje Israel. As forças da resistência derrubaram, em vários pontos, a vedação que cerca o território e atacaram os colonatos em redor por terra, mar e ar. Pelo menos 700 israelitas foram mortos nessa operação que alguma imprensa israelita classificou como «nunca vista» e mais de cem foram feitos prisioneiros, incluindo militares de alta patente. No domínio político-mediático da «comunidade internacional», o mundo predominantemente ocidental e branco, as vozes sobre «A Guerra» (só havia uma e mais nenhuma: a da Ucrânia) silenciaram-se e, nas fachadas das praças de capitais como Nova Iorque, Berlim ou Bruxelas, as bandeiras da Ucrânia foram substituídas pelas de Israel. Desde o Mandato Britânico que os palestinianos são sujeitos à opressão, que se intensificou com a construção, nas suas terras, do Estado de Israel, erguido à custa das forças paramilitares que expulsaram os palestinianos de suas casas e os mataram ou meteram em guetos. A campanha de limpeza étnica então iniciada mantém-se até hoje, sob um regime de apartheid, por via do saque de territórios e de recursos, a destruição de casas, escolas e outras infra-estruturas, e a expulsão dos palestinianos das terras onde vivem. De forma sistemática, as forças israelitas bombardeiam a Faixa de Gaza, que mantêm fechada e cercada num férreo bloqueio, com mais de dois milhões de pessoas a viver em condições insalubres, sem luz, água potável, mas «a comunidade internacional» projecta as suas bandeiras nos edifícios das suas praças quando a Palestina – reduzida ao Hamas – se ergue e rompe o cerco. Entretanto, no enorme campo de deslocados que é Gaza, cerca de 70 mil pessoas procuraram refúgio dos bombardeamentos nas 64 escolas operadas pela UNRWA – a agência da ONU para os refugiados palestinianos no Médio Oriente. Em comunicado, a UNRWA confirmou que dois alunos em escolas que opera em Khan Younis e Beit Hanoun se encontram entre os mortos. Pelo menos três escolas da organização sofreram danos provocados pelos bombardeamentos, acrescenta o texto. A UNRWA sublinhou que os civis devem ser sempre protegidos, também em período de guerra, e apelou a um cessar-fogo imediato e ao fim da violência em todo o lado. A operação das forças da resistência em território israelita continua. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. No Estado espanhol, o movimento solidário com a Palestina teve uma enorme expressão em Madrid, bem como em várias cidades catalãs, bascas e galegas, onde se clamou «Liberdade para a Palestina» e «Boicote a Israel». França, Alemanha, Iémen, Tunísia, Argentina, Brasil, Chile, Bolívia, Líbano, Austrália, Koweit, Marrocos, Turquia e Canadá foram outros países onde ocorreram concentrações e manifestações de apoio à Palestina, exigindo liberdade para o povo palestiniano e o fim da «barbárie sionista». Em Portugal, está convocado um acto público de solidariedade com o povo palestiniano para esta tarde em Lisboa (Martim Moniz, 18h). Esta manhã, o Ministério palestiniano da Saúde actualizou os registos da mortandade provocada pelos bombardeamentos indiscriminados na Faixa de Gaza, tendo revelado em comunicado que, desde sábado, 974 pessoas foram mortas em resultado da agressão israelita em curso e mais de 5000 ficaram feridas. Destas, precisou, 950 foram mortas como consequência dos bombardeamentos no enclave cuja vedação a resistência rompeu no sábado passado. No mesmo período, 24 palestinianos perderam a vida e 150 ficaram feridos na Cisjordânia, como resultado de ataques das forças de ocupação, indica a Wafa. Também esta terça-feira, a Wafa revelou, com base em dados de instituições locais, que a aviação israelita destruiu 22 639 unidades habitacionais, de forma total ou parcial, na Faixa de Gaza. Além disso, foram bombardeadas dez instituições médicas, incluindo sete hospitais, e 12 ambulâncias, enquanto 48 escolas sofreram danos, mais e menos intensos. A mesma fonte revelou que, segundo dados da ONU, mais de 263 mil pessoas foram obrigadas a sair de suas casas e a procurar refúgio pelos bombardeamentos israelitas, que se seguiram ao início da operação da resistência, que ontem continuava. «A paz não é possível enquanto continuarem a ser espezinhados os legítimos direitos do povo palestino». Concentração convocada pelo MPPM, CPPC e a CGTP-IN para o Martim Moniz, 11 de Outubro, às 18h. «A situação dramática que se vive, desde o passado sábado, em Gaza e Israel, e que já causou centenas de vítimas» (de acordo com os dados mais recentes, após bombardeamentos israelitas, são já milhares de mortos e pelo menos 5 mil feridos) é lamentável, «com trágicas consequências para as populações». Enquanto se mantiver a ocupação colonial e a violência das forças militares e dos colonos, não haverá paz, alerta o Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente (MPPM). O MPPM reage assim às acções desencadeadas em Gaza e em Israel na madrugada deste sábado. Eram 4h30 em Lisboa (6h30 no local), quando militantes de organizações da resistência palestiniana lançaram, a partir da Faixa de Gaza, um ataque de surpresa, em larga escala, contra Israel, no que apelidaram de «Operação Dilúvio Al-Aqsa». Segundo as organizações, a acção foi uma resposta à profanação da Mesquita de Al-Aqsa e ao aumento da violência dos colonos, e confirma, insiste o MPPM num comunicado, «que não é possível ter uma situação de paz na Palestina e, por consequência, no Médio Oriente, continuando a espezinhar os legítimos direitos do povo palestino e persistindo em manter a ocupação colonial e a violência das forças militares e dos colonos». Diversos grupos da resistência declararam o apoio à operação lançada contra Israel, esta manhã, a partir da Faixa de Gaza, sublinhando que faz parte da luta de libertação nacional. «Fazemos parte desta batalha e os nossos combatentes estão lado a lado com os seus irmãos nas Brigadas al-Qassam (ala militar do Hamas) até à vitória», afirmou em comunicado Abu Hamza, porta-voz das Brigadas de al-Quds, braço militar da Jihad Islâmica. Em termos semelhantes, refere a Prensa Latina, se pronunciaram as Brigadas al-Nasser Salah al-Din, do Movimento de Resistência Popular: «Unidos numa trincheira neste dia glorioso do nosso povo.» Por seu lado, as Brigadas de Resistência Nacional anunciaram que os seus membros se juntaram à operação, lançada esta manhã pelo Hamas, que incluiu o lançamento de milhares de rockets e uma incursão terrestre em território ocupado em 1948. Atingido por disparos de colonos na cidade de Huwara, Labib Dumaidi, de 19 anos, é a mais recente das quatro vítimas mortais na Margem Ocidental ocupada, revelou o Ministério da Saúde. De acordo com a informação divulgada pelo Ministério, Labib Mohammed Dumaidi ficou gravemente ferido durante um ataque de colonos, ontem à noite, na cidade de Huwara, a sul de Nablus. Levado para um hospital, não resistiu aos ferimentos, já nas primeiras horas de sexta-feira. Residentes de Huwara tentaram fazer frente à provocação levada a cabo por dezenas de colonos, protegidos por forças militares israelitas, indica a Wafa. Registaram-se fortes confrontos e as tropas israelitas usaram fogo real, gás lacrimogéneo e granadas atordoantes para dispersar os palestinianos. Fontes do Crescente Vermelho Palestiniano informaram que pelo menos 25 pessoas, incluindo quatro crianças, sofreram efeitos de asfixia devido à inalação de gás lacrimogéneo. Também em Huwara, as forças israelitas mataram, ontem à tarde, outro palestiniano, cuja identidade ainda não foi revelada. Dias depois de colonos extremistas terem invadido e atacado Huwara, Bezalel Smotrich afirmou que Israel deve «aniquilar» a localidade palestiniana no Norte da Cisjordânia ocupada. «Penso que Huwara precisa de ser destruída», disse o ministro israelita das Finanças, Bezalel Smotrich, esta quarta-feira, defendendo que «o Estado devia fazê-lo e não cidadãos privados», refere a PressTV com base na imprensa israelita. As declarações do ministro de extrema-direita do governo de Benjamin Netanyahu seguem-se ao ataque perpetrado contra a localidade palestiniana, no domingo à noite, por centenas de colonos armados. Tratou-se da «resposta» à morte de dois israelitas de um colonato ilegal, executados por um atacante palestiniano de Huwara. Este ataque, por sua vez, seguiu-se ao massacre de Nablus, em que as forças de ocupação israelitas mataram 11 palestinianos e feriram mais de cem. No domingo à noite, os colonos queimaram pelo menos 150 carros, 52 casas e várias lojas. Uma pessoa foi morta e o número de feridos palestinianos é superior a 390, indica a agência Wafa. Grupos israelitas de defesa dos direitos humanos como Peace Now e B’Tselem referiram-se ao ataque dos colonos como um «pogrom» apoiado pelas autoridades de ocupação. Por seu lado, o Crescente Vermelho palestiniano acusou as forças israelitas de impedirem as ambulâncias e os paramédicos de acederem ao local do ataque, a poucos quilómetros de Nablus. No Knesset, a extrema-direita israelita considerou os ataques a Huwara «legítimos». Hussein al-Sheikh, da Comissão Executiva da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), afirmou, no Twitter, que as afirmações de Smotrich para apagar Huwara do mapa são o apelo de um «racista terrorista». Também o primeiro-ministro da Autoridade Palestiniana (AP), Mohammad Shtayyeh, se referiu às afirmações do ministro israelita como «terroristas» e «racistas», e alertou para o facto de que «fazem prever uma escalada séria» contra o povo palestiniano nos territórios ocupados. Neste sentido, pediu às Nações Unidas, à União Europeia e demais organizações internacionais que condenem as declarações de Smotrich. Antes, já tinha pedido ajuda internacional «contra os crimes de Israel». O Parlamento (da Liga) Árabe, com sede no Cairo, condenou esta quarta-feira os ataques executados por colonos israelitas contra o povo palestiniano na Cisjordânia ocupada, referindo-se em especial ao assalto à localidade de Huwara. Perante os ataques terroristas sistemáticos dos colonos contra cidadãos indefesos, com armas de fogo, incêndios de casas e viaturas, expulsão de agricultores, assassinatos e outros crimes, exortou o mundo e em especial o Conselho de Segurança da ONU a adoptar medidas para proteger o povo palestiniano. Antes, a Liga Árabe já tinha proposto que as milícias de colonos passem a ser incluídas na lista de grupos terroristas. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Na parte da manhã, as forças israelitas já tinham matado dois palestinianos, identificados como Hudhayfah Fares, de 27 anos, e Abd al-Rahman Atta, de 23, na aldeia de Shufa, na sequência de um ataque de colonos a viaturas na região de Tulkarem. De acordo com as Nações Unidas, 2023 está a ser o ano mais mortífero para os palestinianos na Margem Ocidental desde que há registo de fatalidades provocadas pelas forças de ocupação. Nabil Abu Rudeineh, porta-voz da Presidência palestiniana, disse à imprensa que a ocupação israelita pisou todas as linhas vermelhas, com a sua insistência na política de assassinatos e incursões em cidades, aldeias e acampamentos palestinianos. Numa entrevista à Palestine TV, o representante da Presidência responsabilizou o governo israelita e a administração norte-americana pelos «crimes perigosos perpetrados pela ocupação e os seus colonos por todo o território palestiniano», os mais recentes dos quais nas imediações de Nablus e Tulkarem, refere a Wafa. Apesar da «guerra implacável» que a ocupação israelita está a travar contra o povo palestiniano «à vista de todo o mundo», o responsável afirmou que isso não irá impedir «o nosso povo de prosseguir a sua luta legítima» até à «criação do seu Estado independente, com Jerusalém como capital». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Na Cisjordânia, a Cova dos Leões, um dos grupos da resistência mais activos, fez um apelo à mobilização geral dos seus membros, bem como ao «ataque imediato em todos os lugares contra as forças de ocupação e os seus colonos». Com base em fontes israelitas, a agência Prensa Latina indica que o Exército de ocupação deu conta de combates em 21 locais no Sul de Israel, na sequência da operação palestiniana – embora tenha posteriormente reduzido esse número para sete. Ao anunciar a ofensiva desta manhã (às 7h locais), o comandante das Brigadas al-Qassam, Muhammad al-Deif, disse que o grupo palestiniano disparou para território israelita 5000 rockets. Al-Deif afirmou que a operação é uma resposta aos sistemáticos crimes israelitas contra o povo palestiniano e a profanação contínua por colonos judeus da mesquita de al-Aqsa, em Jerusalém, e ocorre num contexto de escalada de agressões, da parte de colonos e forças israelitas, em Jerusalém Oriental e na Cisjordânia ocupada. A Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos registou mais de 135 mil casos de detenções, pelas forças de ocupação israelitas, desde o início da Intifada de al-Aqsa, em 2000. Num relatório emitido por ocasião do 23.º aniversário do início da Segunda Intifada ou Intifada de al-Aqsa (28 de Setembro de 2000), a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos sublinha que as detenções levadas a cabo pelas forças israelitas afectaram todas as camadas da sociedade, e não deixaram de parte menores de idade, idosos e mulheres. Dos mais de 135 mil casos registados pelo organismo, 21 mil dizem respeito a menores, indica o relatório – divulgado pela Wafa –, que dá conta da detenção de metade dos deputados do Conselho Legislativo Palestiniano (Parlamento), de vários ministros, centenas de académicos, jornalistas e funcionários de organizações da sociedade civil e instituições internacionais. Israel mantém nas suas prisões 1264 palestinianos sem acusações nem julgamento, o número mais elevado em 30 anos, revelou a ONG Hamoked. Desde a Primeira Intifada (1987-1993) que não havia tantos palestinianos detidos ao abrigo da polémica norma, alertou a organização não governamental este fim-de-semana, com base nos dados dos serviços prisionais. Jessica Montell, directora executiva da Hamoked, organização israelita que presta assistência jurídica gratuita aos palestinianos que vivem sob a ocupação, afirmou que a detenção administrativa é «massiva e arbitrária» e que Israel mantém nesse regime, sem acusação nem julgamento, mais de 1200 palestinianos, «alguns dos quais durante anos sem uma revisão eficaz». Ao abrigo deste regime, a detenção, decretada por um comandante militar, com base naquilo a que Israel chama «prova secreta» – que nem o advogado do detido tem direito a ver –, pode ser infinitamente renovada por períodos até seis meses. A Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) revelou, este domingo, que nove presos palestinianos sem acusação ou julgamento continuam em greve de fome por tempo indeterminado. Os presos Kayed al-Fasfous e Sultan Khlouf iniciaram o protesto contra a detenção administrativa há 19 dias. Por seu lado, Osama Darkouk encontra-se em greve de fome há 15 dias. Outros seis reclusos palestinianos em cadeias israelitas estão em greve de fome há 12 dias: Hadi Nazzal, Mohammad Taysir Zakarneh, Anas Kmail, Abdelrahman Baraka, Mohammad Basem Ikhmis e Zuhdi Abdo, informa a agência Wafa, com base na SPP. Na semana passada, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos pediu à chamada comunidade internacional que quebre o silêncio em torno do «crime israelita da detenção administrativa», que permite manter na cadeia presos sem acusação ou julgamento, numa clara violação das normas internacionais. Ao abrigo deste regime, a detenção, decretada por um comandante militar, com base naquilo a que Israel chama «prova secreta» – que nem o advogado do detido tem direito a ver –, pode ser infinitamente renovada por períodos até seis meses. A Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) revelou, esta segunda-feira, que quatro presos palestinianos sem acusação ou julgamento tinham iniciado há nove dias uma greve de fome por tempo indeterminado. Em comunicado divulgado pela Wafa, a SPP indicou que Anas Ibrahim Shadid, de 26 anos, Mahmoud Abdel Halim Talahma, de 32, Abdullah Mohammad Abido, de 36, e Mohammad Ahmad Dandis, de 25, iniciaram o protesto para denunciar a sua detenção sem acusação ou julgamento. Acrescentou que todos os detidos estão na cadeia israelita de Ofer, perto de Ramallah, e são originários da província de Hebron (al-Khalil), no Sul da Cisjordânia ocupada. A organização de defesa dos direitos dos presos informa que Shadid foi preso três vezes, sempre no regime de detenção administrativa, tendo passado, no total, três anos atrás das grades. Durante esses períodos, levou a cabo duas greves de fome, uma delas com a duração de 90 dias, em 2016. Os prisioneiros iniciaram uma greve de fome, há uma semana, para exigir a sua libertação e denunciar um regime de detenção que permite mantê-los na cadeia sem acusação ou julgamento. O protesto dos trinta presos palestinianos, membros e simpatizantes da Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP), completou uma semana sem solução aparente à vista, tendo em conta a inflexibilidade das autoridades de Telavive. Em comunicado, a Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) anunciou que os serviços prisionais israelitas têm estado a ameaçar com castigos os reclusos que lutam contra o regime de detenção administrativa. Entre as punições, contam-se privá-los de visitas, retirar-lhes os seus pertences e isolá-los em celas de castigo. Nesta primeira semana de protesto, os serviços prisionais israelitas colocaram 28 dos grevistas em quatro celas de isolamento na prisão de Ofer, informa a Wafa com base no documento divulgado pelo SPP. Um outro, o advogado Salah Hammouri, foi metido na solitária numa cadeia no Norte de Israel, enquanto Ghassan Zawahreh foi levado para uma cela de isolamento numa prisão localizada no Deserto do Neguev (al-Naqab). Os prisioneiros, em cadeias israelitas, iniciaram uma greve de fome por tempo indeterminado contra um regime que permite mantê-los detidos sem acusação ou julgamento, por períodos renováveis de seis meses. O início do protesto, este domingo, por parte de prisioneiros que são membros ou apoiantes da Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP), foi confirmado pela Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos. Em declarações à agência Wafa, Hassan Abed Rabbo, porta-voz da comissão, disse que os presos decidiram avançar contra uma política que permite a Israel manter nas suas prisões, sem acusação ou julgamento, presos palestinianos por tempo indefinido, na medida em que o período de detenção, até seis meses, é infinitamente renovável. Numa mensagem divulgada há alguns dias, os presos sublinharam que a luta contra o regime de detenção administrativa continua e denunciaram que as medidas tomadas pelas autoridades prisionais israelitas «já não se baseiam em obsessões de segurança, mas são actos de vingança devido ao seu passado». Qadri Abu Baker, líder da Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos, disse à Wafa que, na próxima quinta-feira, mais 50 presos se devem juntar à greve de fome, para denunciar o regime de detenção administrativa a que são submetidos e a escalada por parte de Israel no que respeita a este procedimento. O maior número de detenções administrativas – sem julgamento ou acusação – foi decretado em Maio, quando Israel lançou uma ofensiva de 11 dias contra a Faixa de Gaza. A Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) revelou, este domingo, que o número divulgado diz respeito tanto a novas ordens como à renovação de ordens já emitidas nos territórios ocupados, pelas autoridades israelitas. No documento apresentado, o organismo lembra que política de detenção administrativa visa «esmagar os activistas políticos palestinianos» e se baseia num ficheiro secreto não acessível aos presos – nem sequer aos seus advogados –, que são mantidos na cadeia sem acusação ou julgamento, informa a WAFA. O maior número de ordens de detenção administrativa foi emitido em Maio último, quando a Israel lançou uma ofensiva de 11 dias contra a Faixa de Gaza, explicou a organização de defesa dos presos, acrescentado que, ao longo do ano, 60 prisioneiros recorreram à greve de fome com o propósito de reconquistar a liberdade. Uma comissão de apoio aos prisioneiros revelou que 13 palestinianos permaneciam em greve de fome nas cadeias, este domingo, contra o regime que permite mantê-los reclusos sem acusação ou julgamento. Num comunicado ontem emitido, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos informou que o prisioneiro Salem Ziadat, de 40 anos, é, dos 13 que continuavam o protesto, aquele que está em greve de fome há mais tempo, permanecendo em jejum há 28 dias contra a sua detenção administrativa, sem acusação ou julgamento, revelou a agência WAFA. A Comissão informou ainda que o número de reclusos palestinianos em greve de fome até ontem era de 15, mas que Mohammad Khaled Abusill e Ahmad Abdulrahman Abusill tinham chegado a um acordo com o Serviço Prisional Israelita no que respeita à «limitação» da chamada detenção administrativa. Grupos de defesa dos presos apresentaram um relatório sobre o primeiro semestre de 2021. Nas cadeias israelitas, há actualmente 4850 palestinianos, 540 dos quais ao abrigo da «detenção administrativa». Entre os palestinianos que se encontram nos cárceres de Israel, contam-se 43 mulheres e 225 menores, segundo o documento conjunto divulgado este fim-de-semana pela Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos, a Sociedade dos Presos Palestinianos, a Addameer e o Centro de Informação Wadi Hilweh. Os organismos referidos precisaram que 12 presos são membros do Conselho Legislativo Palestiniano (Parlamento), 70 são provenientes dos territórios ocupados em 1948, 350 são originários de Jerusalém ocupada e 240 da Faixa de Gaza cercada. O informe destaca a existência de 540 prisioneiros palestinianos em detenção administrativa, sem acusação formada ou julgamento, por períodos de seis meses indefinidamente renováveis. No que respeita a detenções, os organismos de defesa dos presos revelaram que Israel prendeu 5426 palestinianos entre 1 de Janeiro e 30 de Junho deste ano – um número superior a todas as detenções efectuadas pelas forças israelitas em 2020 e registadas por estas organizações: 4636. Por ocasião do Dia da Criança Palestiniana, que se assinala a 5 de Abril, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos revelou também que 140 menores permanecem em cadeias israelitas. Os menores palestinianos, alguns dos quais crianças, continuam a ser alvo das forças militares israelitas, que os prendem, muitas vezes de forma violenta, nos territórios ocupados. De acordo com um relatório publicado este domingo pela Sociedade dos Prisioneiros Palestinianos, pelo menos 230 foram detidos desde o início do ano, a maioria dos quais em Jerusalém Oriental ocupada. O grupo de defesa dos direitos dos presos sublinhou que «as crianças encarceradas são submetidas a vários tipos de abusos, incluindo «a recusa de comida e de bebida por longas horas, abuso verbal e a detenção em condições duras». O informe veio a lume na véspera do Dia da Criança Palestiniana, que se assinala a 5 de Abril, com actividades culturais, educativas e mediáticas que, refere a PressTV, visam reforçar a consciência sobre o sofrimento dos menores palestinianos. Também no âmbito do Dia da Criança Palestiniana, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos revelou que 140 menores permanecem em cadeias israelitas, incluindo dois que se encontram presos ao abrigo do regime de detenção administrativa. Uma comissão da ONU reafirmou denúncias expostas em vários relatórios sobre detenções de menores palestinianos por Israel – quase sempre presos de noite, algemados e vendados. É o início da «viagem ao inferno». A instância, composta por especialistas independentes das Nações Unidas, expressou particular preocupação pela expansão dos colonatos e o aumento da violência dos colonos israelitas, em que se incluem ataques a crianças e às suas escolas. Segundo se pode ler no portal oficial de notícias da ONU, na semana passada diversas organizações informaram a comissão sobre as operações nocturnas levadas a efeito pelas forças israelitas com o propósito de deter crianças e adolescentes na Cisjordânia ocupada, com «graves consequências para o seu bem-estar e gozo dos seus direitos». «Mais de 300 crianças estão detidas no sistema militar israelita. A maioria por delitos menores, como atirar pedras e publicações nas redes sociais», assinala a comissão, que denuncia o facto de os menores serem «levados para locais desconhecidos, presos em viaturas militares e sujeitos a ameaças e abusos verbais», bem como o facto de, por vezes, serem «obrigados a assinar confissões em hebraico, uma língua que não costumam entender». Estas preocupações reafirmam as que têm sido veiculadas, ao longo do tempo, por várias entidades, nomeadamente a Comissão dos Prisioneiros Palestinianos, órgão dependente da Autoridade Palestiniana que, em diversas ocasiões (também este ano), alertou para o facto de os menores serem torturados e sofrerem abusos nos cárceres israelitas, bem como para o facto de serem espancados, insultados e pressionados no momento da detenção. No final de Março, um relatório publicado pelo Ministério palestiniano da Informação denunciava também esta realidade, afirmando que «95% das crianças palestinianas presas pelas autoridades israelitas foram torturadas durante a detenção». De acordo com o relatório, até 2015 foram documentadas anualmente 700 detenções de menores palestinianos. Já em 2017, Israel prendeu 1467 crianças e adolescentes; 1063 no ano seguinte e, nos dois primeiros dois meses deste ano, 118. Entre 2000 e 2018, foram presos mais de 16 mil menores. Numa peça intitulada «“Endless Trip to Hell”: Israel Jails Hundreds of Palestinian Boys a Year. These Are Their Testimonies», publicada em Março e plenamente actual, o periódico israelita Haaretz aborda esta realidade, em que as crianças, algumas com idades inferiores a 13 anos, «são detidas pela calada da noite, vendadas e algemadas, alvo de abusos e constrangidas» a confessar «crimes» que não cometeram. A peça, que reúne testemunhos de sete jovens da Margem Ocidental ocupada com idades compreendidas entre os dez e os 15 anos, revela as diversas fases do processo de detenção, que começa nas operações nocturnas e passa pelo interrogatório, a prisão, o julgamento e a proposta de um acordo. Na sua maioria, os jovens são presos por, alegadamente, terem atirado pedras ou queimado pneus, mas, como sublinha a advogada Farah Bayadsi o objectivo das detenções «é mais para mostrar controlo do que para aplicar a lei». A experiência traumática é fundamentada por tudo aquilo por que as crianças passam durante uma detenção. Arrancadas de casa quando dormem, são algemadas e vendadas, levadas em veículos militares para colonatos e bases israelitas, passando por todo um processo que envolve intimidação, ameaças, agressões físicas, afastamento da família e pressão para «confessar». O nível de brutalidade varia. Khaled Mahmoud Selvi, preso quando tinha 15 anos, foi levado para a prisão e despido (o que, de acordo com o jornal, ocorre em 55% dos casos), tendo sido obrigado a permanecer dez minutos nu, em pé, durante o Inverno. De acordo com os dados recolhidos pela organização não governamental (ONG) British-Palestinian Military Court Watch, 97% dos jovens palestinianos detidos pelas forças militares israelitas (IDF) vivem em pequenas localidades a menos de dois quilómetros de um colonato. O advogado Gerard Horton, da ONG referida, afirma que a ideia é «assustar toda a aldeia» e que se trata de um «instrumento eficaz» para controlar uma comunidade. Acrescenta que, do ponto de vista dos ocupantes e opressores, a pressão «tem de ser constante»: «Cada geração tem de sentir a mão pesada das IDF.» A experiência é traumática. O pai de Khaled Shtaiwi, preso com 13 anos em Novembro do ano passado, contou ao periódico que criou na sua aldeia o «dia da psicologia», porque o seu filho não é capaz de falar sobre o que se passou e porque quer ajudar todas as crianças que foram presas pelos israelitas. Em Beit Ummar, Omar Ayyash foi preso com dez anos de idade, em Dezembro último. Agora, as crianças que brincam nas ruas da aldeia afastam-se assim que se apercebem da aproximação de soldados israelitas. Tornou-se um hábito desde que as tropas levaram Omar. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Por seu lado, a organização Defense for Children International – Palestine (DCIP) destacou que todos os anos entre 500 e 700 menores palestinianos são processados em tribunais militares israelitas e que 85% das crianças palestinianas detidas em 2020 foram «submetidas a violência física». Num comunicado, a DCIP afirma ter documentado 27 casos em que as crianças foram mantidas na solitária um ou dois dias, alegando as forças israelitas «objectivos de investigação». Esta prática é, segundo o organismo, uma forma de «tortura ou tratamento cruel, desumano e degradante». Desde Outubro de 2015, a DCIP registou a 36 ordens de detenção administrativa decretadas contra menores palestinianos, dois dos quais se mantêm nesse regime. Ainda de acordo com o organismo sediado em Genebra, em 2020, as forças israelitas mataram nove menores palestinianos na Cisjordânia ocupada, incluindo Jerusalém Oriental, e na Faixa de Gaza, seis dos quais com fogo real. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. O relatório divulgado este fim-de-semana informa que, entre os palestinianos detidos pelas forças israelitas, se incluem 854 menores e 107 mulheres, tendo sido emitidas na primeira metade do ano 680 ordens de detenção administrativa, incluindo 312 novas. No mês de Junho foram presos 615 palestinianos, revela o texto, destacando que Maio foi de longe o mês em que se registou um maior número de detenções na primeira metade deste ano. Então, mês de massacre contra Gaza e de múltiplas provocações sionistas no Complexo da Mesquita de al-Aqsa e em Jerusalém Oriental ocupada, as forças israelitas prenderam 3100 palestinianos, incluindo 2000 nos territórios ocupados em 1948 (actual Estado de Israel) e 677 em Jerusalém Oriental ocupada, informa a WAFA. De acordo com a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos, há actualmente nove presos em greve de fome nos cárceres israelitas como forma de protesto contra o regime de detenção administrativa que lhes foi aplicado. A Comissão pediu às instâncias internacionais e regionais de defesa dos direitos humanos que pressionem as autoridades israelitas no sentido de acabar com os maus-tratos aos presos em greve de fome, que passam também pela sua reclusão na solitária. Os presos palestinianos recorrem com frequência a esta forma de luta contra um regime de detenção ilegal, cujo fim exigem. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. De acordo com os grupos de defesa dos direitos dos prisioneiros palestinianos, há actualmente quase 550 nos cárceres israelitas detidos ao abrigo deste regime, que tem merecido ampla condenação internacional e que permite a Israel manter nas suas prisões, sem acusação ou julgamento, presos palestinianos por tempo indefinido, na medida em que o período de detenção, até seis meses, é infinitamente renovável. A detenção, que é decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta» – e é tão «secreta» que nem o advogado do detido tem direito a vê-la. Alguns prisioneiros palestinianos passaram mais de uma década nas cadeias israelitas ao abrigo deste regime de «detenção», que é considerado ilegal à luz do direito internacional. Como forma de protesto contra as suas detenções ilegais e para exigir que Israel ponha fim a esta prática, os presos palestinianos recorrem com frequência a greves de fome por tempo indeterminado. Apesar da pressão internacional e dos protestos dos prisioneiros, as autoridades israelitas não têm dado sinais de querer acabar com este regime. Pelo contrário, tanto a comissão referida como o Centro Palestiniano de Estudos sobre Prisioneiros têm dado conta de novas ordens de detenção administrativa e de múltiplas renovações. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Na maior parte dos casos, estavam presos ao abrigo do regime de detenção administrativa, como Hisham Abu Hawwash, de 40 anos, habitante da localidade de Dura (Cisjordânia ocupada) que se mantém há 140 dias em greve de fome e está numa situação considerada muito crítica. Nos últimos dias, as autoridades palestinianas alertaram para o estado de saúde crítico de Abu Hawwash, responsabilizaram Telavive por aquilo que lhe possa acontecer e pediram à comunidade internacional que pressione as autoridades israelitas para o libertarem. Também a Cruz Vermelha se mostrou preocupada com o caso, sublinhando a necessidade de tratar os reclusos com humanidade e de encontrar uma solução que evite «consequências irreversíveis» para Hawwash. De acordo com a SPP, este domingo cerca de 500 reclusos palestinianos presos em Israel ao abrigo do regime da detenção administrativa – criticado pela ONU – declararam o boicote aos tribunais israelitas, porque «sentem que os tribunais alinham sempre com o governo militar e as suas ordens, e não os tratam com imparcialidade». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. De acordo com a comissão, há actualmente mais de 760 presos nas cadeias israelitas sem acusação ou julgamento. A detenção, decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta», que nem o advogado do detido tem direito a ver. Cerca de 80% dos presos palestinianos neste regime são ex-presos que já passaram anos atrás das grades, revela a Wafa. Em comunicado, emitido há dias, o Ramo Penitenciário da Frente Popular para a Libertação da Palestina afirmou que «estes 30 prisioneiros, juntos, passaram quase 200 anos em detenção administrativa. Duzentos anos de cativeiro sem acusação ou julgamento por capricho dos oficiais de inteligência da ocupação». O texto, divulgado pela Samidoun (rede de solidariedade com os presos palestinianos), sublinha que se trata de uma «pena perpétua», uma vez que muitos presos são libertados durante alguns meses e são novamente detidos. «Temos um mês de liberdade por cada ano de detenção», afirmam. Dizem que são «alimentados pela dignidade» e querem que as autoridades israelitas saibam que, mesmo que os torturem e lhes provoquem dor, «que a nossa luta continua, e que semearemos alegria, vida e esperança, e que nossa luta pela liberdade e pela humanidade livre de tormentos não vai parar». Leila Khaled, membro do Comité Central da FPLP e símbolo da resistência palestiniana, anunciou uma greve de fome solidária com os presos, a quem saudou por estarem «na primeira linha do confronto a este inimigo criminoso fascista». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. De acordo com a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos, dos cerca de 4600 palestinianos actualmente presos nas cadeias israelitas, mais de 760 são reclusos sem acusação ou julgamento, cuja detenção pode ser infinitamente renovada por períodos até seis meses. A detenção, decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta», que nem o advogado do detido tem direito a ver. Após o início da greve de fome, Basil Mizher, outro advogado palestiniano detido sem acusação ou julgamento, viu ser-lhe renovada a detenção administrativa por mais três meses, no passado dia 28. Numa mensagem que Mizher escreveu no início do protesto, lida pela sua mãe numa acção solidária no campo de refugiados de Dheisheh, em Belém, o preso diz que a sua profissão é a de advogado, mas que mal se lembra dela, pois quase não a conseguiu exercer desde que se formou – foi submetido a três detenções administrativas desde que passou no exame. Em vez de ir trabalhar, foi para a prisão, lê-se no texto divulgado pela pela Samidoun (rede de solidariedade com os presos palestinianos). «Ou nos submetemos à opressão e à privação e aceitamos o roubo perpétuo da nossa liberdade e da nossa vida à vista do mundo, ou nos revoltamos contra a injustiça e derrubamos os muros do carcereiro com todas as ferramentas que temos», escreveu Basil Mizher a propósito da greve de fome, que é a «recusa da política de subordinação e domesticação». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Talahma, detido desde Março de 2022, é um advogado e antigo prisioneiro, que passou dois anos e meio nas cadeias israelitas. Abido é também um antigo prisioneiro, que passou cinco anos e meio nas prisões da ocupação – a maior parte do tempo ao abrigo do regime de detenção administrativa. Por seu lado, Dandis foi preso pela primeira vez a 23 de Março último, tendo-lhe sido imposta uma detenção administrativa por um período de seis meses. Este protesto ocorre num contexto em que Israel intensifica o recurso às detenções sem acusação ou julgamento. Segundo revelou a SPP, existem actualmente nas cadeias israelitas 1083 presos palestinianos a quem foi aplicado este regime de detenção, 17 dos quais são menores. O regime de detenção administrativa, que tem merecido ampla condenação internacional, permite a Israel manter nas suas prisões, sem acusação ou julgamento, presos palestinianos por tempo indefinido, na medida em que o período de detenção, até seis meses, é infinitamente renovável. O primeiro-ministro palestiniano, Mohammad Shtayyeh, responsabilizou Israel pelo «assassinato» de Khader Adnan, ao não atender ao protesto contra a sua detenção sem acusação ou julgamento. A Sociedade de Prisioneiros Palestinianos (SPP) afirmou, em comunicado, que Khader Adnan, de 44 anos, foi encontrado inconsciente esta madrugada na sua cela, tendo sido levado para um hospital, onde foi declarado morto. Adnan, natural da cidade de Arraba (perto de Jenin), foi preso 12 vezes ao longo da sua vida, tendo recorrido à greve de fome em diversas ocasiões para protestar contra as suas detenções sem qualquer acusação, afirmou a SPP, citada pela agência Wafa. A última detenção ocorreu a 5 de Fevereiro e Adnan entrou de imediato em greve de fome por tempo indeterminado, refere a fonte, acrescentando que pelo menos 236 presos palestinianos morreram desde 1967. Ao ter conhecimento da notícia, o primeiro-ministro palestiniano, Mohammad Shtayyeh, acusou Israel de ter cometido um assassinato. O número foi destacado pela Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) em conferência de imprensa. A maior parte encontra-se nos centros de detenção de Ofer e de Naqab (Neguev). O regime de detenção administrativa, que tem merecido ampla condenação internacional – até do Departamento de Estado norte-americano e da Amnistia Internacional –, permite a Israel manter nas suas prisões, sem acusação ou julgamento, presos palestinianos por tempo indefinido, na medida em que o período de detenção, até seis meses, é infinitamente renovável. Em relatórios anteriores, a SPP lembrou que esta política visa «esmagar os activistas políticos palestinianos» e se baseia num ficheiro secreto não acessível aos presos – nem sequer aos seus advogados. Os prisioneiros iniciaram uma greve de fome, há uma semana, para exigir a sua libertação e denunciar um regime de detenção que permite mantê-los na cadeia sem acusação ou julgamento. O protesto dos trinta presos palestinianos, membros e simpatizantes da Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP), completou uma semana sem solução aparente à vista, tendo em conta a inflexibilidade das autoridades de Telavive. Em comunicado, a Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) anunciou que os serviços prisionais israelitas têm estado a ameaçar com castigos os reclusos que lutam contra o regime de detenção administrativa. Entre as punições, contam-se privá-los de visitas, retirar-lhes os seus pertences e isolá-los em celas de castigo. Nesta primeira semana de protesto, os serviços prisionais israelitas colocaram 28 dos grevistas em quatro celas de isolamento na prisão de Ofer, informa a Wafa com base no documento divulgado pelo SPP. Um outro, o advogado Salah Hammouri, foi metido na solitária numa cadeia no Norte de Israel, enquanto Ghassan Zawahreh foi levado para uma cela de isolamento numa prisão localizada no Deserto do Neguev (al-Naqab). Os prisioneiros, em cadeias israelitas, iniciaram uma greve de fome por tempo indeterminado contra um regime que permite mantê-los detidos sem acusação ou julgamento, por períodos renováveis de seis meses. O início do protesto, este domingo, por parte de prisioneiros que são membros ou apoiantes da Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP), foi confirmado pela Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos. Em declarações à agência Wafa, Hassan Abed Rabbo, porta-voz da comissão, disse que os presos decidiram avançar contra uma política que permite a Israel manter nas suas prisões, sem acusação ou julgamento, presos palestinianos por tempo indefinido, na medida em que o período de detenção, até seis meses, é infinitamente renovável. Numa mensagem divulgada há alguns dias, os presos sublinharam que a luta contra o regime de detenção administrativa continua e denunciaram que as medidas tomadas pelas autoridades prisionais israelitas «já não se baseiam em obsessões de segurança, mas são actos de vingança devido ao seu passado». Qadri Abu Baker, líder da Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos, disse à Wafa que, na próxima quinta-feira, mais 50 presos se devem juntar à greve de fome, para denunciar o regime de detenção administrativa a que são submetidos e a escalada por parte de Israel no que respeita a este procedimento. O maior número de detenções administrativas – sem julgamento ou acusação – foi decretado em Maio, quando Israel lançou uma ofensiva de 11 dias contra a Faixa de Gaza. A Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) revelou, este domingo, que o número divulgado diz respeito tanto a novas ordens como à renovação de ordens já emitidas nos territórios ocupados, pelas autoridades israelitas. No documento apresentado, o organismo lembra que política de detenção administrativa visa «esmagar os activistas políticos palestinianos» e se baseia num ficheiro secreto não acessível aos presos – nem sequer aos seus advogados –, que são mantidos na cadeia sem acusação ou julgamento, informa a WAFA. O maior número de ordens de detenção administrativa foi emitido em Maio último, quando a Israel lançou uma ofensiva de 11 dias contra a Faixa de Gaza, explicou a organização de defesa dos presos, acrescentado que, ao longo do ano, 60 prisioneiros recorreram à greve de fome com o propósito de reconquistar a liberdade. Uma comissão de apoio aos prisioneiros revelou que 13 palestinianos permaneciam em greve de fome nas cadeias, este domingo, contra o regime que permite mantê-los reclusos sem acusação ou julgamento. Num comunicado ontem emitido, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos informou que o prisioneiro Salem Ziadat, de 40 anos, é, dos 13 que continuavam o protesto, aquele que está em greve de fome há mais tempo, permanecendo em jejum há 28 dias contra a sua detenção administrativa, sem acusação ou julgamento, revelou a agência WAFA. A Comissão informou ainda que o número de reclusos palestinianos em greve de fome até ontem era de 15, mas que Mohammad Khaled Abusill e Ahmad Abdulrahman Abusill tinham chegado a um acordo com o Serviço Prisional Israelita no que respeita à «limitação» da chamada detenção administrativa. Grupos de defesa dos presos apresentaram um relatório sobre o primeiro semestre de 2021. Nas cadeias israelitas, há actualmente 4850 palestinianos, 540 dos quais ao abrigo da «detenção administrativa». Entre os palestinianos que se encontram nos cárceres de Israel, contam-se 43 mulheres e 225 menores, segundo o documento conjunto divulgado este fim-de-semana pela Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos, a Sociedade dos Presos Palestinianos, a Addameer e o Centro de Informação Wadi Hilweh. Os organismos referidos precisaram que 12 presos são membros do Conselho Legislativo Palestiniano (Parlamento), 70 são provenientes dos territórios ocupados em 1948, 350 são originários de Jerusalém ocupada e 240 da Faixa de Gaza cercada. O informe destaca a existência de 540 prisioneiros palestinianos em detenção administrativa, sem acusação formada ou julgamento, por períodos de seis meses indefinidamente renováveis. No que respeita a detenções, os organismos de defesa dos presos revelaram que Israel prendeu 5426 palestinianos entre 1 de Janeiro e 30 de Junho deste ano – um número superior a todas as detenções efectuadas pelas forças israelitas em 2020 e registadas por estas organizações: 4636. Por ocasião do Dia da Criança Palestiniana, que se assinala a 5 de Abril, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos revelou também que 140 menores permanecem em cadeias israelitas. Os menores palestinianos, alguns dos quais crianças, continuam a ser alvo das forças militares israelitas, que os prendem, muitas vezes de forma violenta, nos territórios ocupados. De acordo com um relatório publicado este domingo pela Sociedade dos Prisioneiros Palestinianos, pelo menos 230 foram detidos desde o início do ano, a maioria dos quais em Jerusalém Oriental ocupada. O grupo de defesa dos direitos dos presos sublinhou que «as crianças encarceradas são submetidas a vários tipos de abusos, incluindo «a recusa de comida e de bebida por longas horas, abuso verbal e a detenção em condições duras». O informe veio a lume na véspera do Dia da Criança Palestiniana, que se assinala a 5 de Abril, com actividades culturais, educativas e mediáticas que, refere a PressTV, visam reforçar a consciência sobre o sofrimento dos menores palestinianos. Também no âmbito do Dia da Criança Palestiniana, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos revelou que 140 menores permanecem em cadeias israelitas, incluindo dois que se encontram presos ao abrigo do regime de detenção administrativa. Uma comissão da ONU reafirmou denúncias expostas em vários relatórios sobre detenções de menores palestinianos por Israel – quase sempre presos de noite, algemados e vendados. É o início da «viagem ao inferno». A instância, composta por especialistas independentes das Nações Unidas, expressou particular preocupação pela expansão dos colonatos e o aumento da violência dos colonos israelitas, em que se incluem ataques a crianças e às suas escolas. Segundo se pode ler no portal oficial de notícias da ONU, na semana passada diversas organizações informaram a comissão sobre as operações nocturnas levadas a efeito pelas forças israelitas com o propósito de deter crianças e adolescentes na Cisjordânia ocupada, com «graves consequências para o seu bem-estar e gozo dos seus direitos». «Mais de 300 crianças estão detidas no sistema militar israelita. A maioria por delitos menores, como atirar pedras e publicações nas redes sociais», assinala a comissão, que denuncia o facto de os menores serem «levados para locais desconhecidos, presos em viaturas militares e sujeitos a ameaças e abusos verbais», bem como o facto de, por vezes, serem «obrigados a assinar confissões em hebraico, uma língua que não costumam entender». Estas preocupações reafirmam as que têm sido veiculadas, ao longo do tempo, por várias entidades, nomeadamente a Comissão dos Prisioneiros Palestinianos, órgão dependente da Autoridade Palestiniana que, em diversas ocasiões (também este ano), alertou para o facto de os menores serem torturados e sofrerem abusos nos cárceres israelitas, bem como para o facto de serem espancados, insultados e pressionados no momento da detenção. No final de Março, um relatório publicado pelo Ministério palestiniano da Informação denunciava também esta realidade, afirmando que «95% das crianças palestinianas presas pelas autoridades israelitas foram torturadas durante a detenção». De acordo com o relatório, até 2015 foram documentadas anualmente 700 detenções de menores palestinianos. Já em 2017, Israel prendeu 1467 crianças e adolescentes; 1063 no ano seguinte e, nos dois primeiros dois meses deste ano, 118. Entre 2000 e 2018, foram presos mais de 16 mil menores. Numa peça intitulada «“Endless Trip to Hell”: Israel Jails Hundreds of Palestinian Boys a Year. These Are Their Testimonies», publicada em Março e plenamente actual, o periódico israelita Haaretz aborda esta realidade, em que as crianças, algumas com idades inferiores a 13 anos, «são detidas pela calada da noite, vendadas e algemadas, alvo de abusos e constrangidas» a confessar «crimes» que não cometeram. A peça, que reúne testemunhos de sete jovens da Margem Ocidental ocupada com idades compreendidas entre os dez e os 15 anos, revela as diversas fases do processo de detenção, que começa nas operações nocturnas e passa pelo interrogatório, a prisão, o julgamento e a proposta de um acordo. Na sua maioria, os jovens são presos por, alegadamente, terem atirado pedras ou queimado pneus, mas, como sublinha a advogada Farah Bayadsi o objectivo das detenções «é mais para mostrar controlo do que para aplicar a lei». A experiência traumática é fundamentada por tudo aquilo por que as crianças passam durante uma detenção. Arrancadas de casa quando dormem, são algemadas e vendadas, levadas em veículos militares para colonatos e bases israelitas, passando por todo um processo que envolve intimidação, ameaças, agressões físicas, afastamento da família e pressão para «confessar». O nível de brutalidade varia. Khaled Mahmoud Selvi, preso quando tinha 15 anos, foi levado para a prisão e despido (o que, de acordo com o jornal, ocorre em 55% dos casos), tendo sido obrigado a permanecer dez minutos nu, em pé, durante o Inverno. De acordo com os dados recolhidos pela organização não governamental (ONG) British-Palestinian Military Court Watch, 97% dos jovens palestinianos detidos pelas forças militares israelitas (IDF) vivem em pequenas localidades a menos de dois quilómetros de um colonato. O advogado Gerard Horton, da ONG referida, afirma que a ideia é «assustar toda a aldeia» e que se trata de um «instrumento eficaz» para controlar uma comunidade. Acrescenta que, do ponto de vista dos ocupantes e opressores, a pressão «tem de ser constante»: «Cada geração tem de sentir a mão pesada das IDF.» A experiência é traumática. O pai de Khaled Shtaiwi, preso com 13 anos em Novembro do ano passado, contou ao periódico que criou na sua aldeia o «dia da psicologia», porque o seu filho não é capaz de falar sobre o que se passou e porque quer ajudar todas as crianças que foram presas pelos israelitas. Em Beit Ummar, Omar Ayyash foi preso com dez anos de idade, em Dezembro último. Agora, as crianças que brincam nas ruas da aldeia afastam-se assim que se apercebem da aproximação de soldados israelitas. Tornou-se um hábito desde que as tropas levaram Omar. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Por seu lado, a organização Defense for Children International – Palestine (DCIP) destacou que todos os anos entre 500 e 700 menores palestinianos são processados em tribunais militares israelitas e que 85% das crianças palestinianas detidas em 2020 foram «submetidas a violência física». Num comunicado, a DCIP afirma ter documentado 27 casos em que as crianças foram mantidas na solitária um ou dois dias, alegando as forças israelitas «objectivos de investigação». Esta prática é, segundo o organismo, uma forma de «tortura ou tratamento cruel, desumano e degradante». Desde Outubro de 2015, a DCIP registou a 36 ordens de detenção administrativa decretadas contra menores palestinianos, dois dos quais se mantêm nesse regime. Ainda de acordo com o organismo sediado em Genebra, em 2020, as forças israelitas mataram nove menores palestinianos na Cisjordânia ocupada, incluindo Jerusalém Oriental, e na Faixa de Gaza, seis dos quais com fogo real. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. O relatório divulgado este fim-de-semana informa que, entre os palestinianos detidos pelas forças israelitas, se incluem 854 menores e 107 mulheres, tendo sido emitidas na primeira metade do ano 680 ordens de detenção administrativa, incluindo 312 novas. No mês de Junho foram presos 615 palestinianos, revela o texto, destacando que Maio foi de longe o mês em que se registou um maior número de detenções na primeira metade deste ano. Então, mês de massacre contra Gaza e de múltiplas provocações sionistas no Complexo da Mesquita de al-Aqsa e em Jerusalém Oriental ocupada, as forças israelitas prenderam 3100 palestinianos, incluindo 2000 nos territórios ocupados em 1948 (actual Estado de Israel) e 677 em Jerusalém Oriental ocupada, informa a WAFA. De acordo com a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos, há actualmente nove presos em greve de fome nos cárceres israelitas como forma de protesto contra o regime de detenção administrativa que lhes foi aplicado. A Comissão pediu às instâncias internacionais e regionais de defesa dos direitos humanos que pressionem as autoridades israelitas no sentido de acabar com os maus-tratos aos presos em greve de fome, que passam também pela sua reclusão na solitária. Os presos palestinianos recorrem com frequência a esta forma de luta contra um regime de detenção ilegal, cujo fim exigem. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. De acordo com os grupos de defesa dos direitos dos prisioneiros palestinianos, há actualmente quase 550 nos cárceres israelitas detidos ao abrigo deste regime, que tem merecido ampla condenação internacional e que permite a Israel manter nas suas prisões, sem acusação ou julgamento, presos palestinianos por tempo indefinido, na medida em que o período de detenção, até seis meses, é infinitamente renovável. A detenção, que é decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta» – e é tão «secreta» que nem o advogado do detido tem direito a vê-la. Alguns prisioneiros palestinianos passaram mais de uma década nas cadeias israelitas ao abrigo deste regime de «detenção», que é considerado ilegal à luz do direito internacional. Como forma de protesto contra as suas detenções ilegais e para exigir que Israel ponha fim a esta prática, os presos palestinianos recorrem com frequência a greves de fome por tempo indeterminado. Apesar da pressão internacional e dos protestos dos prisioneiros, as autoridades israelitas não têm dado sinais de querer acabar com este regime. Pelo contrário, tanto a comissão referida como o Centro Palestiniano de Estudos sobre Prisioneiros têm dado conta de novas ordens de detenção administrativa e de múltiplas renovações. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Na maior parte dos casos, estavam presos ao abrigo do regime de detenção administrativa, como Hisham Abu Hawwash, de 40 anos, habitante da localidade de Dura (Cisjordânia ocupada) que se mantém há 140 dias em greve de fome e está numa situação considerada muito crítica. Nos últimos dias, as autoridades palestinianas alertaram para o estado de saúde crítico de Abu Hawwash, responsabilizaram Telavive por aquilo que lhe possa acontecer e pediram à comunidade internacional que pressione as autoridades israelitas para o libertarem. Também a Cruz Vermelha se mostrou preocupada com o caso, sublinhando a necessidade de tratar os reclusos com humanidade e de encontrar uma solução que evite «consequências irreversíveis» para Hawwash. De acordo com a SPP, este domingo cerca de 500 reclusos palestinianos presos em Israel ao abrigo do regime da detenção administrativa – criticado pela ONU – declararam o boicote aos tribunais israelitas, porque «sentem que os tribunais alinham sempre com o governo militar e as suas ordens, e não os tratam com imparcialidade». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. De acordo com a comissão, há actualmente mais de 760 presos nas cadeias israelitas sem acusação ou julgamento. A detenção, decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta», que nem o advogado do detido tem direito a ver. Cerca de 80% dos presos palestinianos neste regime são ex-presos que já passaram anos atrás das grades, revela a Wafa. Em comunicado, emitido há dias, o Ramo Penitenciário da Frente Popular para a Libertação da Palestina afirmou que «estes 30 prisioneiros, juntos, passaram quase 200 anos em detenção administrativa. Duzentos anos de cativeiro sem acusação ou julgamento por capricho dos oficiais de inteligência da ocupação». O texto, divulgado pela Samidoun (rede de solidariedade com os presos palestinianos), sublinha que se trata de uma «pena perpétua», uma vez que muitos presos são libertados durante alguns meses e são novamente detidos. «Temos um mês de liberdade por cada ano de detenção», afirmam. Dizem que são «alimentados pela dignidade» e querem que as autoridades israelitas saibam que, mesmo que os torturem e lhes provoquem dor, «que a nossa luta continua, e que semearemos alegria, vida e esperança, e que nossa luta pela liberdade e pela humanidade livre de tormentos não vai parar». Leila Khaled, membro do Comité Central da FPLP e símbolo da resistência palestiniana, anunciou uma greve de fome solidária com os presos, a quem saudou por estarem «na primeira linha do confronto a este inimigo criminoso fascista». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. De acordo com a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos, dos cerca de 4600 palestinianos actualmente presos nas cadeias israelitas, mais de 760 são reclusos sem acusação ou julgamento, cuja detenção pode ser infinitamente renovada por períodos até seis meses. A detenção, decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta», que nem o advogado do detido tem direito a ver. Após o início da greve de fome, Basil Mizher, outro advogado palestiniano detido sem acusação ou julgamento, viu ser-lhe renovada a detenção administrativa por mais três meses, no passado dia 28. Numa mensagem que Mizher escreveu no início do protesto, lida pela sua mãe numa acção solidária no campo de refugiados de Dheisheh, em Belém, o preso diz que a sua profissão é a de advogado, mas que mal se lembra dela, pois quase não a conseguiu exercer desde que se formou – foi submetido a três detenções administrativas desde que passou no exame. Em vez de ir trabalhar, foi para a prisão, lê-se no texto divulgado pela pela Samidoun (rede de solidariedade com os presos palestinianos). «Ou nos submetemos à opressão e à privação e aceitamos o roubo perpétuo da nossa liberdade e da nossa vida à vista do mundo, ou nos revoltamos contra a injustiça e derrubamos os muros do carcereiro com todas as ferramentas que temos», escreveu Basil Mizher a propósito da greve de fome, que é a «recusa da política de subordinação e domesticação». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Alguns prisioneiros palestinianos passaram mais de uma década nas cadeias israelitas ao abrigo deste sistema, e é comum os presos recorrerem a greves de fome por tempo indeterminado como forma de chamar a atenção para os seus casos e fazer pressão junto das autoridades israelitas para que os libertem. Agora, a SPP revelou também que, dos 835 palestinianos actualmente presos ao abrigo deste regime, 80 são mulheres, indica a agência Wafa. Além disso, a organização não governamental (ONG) informou que, ao longo de 2022, as autoridades israelitas emitiram 2134 ordens de detenção administrativa, 242 das quais em Novembro (o ano passado foram 1595). Desde o início de 2022 até ao fim de Novembro, as forças israelitas prenderam 6500 palestinianos, revelou a SPP, citada pela agência turca Anadolu. Entre os detidos, contavam-se 153 mulheres e 811 menores de idade acrescentou. As forças de ocupação israelitas detiveram 5300 palestinianos desde o princípio deste ano, incluindo 111 mulheres e 620 menores de idade, revelou esta segunda-feira uma organização não governamental. Em comunicado, a Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) afirmou que, com 2353 detenções registadas, Jerusalém Oriental ocupada se situa no primeiro lugar por regiões, e que Abril foi o mês com maior número de detenções (1228 casos), noticia a agência Wafa. A SPP condenou os ataques e raides israelitas contra cidades, aldeias e campos de refugiados na Cisjordânia ocupada para prender activistas, referindo que muitos palestinianos foram mortos, nesse processo, pelas balas do Exército. Neste contexto, o número de execuções extrajudiciais no terreno, em 2022, é mais elevado por comparação com anos anteriores, alertou a SPP, que também questionou os bloqueios militares a localidades e campos de refugiados palestinianos, classificando-os como uma punição colectiva. No que respeita às detenções administrativas, a organização afirmou que este ano, até à data, foram emitidas 1160. Só no mês de Agosto, foram decretadas 272, pelo que, no final de Setembro, havia cerca de 800 palestinianos nas prisões israelitas detidos sem acusação ou julgamento. Ao abrigo deste regime, os períodos de detenção podem ser infinitamente renovados por períodos até seis meses. A detenção, decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta», que nem o advogado do detido tem direito a ver. De forma reiterada, os presos palestinianos detidos sob este regime iniciam greves de fome para denunciar os seus casos e a política de detenção administrativa, exigindo a sua libertação. Diversas instâncias das Nações Unidas têm denunciado repetidamente este regime israelita de detenção, na medida em que não faculta aos detidos palestinianos as «salvaguardas jurídicas básicas» e violam o direito internacional humanitário. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Só no mês de Novembro, foram detidos 490 palestinianos, incluindo 76 menores e 12 mulheres, informaram, num relatório conjunto, a SPP, a Addameer, o Centro de Informação Wadi Hilweh e a Comissão dos Assuntos dos Presos e Ex-Presos Palestinianos. No relatório mensal a que o Middle East Monitor faz referência, as quatro organizações de defesa dos direitos presos afirmaram que, no mês passado, o maior número de detenções ocorreu em Hebron (al-Khalil; 135 casos), seguida por Jerusalém (123), Ramallah (52), Jenin e Nablus. De acordo com os grupos, há actualmente nas cadeias israelitas cerca de 4700 palestinianos presos, incluindo 34 mulheres e 150 menores. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. «A ocupação israelita e a sua administração prisional levaram a cabo o assassinato deliberado do preso Khader Adnan ao rejeitar o seu pedido de libertação, ao negligenciá-lo medicamente e ao mantê-lo na sua cela apesar da gravidade do seu estado de saúde», afirmou Shtayyeh em comunicado. Várias facções palestinianas pronunciaram-se no mesmo sentido, responsabilizando Israel pela morte de Khader Adnan e sublinhando o crime «premeditado e a sangue-frio». Por seu lado, o Ministério palestiniano dos Negócios Estrangeiros pediu uma investigação internacional sobre a morte do prisioneiro e instou o Tribunal Penal Internacional a incluir este caso no processo relativo aos crimes de guerra cometidos por Israel contra o povo palestiniano nos territórios ocupados. Para denunciar «o crime que levou à morte» de Khader Adnan numa prisão israelita, foi declarada, esta terça-feira, uma greve geral que «afecta todos os aspectos da vida», tanto na Faixa de Gaza cercada como na Margem Ocidental ocupada, incluindo Jerusalém Oriental, indica a Wafa. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Em relatórios anteriores, a SPP lembrou que esta política visa «esmagar os activistas políticos palestinianos» e se baseia num ficheiro secreto não acessível aos presos – nem sequer aos seus advogados. Alguns prisioneiros palestinianos passaram mais de uma década nas cadeias israelitas ao abrigo deste sistema, e é comum os presos recorrerem a greves de fome por tempo indeterminado como forma de chamar a atenção para os seus casos e fazer pressão junto das autoridades israelitas para que os libertem. A 2 de Maio último, Khader Adnan, de 44 anos, morreu na cadeia, quase três meses depois de ter iniciado uma greve de fome contra a sua detenção sem acusação ou julgamento. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Num comunicado de imprensa, que a Wafa cita, a Comissão exigiu «acção real e tangível, no sentido de formar um comité internacional de direitos humanos que vá imediatamente às prisões da ocupação israelita, analise o crime [de detenção administrativa] em todos os seus detalhes e observe de perto o sofrimento dos detidos administrativos, que estão presos sem quaisquer acusações ou julgamentos, e vivem à mercê dos chamados oficiais dos serviços de inteligência israelitas». «Os abusos imorais e desumanos associados à utilização desta política pela potência ocupante violam todos os princípios do direito internacional e da humanidade, e estão em contradição real com os teóricos da democracia e aqueles que afirmam ser democráticos em todo o mundo, especialmente na América e na Europa», acrescenta a nota. De acordo com os dados divulgados em Junho último pela organização israelita de defesa dos direitos B'Tselem, em Março deste ano, Israel mantinha nas suas prisões 1017 pessoas em regime de detenção administrativa. É preciso recuar duas décadas, até Abril de 2003, para encontrar um número mais elevado de detidos administrativos nas prisões israelitas – 1140 –, referiu a organização. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. «De acordo com a lei militar que se aplica na Cisjordânia, uma pessoa pode ser detida administrativamente durante seis meses, mas a ordem pode ser renovada, pelo que a reclusão na prática é indefinida e os detidos nunca sabem quando serão libertados», alertou a B'Tselem, outra organização israelita de defesa dos direitos humanos nos territórios ocupados. De forma sistemática, presos administrativos entram em greve de fome por tempo indeterminado para chamar a atenção para os seus casos e forçar a sua libertação. Em meados de Agosto, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos pediu à chamada comunidade internacional que quebre o silêncio em torno do «crime israelita da detenção administrativa». Num comunicado de imprensa, divulgado pela Wafa, a Comissão exigiu «acção real e tangível, no sentido de formar um comité internacional de direitos humanos que vá imediatamente às prisões da ocupação israelita, analise o crime [de detenção administrativa] em todos os seus detalhes e observe de perto o sofrimento dos detidos administrativos, que estão presos sem quaisquer acusações ou julgamentos, e vivem à mercê dos chamados oficiais dos serviços de inteligência israelitas». «Os abusos imorais e desumanos associados à utilização desta política pela potência ocupante violam todos os princípios do direito internacional e da humanidade, e estão em contradição real com os teóricos da democracia e aqueles que afirmam ser democráticos em todo o mundo, especialmente na América e na Europa», afirmou o organismo. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Desde 28 de Setembro de 2000 até à data, refere a Comissão, foram detidas mais de 2600 raparigas e mulheres, incluindo quatro que deram à luz na cadeia. No mesmo período, foram emitidas 32 mil ordens de detenção administrativa, a que Israel recorre para manter reclusos nas cadeias sem acusação nem julgamento, com base numa «prova secreta» que nem o advogado do detido pode ver. A Comissão registou um aumento «assinalável» no recurso a este regime, amplamente condenado a nível internacional, contra o qual os presos palestinianos protestam, de forma reiterada, entrando em greve de fome por tempo indeterminado, para exigir a sua libertação e o fim da aplicação da política de detenção referida. «De acordo com a lei militar que se aplica na Cisjordânia, uma pessoa pode ser detida administrativamente durante seis meses, mas a ordem pode ser renovada, pelo que a reclusão na prática é indefinida e os detidos nunca sabem quando serão libertados», alertou recentemente a B'Tselem, uma organização israelita de defesa dos direitos humanos nos territórios ocupados. Uma comissão da ONU reafirmou denúncias expostas em vários relatórios sobre detenções de menores palestinianos por Israel – quase sempre presos de noite, algemados e vendados. É o início da «viagem ao inferno». A instância, composta por especialistas independentes das Nações Unidas, expressou particular preocupação pela expansão dos colonatos e o aumento da violência dos colonos israelitas, em que se incluem ataques a crianças e às suas escolas. Segundo se pode ler no portal oficial de notícias da ONU, na semana passada diversas organizações informaram a comissão sobre as operações nocturnas levadas a efeito pelas forças israelitas com o propósito de deter crianças e adolescentes na Cisjordânia ocupada, com «graves consequências para o seu bem-estar e gozo dos seus direitos». «Mais de 300 crianças estão detidas no sistema militar israelita. A maioria por delitos menores, como atirar pedras e publicações nas redes sociais», assinala a comissão, que denuncia o facto de os menores serem «levados para locais desconhecidos, presos em viaturas militares e sujeitos a ameaças e abusos verbais», bem como o facto de, por vezes, serem «obrigados a assinar confissões em hebraico, uma língua que não costumam entender». Estas preocupações reafirmam as que têm sido veiculadas, ao longo do tempo, por várias entidades, nomeadamente a Comissão dos Prisioneiros Palestinianos, órgão dependente da Autoridade Palestiniana que, em diversas ocasiões (também este ano), alertou para o facto de os menores serem torturados e sofrerem abusos nos cárceres israelitas, bem como para o facto de serem espancados, insultados e pressionados no momento da detenção. No final de Março, um relatório publicado pelo Ministério palestiniano da Informação denunciava também esta realidade, afirmando que «95% das crianças palestinianas presas pelas autoridades israelitas foram torturadas durante a detenção». De acordo com o relatório, até 2015 foram documentadas anualmente 700 detenções de menores palestinianos. Já em 2017, Israel prendeu 1467 crianças e adolescentes; 1063 no ano seguinte e, nos dois primeiros dois meses deste ano, 118. Entre 2000 e 2018, foram presos mais de 16 mil menores. Numa peça intitulada «“Endless Trip to Hell”: Israel Jails Hundreds of Palestinian Boys a Year. These Are Their Testimonies», publicada em Março e plenamente actual, o periódico israelita Haaretz aborda esta realidade, em que as crianças, algumas com idades inferiores a 13 anos, «são detidas pela calada da noite, vendadas e algemadas, alvo de abusos e constrangidas» a confessar «crimes» que não cometeram. A peça, que reúne testemunhos de sete jovens da Margem Ocidental ocupada com idades compreendidas entre os dez e os 15 anos, revela as diversas fases do processo de detenção, que começa nas operações nocturnas e passa pelo interrogatório, a prisão, o julgamento e a proposta de um acordo. Na sua maioria, os jovens são presos por, alegadamente, terem atirado pedras ou queimado pneus, mas, como sublinha a advogada Farah Bayadsi o objectivo das detenções «é mais para mostrar controlo do que para aplicar a lei». A experiência traumática é fundamentada por tudo aquilo por que as crianças passam durante uma detenção. Arrancadas de casa quando dormem, são algemadas e vendadas, levadas em veículos militares para colonatos e bases israelitas, passando por todo um processo que envolve intimidação, ameaças, agressões físicas, afastamento da família e pressão para «confessar». O nível de brutalidade varia. Khaled Mahmoud Selvi, preso quando tinha 15 anos, foi levado para a prisão e despido (o que, de acordo com o jornal, ocorre em 55% dos casos), tendo sido obrigado a permanecer dez minutos nu, em pé, durante o Inverno. De acordo com os dados recolhidos pela organização não governamental (ONG) British-Palestinian Military Court Watch, 97% dos jovens palestinianos detidos pelas forças militares israelitas (IDF) vivem em pequenas localidades a menos de dois quilómetros de um colonato. O advogado Gerard Horton, da ONG referida, afirma que a ideia é «assustar toda a aldeia» e que se trata de um «instrumento eficaz» para controlar uma comunidade. Acrescenta que, do ponto de vista dos ocupantes e opressores, a pressão «tem de ser constante»: «Cada geração tem de sentir a mão pesada das IDF.» A experiência é traumática. O pai de Khaled Shtaiwi, preso com 13 anos em Novembro do ano passado, contou ao periódico que criou na sua aldeia o «dia da psicologia», porque o seu filho não é capaz de falar sobre o que se passou e porque quer ajudar todas as crianças que foram presas pelos israelitas. Em Beit Ummar, Omar Ayyash foi preso com dez anos de idade, em Dezembro último. Agora, as crianças que brincam nas ruas da aldeia afastam-se assim que se apercebem da aproximação de soldados israelitas. Tornou-se um hábito desde que as tropas levaram Omar. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. No relatório agora publicado, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos refere-se ainda ao recurso à tortura nos cárceres israelitas, bem como aos assassinatos e às «execuções lentas» por falta de cuidados médicos. Denuncia igualmente a «escalada de casos de opressão, abuso e incitação racista» contra os presos palestinianos. De acordo com o organismo, estão actualmente detidos em cadeias israelitas, nos territórios ocupados em 1948, cerca de 5200 palestinianos. Destes, 38 são mulheres e 170 são menores de idade. Há ainda mais de 1250 presos palestinianos em regime de detenção administrativa e 700 reclusos doentes, 24 dos quais com enfermidades oncológicas. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Num comunicado posterior, as Brigadas al-Qassam afirmaram ter capturado «mais de 35 soldados e civis israelitas do colonato sionista de Sderot». A operação desta manhã apanhou de surpresa o Exército da ocupação, o que está a valer múltiplas críticas ao governo de Netanyahu, em Israel. Entretanto, foi declarado o «estado de preparação para a guerra» entre as forças militares israelitas, e o ministro da Defesa, que aprovou o recrutamento de soldados na reserva, declarou o estado de emergência numa faixa de 80 quilómetros em redor da Faixa de Gaza. A agência Wafa já deu conta de bombardeamentos israelitas contra o enclave costeiro nas últimas horas, dos quais resultaram vários mortos. A mesma fonte refere que o Ministério palestiniano da Saúde colocou todas as unidades hospitalares do país em situação de emergência. De acordo com as autoridades de saúde no enclave costeiro, pelo menos 198 pessoas morreram e mais de 1600 ficaram feridas (muitas das quais em estado grave) como consequência dos bombardeamentos israelitas contra a Faixa e Gaza ao longo do dia, refere a Wafa, em retaliação contra o ataque da resistência palestiniana, esta manhã. Por seu lado, a agência Prensa Latina refere-se à morte de uma centena de israelitas e cerca de 900 feridos, no contexto da operação de grande escala da resistência palestiniana, que ocupou diversas localidades e bases militares da ocupação próximas do enclave cercado. Entretanto, a Wafa dá conta de vários ataques da parte de colonos e forças israelitas contra diversas localidades e bairros palestinianos na Cisjordânia e Jerusalém ocupadas, dos quais resultaram pelo menos um morto e um número indeterminado de feridos. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Israel retaliou com a «Operação Espadas de Ferro», com ataques aéreos sobre a Faixa de Gaza sitiada e, de acordo com a última contagem do Ministério da Saúde palestiniano, 313 habitantes de Gaza morreram na ofensiva, incluindo 20 crianças, enquanto outros 1990 palestinianos ficaram feridos no enclave. Do lado israelita, foram confirmadas até à manhã de hoje cerca de 300 pessoas mortas e 1864 feridas, das quais 19 estão em estado crítico, 326 em estado grave e as restantes em estado moderado ou ligeiro. No ano em que se assinalam os 75 anos da Nakba (catástrofe), «mais de cinco décadas depois de Israel ocupar militarmente a totalidade do território da Palestina histórica», o MPPM lembra que a campanha de limpeza étnica que acompanhou a formação de Israel se prolonga até hoje. «Em Gaza, de onde partiu esta acção, vivem cerca de 2,2 milhões de pessoas, descendentes dessas sucessivas vagas de limpeza étnica», alerta o movimento. Apesar de as Nações Unidas o considerarem «impróprio para sustentar a vida humana», desde 2006 que o Estado israelita impõe um «bloqueio criminoso» sobre aquele território. Uma ONG palestiniana e outra israelita acusam Israel de ter trabalhado para «branquear a verdade» sobre os crimes cometidos pelas suas tropas durante os protestos da Grande Marcha do Retorno, em Gaza. Num relatório conjunto, o Centro Palestiniano para os Direitos Humanos (PCHR), sediado em Gaza, e a organização israelita B'Tselem analisam as investigações que Israel diz ter levado a cabo na sequência da repressão exercida pelas forças israelitas sobre os manifestantes que, na Faixa de Gaza, reclamaram o direito de regresso dos refugiados a suas casas. Os protestos conhecidos como Grande Marcha do Retorno começaram a 30 de Março de 2018 e prolongaram-se por mais de um ano e meio. Pelo menos 200 palestinianos foram mortos e 13 500 ficaram feridos – seguindo os números por baixo, uma vez que outras fontes apontam para mais de 300 mortos e cerca de 18 mil feridos, várias dezenas dos quais menores. O vento e a chuva forte que se abateram esta semana sobre Gaza não impediram centenas de manifestantes de participarem, na sexta-feira, na última manifestação de 2019 da Grande Marcha do Retorno. Dezenas de palestinianos foram feridos esta sexta-feira pelas forças israelitas na Faixa de Gaza, quando participavam na 86.ª manifestação da Grande Marcha do Retorno, perto da vedação com que Israel isola o território palestino, segundo o Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente (MPPM). Vários dos participantes nas manifestações, segundo o MPPM, foram feridos por balas reais e revestidas de borracha, enquanto dezenas de outros sofreram de asfixia por efeito do gás lacrimogéneo disparado pelas forças de ocupação. Centenas de manifestantes participaram nos protestos apesar das adversas condições climatéricas. A Faixa de Gaza tem sido batida por vento e chuva forte na última semana, com as inundações a porem em risco cerca de 235 mil pessoas nas áreas mais baixas da Faixa de Gaza, segundo um relatório do Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA) no território palestiniano ocupado. A 30 de Março os palestinianos comemoram o Dia da Terra. Nesse dia, em 1976, no Norte de Israel, foram assassinados seis palestinianos que protestavam contra a expropriação de terras para dar lugar a aldeamentos judaicos. Cerca de 100 outras pessoas ficaram feridas e centenas foram presas durante a greve geral e as grandes manifestações de protesto que, no mesmo dia, ocorreram no território do Estado de Israel. A 30 de Março de 2018 a comemoração atingiu uma dimensão inusitada, ao tornar a celebração deste dia como o primeiro de uma «Grande Marcha do Retorno», uma reclamação do direito de regresso dos refugiados aos seus lares – tal como prescreve a resolução 194 das Nações Unidas – à Palestina histórica, de onde mais de 700 mil pessoas foram expulsas pelas tropas israelitas em 1948, durante a chamada «catástrofe» («Nakba», em árabe). Desde então o protesto repete-se semanalmente, violentamente reprimido pelas forças israelitas, incluindo com o recurso a snipers e fogo real directo. Como resultado, pelo menos 348 palestinos foram mortos em Gaza por fogo israelita desde o início das marchas, a maioria deles durante as manifestações, segundo uma contagem da AFP citada pelo MPPM. Para além disso, o Ministério da Saúde de Gaza regista mais de 18 mil feridos pelas forças repressivas sionistas. Entre as baixas contam-se crianças, mulheres, muitos adolescentes, jornalistas e trabalhadores dos serviços de saúde que tentam socorrer os manifestantes. Em Março, uma missão de averiguação da ONU concluiu que as forças israelitas cometeram violações de direitos humanos na repressão dos manifestantes em Gaza, o que pode constituir crimes de guerra. Os organizadores da Grande Marcha do Retorno anunciaram nesta quinta-feira que os protestos seriam suspensos até Março de 2020, altura em que serão retomados, coincidindo com o seu segundo aniversário e também com o Dia da Terra palestina (30 de Março). A partir daí realizar-se-ão a um ritmo mensal. Além do bloqueio a que sujeita a Faixa de Gaza, na última década Israel lançou três guerras de agressão contra o pequeno território palestino e dezenas de ataques de escala mais limitada, matando milhares de pessoas e causando enormes destruições de casas e infra-estruturas. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. As duas organizações não governamentais (ONG) acusam Israel de proteger os responsáveis políticos e militares, «em vez de tomar medidas contra as pessoas que conceberam e implementaram a política ilegal de atirar a matar». Israel foi célere a anunciar que estava a investigar os protestos, sobretudo devido aos procedimentos em curso no Tribunal Penal Internacional (TPI), afirmaram as organizações numa conferência de imprensa, a que a agência WAFA faz referência. Isso deve-se ao princípio da complementaridade do TPI, ou seja, se um Estado «estiver disposto e tiver capacidade» para realizar a investigação e a efectuar, o TPI não intervém. No entanto, não basta declarar que uma investigação está a ser feita; ela tem de ser eficaz, dirigida às altas patentes responsáveis e conduzir a uma acção contra elas, sublinham, acrescentando que isso não ocorre neste caso. «As investigações conduzidas por Israel não são mais do que uma cortina de fumo erguida para proteger do TPI os funcionários responsáveis. Israel não quer e não consegue investigar as violações de direitos humanos perpetradas pelas suas forças durante os protestos da Grande Marcha de Retorno na Faixa de Gaza. Tendo isto em conta, cabe agora ao TPI garantir a responsabilização penal», disseram as duas organizações. «Estas investigações – tal como as levadas a cabo pelo sistema de aplicação da lei militar noutros casos em que soldados causaram danos aos palestinianos – fazem parte do mecanismo de branqueamento de Israel, e o seu principal objectivo continua a ser silenciar as críticas externas, para que Israel possa continuar a implementar sua política sem mudanças», lê-se no portal da B'Tselem. A mudança da embaixada norte-americana de Telavive para Jerusalém fica associada a um «Dia de Raiva» na Palestina. Na Faixa de Gaza cercada, os franco-atiradores israelitas massacram os manifestantes. Quando o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel e a intenção de mudar a Embaixada do seu país de Telavive para essa cidade, ficou claro que tal passo constituía uma declaração de apoio ao Estado de Israel e à sua política de ocupação e repressão na Palestina, nomeadamente em Jerusalém. Várias organizações têm denunciado o número crescente de ameaças em locais religiosos não-judaicos, na cidade, bem como a intensificação do plano de «judaização» de Jerusalém Oriental, com o aumento da construção de colonatos e a expulsão da população palestiniana de suas casas, que são muitas vezes demolidas. Declarada por Israel como sua capital, Jerusalém tem o estatuto, reconhecido pelas Nações Unidas, de cidade ocupada, sendo Israel a potência ocupante (desde 1967). Os palestinianos querem-na como sua capital e quem apoia a solução dos «dois estados» reconhece que o Estado da Palestina tem em Jerusalém Oriental a sua capital. Logo em Dezembro, foi generalizado o repúdio internacional pela decisão da administração norte-americana e, a 21 desse mês, materializou-se na aprovação, por esmagadora maioria, na Assembleia Geral das Nações Unidas, de uma resolução que rejeita essa decisão e insta todos os estados-membros a não estabelecerem missões diplomáticas em Jerusalém, de acordo com a resolução 478 do Conselho de Segurança, de 1980. Esse repúdio face ao reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel também se fez sentir no interior de Israel, onde académicos, antigos embaixadores e defensores da paz enviaram uma carta a um representante de Trump, seguntou reportou o periódico Haaretz. Inicialmente, não ficou explícito que a concretização da mudança da Embaixada dos EUA para Jerusalém estaria associada ao 70.º aniversário da criação do Estado de Israel, que hoje se assinala, e que teria lugar na véspera da Nakba – a limpeza étnica levada a cabo pelas forças sionistas e pelo Estado de Israel, em que mais de 750 mil palestinianos foram expulsos das suas casas e terras –, uma «catástrofe» que todos os anos os palestinianos marcam a 15 de Maio. Na visita que efectuou em Janeiro a Israel, o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, afirmou que essa mudança deveria ocorrer no final de 2019. No entanto, a 23 de Fevereiro, o Departamento de Estado anunciou a antecipação da mudança para 14 de Maio, o que foi encarado pelos palestinianos como mais uma acção de «provocação». Em protesto contra a mudança da Embaixada dos EUA para Jerusalém, os palestinianos chamaram «Dia de Raiva» a este 14 de Maio. Nos territórios ocupados da Cisjordância, há notícia de mobilizações pelo menos em Ramallah e Hebron. Mas a grande mobilização está a ter lugar na Faixa de Gaza cercada, junto às vedações que enclausuram perto de 2 milhões de palestinianos – 80% dos quais são descendentes de refugiados – no pequeno enclave. De acordo com a PressTV, as forças militares israelitas, que reforçaram a sua presença tanto em redor de Gaza como na Margem Ocidental ocupada –, esperavam que 100 mil pessoas se manifestassem nos pontos habituais, hoje, dia da mudança da Embaixada norte-americana para Jerusalém. «os palestinianos querem mandar a mensagem de que não se adaptaram nem se vão adaptar à condição de refugiados» Sobre o culminar dos protestos pacíficos da Grande Marcha do Retorno, que se iniciaram a 30 de Março, o ministro israelita da Educação, Naftali Bennet, do partido de extrema-direita Lar Judaico, disse a uma rádio israelita que a vedação seria encarada como uma «Muralha de Ferro» e que quem se aproximasse dela seria tratado como um «terrorista», refere a PressTV. A mesma fonte indica ainda que a Força Aérea israelita lançou panfletos sobre a Faixa de Gaza, ontem e hoje, para demover os manifestantes de se aproximarem da vedação, mas sem sucesso, já que estes, segundo refere a Al Jazeera, têm estado a tentar atravessá-la, «defendendo o seu direito ao regresso, ao retorno, aconteça o que acontecer». Um membro do comité organizador da Grande Marcha do Retorno disse à Al Jazeera que, ao tentarem atravessar a vedação, «os palestinianos querem mandar a mensagem de que não se adaptaram nem se vão adaptar à condição de refugiados». Os franco-atiradores responderam de forma brutal, matando mais de quatro dezenas de pessoas que se manifestavam perto da vedação e ferindo perto de 2000, até ao momento. De acordo com a organização, os protestos de hoje e os que estão previstos para amanhã – dia da Nakba – devem ser os mais massivos, sendo o ponto culminante das sete semanas de mobilizações, fortemente reprimidas pelas forças israelitas, junto à vedação com a Faixa de Gaza. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Apesar dos milhares de feridos palestinianos resultantes da política de «atirar a matar» e de mais de centena e meia ter ficado sem membros inferiores ou superiores – as tropas israelitas usaram balas explosivas, as chamadas butterfly bullets, que se expandem no contacto com o corpo, provocando danos severos nos tecidos, nos ossos, nas veias –, nenhum destes casos foi investigado. Sem explicação, os militares decidiram investigar apenas os casos em que palestinianos foram mortos. Dos 234 casos recebidos pelos procuradores do Exército, foi completa a revisão de 143 e um deles, o da morte do adolescente Othman Hiles, de 14 anos, levou à condenação de um soldado por «abuso de autoridade ao ponto de pôr em risco a vida e a saúde». Foi condenado a um mês de serviço comunitário. No seu portal, a B'Tselem sublinha que «a conduta de Israel respeitante à investigação dos protestos em Gaza não é nova nem surpreendente», e recorda o que se passou depois da Operação Chumbo Fundido, em 2009, e da Operação Margem Protectora, em 2014. «Então, também, Israel desrespeitou o direito internacional, recusou-se a reformar a sua política apesar dos resultados letais e desviou as críticas prometendo investigar a sua conduta. Então, também, nada resultou dessa promessa», afirma. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Por outro lado, entre Março de 2018 e Dezembro de 2019, uma série de manifestações pacíficas designadas Grande Marcha do Retorno foram brutalmente reprimidas pelo exército de Israel, contabilizando-se 223 mortos e mais de nove mil feridos, sob o silêncio da comunidade internacional. «Os assaltos das forças de ocupação israelita às povoações e campos de refugiados palestinos, assim como a violência dos colonos e as prisões arbitrárias são o quotidiano com que os palestinos, homens e mulheres, jovens e menos jovens diariamente se confrontam», lembra o MPPM, salientando que, até este sábado, pelo menos 247 palestinianos, sobretudo jovens, foram mortos pelas forças israelitas e por colonos. Neste sentido, insiste que a paz no Médio Oriente e a solução da questão palestiniana «passam necessariamente por um desenlace que respeite os direitos inalienáveis» do povo palestiniano a uma pátria livre e independente, incluindo o direito de regresso dos refugiados. O MPPM rejeita os «lamentos» daqueles que «hipocritamente condenam as acções violentas de resistência dos oprimidos e se calam desde há décadas (ou pior, colaboram) perante a violência da ocupação», e entre os quais se encontra o Governo português. «Israel tem o direito de se defender. Estes ataques nada resolverão, contribuindo apenas para piorar a situação na região. Estamos solidários com Israel e oferecemos condolências pelas vítimas.», disse o ministro João Gomes Cravinho, este sábado, na rede social X. O governo palestiniano denunciou junto da ONU o assassinato de 44 menores, este ano, por soldados israelitas. Neste contexto, reclamou protecção para a infância e a responsabilização de Telavive. Numa carta enviada esta segunda-feira ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, o Ministério palestiniano dos Negócios Estrangeiros pediu protecção especial urgente para as crianças palestinianas, informa a agência Wafa. Mahmoud Samoudi, de 12 anos, foi, ontem, a vítima mortal mais recente das forças israelitas, não resistindo aos ferimentos quase duas semanas depois de ter sido atingido por uma bala no abdómen, durante uma operação militar na cidade de Jenin (Norte da Cisjordânia ocupada). Só nos últimos dias, «Israel, a potência ocupante, matou cinco crianças e jovens palestinianos, incluindo Adel Adel Daud (14 anos), Mahdi Ladadwa (17), Mahmoud Sous (17), Fayez Khaled Damdoum (17) e Ahmad Draghmeh (19)», indica o texto das autoridades palestinianas. Até 10 de Dezembro, 86 crianças foram mortas nos territórios ocupados da Palestina, fazendo de 2021 o ano mais mortífero para elas desde 2014, segundo os registos de uma organização não governamental. As forças israelitas mataram 76 crianças palestinianas este ano – 61 na Faixa de Gaza cercada e 15 na Cisjordânia ocupada, incluindo Jerusalém Oriental. Civis israelitas armados mataram duas crianças palestinianas na Cisjordânia, revela o relatório agora publicado pela Defense for Children International – Palestine (DCIP). A estas 78 crianças juntam-se sete que foram mortas por foguetes disparados incorrectamente por grupos armados palestinianos na Faixa de Gaza, e uma outra que foi morta por uma munição não detonada, cujas origens a ONG não conseguiu determinar. «Nos termos do direito internacional, a força letal intencional só se justifica em circunstâncias em que esteja presente uma ameaça directa à vida ou de ferimentos graves. No entanto, investigações e provas recolhidas pelo DCIP sugerem que as forças israelitas utilizam regularmente força letal contra crianças palestinianas em circunstâncias que podem equivaler a execuções extrajudiciais ou intencionais», lê-se relatório, traduzido pelo Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente – MPPM. Durante os 11 dias do ataque militar israelita à Faixa de Gaza, em Maio de 2021, naquilo que ficou conhecido como Operação Guardião dos Muros, as forças israelitas mataram 60 crianças palestinianas, segundo os dados recolhidos pela DCIP. «Aviões de guerra israelitas e drones armados bombardearam áreas civis densamente povoadas, matando crianças palestinianas que dormiam nas suas camas, brincavam nos seus bairros, faziam compras nas lojas perto das suas casas e celebravam o Eid al-Fitr [festa no fim do Ramadão] com as suas famílias», disse Ayed Abu Eqtaish, director do programa de responsabilização da DCIP. «A falta de vontade política da comunidade internacional para responsabilizar os funcionários israelitas garante que os soldados israelitas continuarão a matar ilegalmente crianças palestinianas com impunidade», acrescentou. A DCIP lembra que o direito humanitário internacional proíbe ataques indiscriminados e desproporcionados, e exige que todas as partes num conflito armado façam a distinção entre alvos militares, civis e objectos civis. O pico mais recente de assassinatos de crianças ocorrera em 2018, quando forças israelitas e colonos mataram crianças palestinianas a um ritmo médio superior a uma por semana (57). A maioria dessas mortes ocorreu durante os protestos da Marcha do Retorno, na Faixa de Gaza, refere o organismo. De acordo com os dados da DCIP, foram mortas 2196 crianças palestinianas, desde 2000, em resultado da presença de militares e de colonos israelitas nos territórios ocupados da Palestina. A Defense for Children International – Palestine é uma das seis organizações de direitos humanos que Israel pretende silenciar, lembra o MPPM, sublinhando que a medida tem merecido a condenação generalizada a nível internacional e foi denunciada pelo MPPM a 29 de Outubro último. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. A carta afirma que as forças de ocupação estão a utilizar «a política infame de atirar a matar» – de que resultou a morte de centenas de crianças palestinianas –, ao apontarem «deliberadamente» para a parte superior dos seus corpos. «Israel dispara deliberadamente contra os menores palestinianos com o objectivo declarado de os matar e mutilar, negando-lhes o direito à vida», lê-se no texto, sublinhando que «as crianças jamais devem ser mortas ou mutiladas», bem como a necessidade de medidas urgentes para as proteger da «escalada dos crimes israelitas». Neste sentido, o governo palestiniano exigiu medidas contra Telavive, destacando que as «evidências dos seus crimes crescentes contra as crianças palestinianas são, sem dúvida alguma, esmagadoras», violando o direito internacional e as resoluções que constituem a base da protecção das crianças nos conflitos armados. «A protecção das crianças é a maior obrigação moral, legal e política da humanidade», frisa o documento, no qual se pede à comunidade internacional que «ponha fim a este pesadelo intolerável que as nossas crianças vivem diariamente» e que tome medidas para responsabilizar Israel «pelos seus crimes horrendos». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. «Os que há décadas convivem com a ausência de qualquer real processo político conducente a uma solução que respeite os direitos do povo palestino, não têm autoridade moral para hoje se queixarem das tempestades que provocaram», defende o MPPM. Certo de que a violência poderá alastrar-se a todo o Médio Oriente, o movimento recorda que Israel, «com o apoio dos países "ocidentais" e em primeiro lugar dos Estados Unidos da América», é a maior potência militar da região e a única a dispor de armas nucleares. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Em nota divulgada pelo Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente (MPPM), um dos organizadores da concentração que se vai realizar a 11 de Outubro, às 18h, na Praça do Martim Moniz em Lisboa, a organização defende que a segurança de todos os povos da região passa, necessariamente, «pelo respeito do direito inalienável do povo palestino a uma pátria livre e independente, incluindo o direito de regresso dos refugiados». Já a CGTP-IN, em comunicado, denuncia «a política racista e de humilhação do Estado de Israel sobre os palestinianos» que se agravou nos últimos anos com «acções provocatórias dos sectores mais reaccionários da sociedade israelita, com a cumplicidade do governo de Netanyahu». A central sindical exprimiu ainda o seu «profundo pesar» pelas vítimas dos últimos dias. «Uma situação que só se mantém e agrava pelo incumprimento das dezenas de resoluções da ONU e pela manutenção e aprofundamento da política de ocupação e genocídio que, desde 1948, reprime e oprime o povo palestiniano», nomeadamente através da ocupação de terras, da expansão de colonatos e de crimes cometidos por Israel com vista à «limpeza étnica» da região. «Recordamos a destruição de escolas e serviços públicos, o ataque e prisão arbitrária (incluindo de 1200 crianças que desde o ano 2000 conheceram as prisões israelitas), a invasão de mesquitas, nomeadamente de Al-Aqsa, a destruição e inutilização de água potável e terrenos agrícolas, a manutenção do bloqueio e cerco de Israel a Gaza desde 2007 – onde os mais de dois milhões de palestinianos aí residentes permanecem encarcerados e sujeitos às maiores privações e à violação dos seus direitos mais básicos». No sábado, a resistência palestiniana quebrou a vedação que cerca o enclave e lançou uma ofensiva contra os territórios ocupados em 1948. Desde então, a aviação israelita matou mais de 430 palestinianos. De acordo com os dados divulgados pelo Ministério palestiniano da Saúde esta manhã, os bombardeamentos indiscriminados na Faixa de Gaza, conhecida como «a maior prisão a céu aberto», provocaram a morte a 436 pessoas, incluindo 91 menores, e fizeram 2271 feridos, 244 dos quais crianças. Nas últimas horas, a aviação da ocupação lançou centenas de raides contra o enclave costeiro, onde vivem mais de dois milhões de pessoas, atingindo edifícios residenciais, infra-estruturas oficiais e civis, bem como edifícios religiosos, tendo destruído pelo menos duas mesquitas, indica a agência Wafa. Só no sábado, os bombardeamentos israelitas provocaram 300 mortos, o que, segundo destaca o portal The Cradle, é o número mais elevado de palestinianos mortos em ataques aéreos da ocupação num só dia desde 2008. Enquanto se mantiver a ocupação colonial e a violência das forças militares e dos colonos, não haverá paz, alerta o Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente (MPPM). O MPPM reage assim às acções desencadeadas em Gaza e em Israel na madrugada deste sábado. Eram 4h30 em Lisboa (6h30 no local), quando militantes de organizações da resistência palestiniana lançaram, a partir da Faixa de Gaza, um ataque de surpresa, em larga escala, contra Israel, no que apelidaram de «Operação Dilúvio Al-Aqsa». Segundo as organizações, a acção foi uma resposta à profanação da Mesquita de Al-Aqsa e ao aumento da violência dos colonos, e confirma, insiste o MPPM num comunicado, «que não é possível ter uma situação de paz na Palestina e, por consequência, no Médio Oriente, continuando a espezinhar os legítimos direitos do povo palestino e persistindo em manter a ocupação colonial e a violência das forças militares e dos colonos». Diversos grupos da resistência declararam o apoio à operação lançada contra Israel, esta manhã, a partir da Faixa de Gaza, sublinhando que faz parte da luta de libertação nacional. «Fazemos parte desta batalha e os nossos combatentes estão lado a lado com os seus irmãos nas Brigadas al-Qassam (ala militar do Hamas) até à vitória», afirmou em comunicado Abu Hamza, porta-voz das Brigadas de al-Quds, braço militar da Jihad Islâmica. Em termos semelhantes, refere a Prensa Latina, se pronunciaram as Brigadas al-Nasser Salah al-Din, do Movimento de Resistência Popular: «Unidos numa trincheira neste dia glorioso do nosso povo.» Por seu lado, as Brigadas de Resistência Nacional anunciaram que os seus membros se juntaram à operação, lançada esta manhã pelo Hamas, que incluiu o lançamento de milhares de rockets e uma incursão terrestre em território ocupado em 1948. Atingido por disparos de colonos na cidade de Huwara, Labib Dumaidi, de 19 anos, é a mais recente das quatro vítimas mortais na Margem Ocidental ocupada, revelou o Ministério da Saúde. De acordo com a informação divulgada pelo Ministério, Labib Mohammed Dumaidi ficou gravemente ferido durante um ataque de colonos, ontem à noite, na cidade de Huwara, a sul de Nablus. Levado para um hospital, não resistiu aos ferimentos, já nas primeiras horas de sexta-feira. Residentes de Huwara tentaram fazer frente à provocação levada a cabo por dezenas de colonos, protegidos por forças militares israelitas, indica a Wafa. Registaram-se fortes confrontos e as tropas israelitas usaram fogo real, gás lacrimogéneo e granadas atordoantes para dispersar os palestinianos. Fontes do Crescente Vermelho Palestiniano informaram que pelo menos 25 pessoas, incluindo quatro crianças, sofreram efeitos de asfixia devido à inalação de gás lacrimogéneo. Também em Huwara, as forças israelitas mataram, ontem à tarde, outro palestiniano, cuja identidade ainda não foi revelada. Dias depois de colonos extremistas terem invadido e atacado Huwara, Bezalel Smotrich afirmou que Israel deve «aniquilar» a localidade palestiniana no Norte da Cisjordânia ocupada. «Penso que Huwara precisa de ser destruída», disse o ministro israelita das Finanças, Bezalel Smotrich, esta quarta-feira, defendendo que «o Estado devia fazê-lo e não cidadãos privados», refere a PressTV com base na imprensa israelita. As declarações do ministro de extrema-direita do governo de Benjamin Netanyahu seguem-se ao ataque perpetrado contra a localidade palestiniana, no domingo à noite, por centenas de colonos armados. Tratou-se da «resposta» à morte de dois israelitas de um colonato ilegal, executados por um atacante palestiniano de Huwara. Este ataque, por sua vez, seguiu-se ao massacre de Nablus, em que as forças de ocupação israelitas mataram 11 palestinianos e feriram mais de cem. No domingo à noite, os colonos queimaram pelo menos 150 carros, 52 casas e várias lojas. Uma pessoa foi morta e o número de feridos palestinianos é superior a 390, indica a agência Wafa. Grupos israelitas de defesa dos direitos humanos como Peace Now e B’Tselem referiram-se ao ataque dos colonos como um «pogrom» apoiado pelas autoridades de ocupação. Por seu lado, o Crescente Vermelho palestiniano acusou as forças israelitas de impedirem as ambulâncias e os paramédicos de acederem ao local do ataque, a poucos quilómetros de Nablus. No Knesset, a extrema-direita israelita considerou os ataques a Huwara «legítimos». Hussein al-Sheikh, da Comissão Executiva da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), afirmou, no Twitter, que as afirmações de Smotrich para apagar Huwara do mapa são o apelo de um «racista terrorista». Também o primeiro-ministro da Autoridade Palestiniana (AP), Mohammad Shtayyeh, se referiu às afirmações do ministro israelita como «terroristas» e «racistas», e alertou para o facto de que «fazem prever uma escalada séria» contra o povo palestiniano nos territórios ocupados. Neste sentido, pediu às Nações Unidas, à União Europeia e demais organizações internacionais que condenem as declarações de Smotrich. Antes, já tinha pedido ajuda internacional «contra os crimes de Israel». O Parlamento (da Liga) Árabe, com sede no Cairo, condenou esta quarta-feira os ataques executados por colonos israelitas contra o povo palestiniano na Cisjordânia ocupada, referindo-se em especial ao assalto à localidade de Huwara. Perante os ataques terroristas sistemáticos dos colonos contra cidadãos indefesos, com armas de fogo, incêndios de casas e viaturas, expulsão de agricultores, assassinatos e outros crimes, exortou o mundo e em especial o Conselho de Segurança da ONU a adoptar medidas para proteger o povo palestiniano. Antes, a Liga Árabe já tinha proposto que as milícias de colonos passem a ser incluídas na lista de grupos terroristas. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Na parte da manhã, as forças israelitas já tinham matado dois palestinianos, identificados como Hudhayfah Fares, de 27 anos, e Abd al-Rahman Atta, de 23, na aldeia de Shufa, na sequência de um ataque de colonos a viaturas na região de Tulkarem. De acordo com as Nações Unidas, 2023 está a ser o ano mais mortífero para os palestinianos na Margem Ocidental desde que há registo de fatalidades provocadas pelas forças de ocupação. Nabil Abu Rudeineh, porta-voz da Presidência palestiniana, disse à imprensa que a ocupação israelita pisou todas as linhas vermelhas, com a sua insistência na política de assassinatos e incursões em cidades, aldeias e acampamentos palestinianos. Numa entrevista à Palestine TV, o representante da Presidência responsabilizou o governo israelita e a administração norte-americana pelos «crimes perigosos perpetrados pela ocupação e os seus colonos por todo o território palestiniano», os mais recentes dos quais nas imediações de Nablus e Tulkarem, refere a Wafa. Apesar da «guerra implacável» que a ocupação israelita está a travar contra o povo palestiniano «à vista de todo o mundo», o responsável afirmou que isso não irá impedir «o nosso povo de prosseguir a sua luta legítima» até à «criação do seu Estado independente, com Jerusalém como capital». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Na Cisjordânia, a Cova dos Leões, um dos grupos da resistência mais activos, fez um apelo à mobilização geral dos seus membros, bem como ao «ataque imediato em todos os lugares contra as forças de ocupação e os seus colonos». Com base em fontes israelitas, a agência Prensa Latina indica que o Exército de ocupação deu conta de combates em 21 locais no Sul de Israel, na sequência da operação palestiniana – embora tenha posteriormente reduzido esse número para sete. Ao anunciar a ofensiva desta manhã (às 7h locais), o comandante das Brigadas al-Qassam, Muhammad al-Deif, disse que o grupo palestiniano disparou para território israelita 5000 rockets. Al-Deif afirmou que a operação é uma resposta aos sistemáticos crimes israelitas contra o povo palestiniano e a profanação contínua por colonos judeus da mesquita de al-Aqsa, em Jerusalém, e ocorre num contexto de escalada de agressões, da parte de colonos e forças israelitas, em Jerusalém Oriental e na Cisjordânia ocupada. A Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos registou mais de 135 mil casos de detenções, pelas forças de ocupação israelitas, desde o início da Intifada de al-Aqsa, em 2000. Num relatório emitido por ocasião do 23.º aniversário do início da Segunda Intifada ou Intifada de al-Aqsa (28 de Setembro de 2000), a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos sublinha que as detenções levadas a cabo pelas forças israelitas afectaram todas as camadas da sociedade, e não deixaram de parte menores de idade, idosos e mulheres. Dos mais de 135 mil casos registados pelo organismo, 21 mil dizem respeito a menores, indica o relatório – divulgado pela Wafa –, que dá conta da detenção de metade dos deputados do Conselho Legislativo Palestiniano (Parlamento), de vários ministros, centenas de académicos, jornalistas e funcionários de organizações da sociedade civil e instituições internacionais. Israel mantém nas suas prisões 1264 palestinianos sem acusações nem julgamento, o número mais elevado em 30 anos, revelou a ONG Hamoked. Desde a Primeira Intifada (1987-1993) que não havia tantos palestinianos detidos ao abrigo da polémica norma, alertou a organização não governamental este fim-de-semana, com base nos dados dos serviços prisionais. Jessica Montell, directora executiva da Hamoked, organização israelita que presta assistência jurídica gratuita aos palestinianos que vivem sob a ocupação, afirmou que a detenção administrativa é «massiva e arbitrária» e que Israel mantém nesse regime, sem acusação nem julgamento, mais de 1200 palestinianos, «alguns dos quais durante anos sem uma revisão eficaz». Ao abrigo deste regime, a detenção, decretada por um comandante militar, com base naquilo a que Israel chama «prova secreta» – que nem o advogado do detido tem direito a ver –, pode ser infinitamente renovada por períodos até seis meses. A Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) revelou, este domingo, que nove presos palestinianos sem acusação ou julgamento continuam em greve de fome por tempo indeterminado. Os presos Kayed al-Fasfous e Sultan Khlouf iniciaram o protesto contra a detenção administrativa há 19 dias. Por seu lado, Osama Darkouk encontra-se em greve de fome há 15 dias. Outros seis reclusos palestinianos em cadeias israelitas estão em greve de fome há 12 dias: Hadi Nazzal, Mohammad Taysir Zakarneh, Anas Kmail, Abdelrahman Baraka, Mohammad Basem Ikhmis e Zuhdi Abdo, informa a agência Wafa, com base na SPP. Na semana passada, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos pediu à chamada comunidade internacional que quebre o silêncio em torno do «crime israelita da detenção administrativa», que permite manter na cadeia presos sem acusação ou julgamento, numa clara violação das normas internacionais. Ao abrigo deste regime, a detenção, decretada por um comandante militar, com base naquilo a que Israel chama «prova secreta» – que nem o advogado do detido tem direito a ver –, pode ser infinitamente renovada por períodos até seis meses. A Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) revelou, esta segunda-feira, que quatro presos palestinianos sem acusação ou julgamento tinham iniciado há nove dias uma greve de fome por tempo indeterminado. Em comunicado divulgado pela Wafa, a SPP indicou que Anas Ibrahim Shadid, de 26 anos, Mahmoud Abdel Halim Talahma, de 32, Abdullah Mohammad Abido, de 36, e Mohammad Ahmad Dandis, de 25, iniciaram o protesto para denunciar a sua detenção sem acusação ou julgamento. Acrescentou que todos os detidos estão na cadeia israelita de Ofer, perto de Ramallah, e são originários da província de Hebron (al-Khalil), no Sul da Cisjordânia ocupada. A organização de defesa dos direitos dos presos informa que Shadid foi preso três vezes, sempre no regime de detenção administrativa, tendo passado, no total, três anos atrás das grades. Durante esses períodos, levou a cabo duas greves de fome, uma delas com a duração de 90 dias, em 2016. Os prisioneiros iniciaram uma greve de fome, há uma semana, para exigir a sua libertação e denunciar um regime de detenção que permite mantê-los na cadeia sem acusação ou julgamento. O protesto dos trinta presos palestinianos, membros e simpatizantes da Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP), completou uma semana sem solução aparente à vista, tendo em conta a inflexibilidade das autoridades de Telavive. Em comunicado, a Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) anunciou que os serviços prisionais israelitas têm estado a ameaçar com castigos os reclusos que lutam contra o regime de detenção administrativa. Entre as punições, contam-se privá-los de visitas, retirar-lhes os seus pertences e isolá-los em celas de castigo. Nesta primeira semana de protesto, os serviços prisionais israelitas colocaram 28 dos grevistas em quatro celas de isolamento na prisão de Ofer, informa a Wafa com base no documento divulgado pelo SPP. Um outro, o advogado Salah Hammouri, foi metido na solitária numa cadeia no Norte de Israel, enquanto Ghassan Zawahreh foi levado para uma cela de isolamento numa prisão localizada no Deserto do Neguev (al-Naqab). Os prisioneiros, em cadeias israelitas, iniciaram uma greve de fome por tempo indeterminado contra um regime que permite mantê-los detidos sem acusação ou julgamento, por períodos renováveis de seis meses. O início do protesto, este domingo, por parte de prisioneiros que são membros ou apoiantes da Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP), foi confirmado pela Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos. Em declarações à agência Wafa, Hassan Abed Rabbo, porta-voz da comissão, disse que os presos decidiram avançar contra uma política que permite a Israel manter nas suas prisões, sem acusação ou julgamento, presos palestinianos por tempo indefinido, na medida em que o período de detenção, até seis meses, é infinitamente renovável. Numa mensagem divulgada há alguns dias, os presos sublinharam que a luta contra o regime de detenção administrativa continua e denunciaram que as medidas tomadas pelas autoridades prisionais israelitas «já não se baseiam em obsessões de segurança, mas são actos de vingança devido ao seu passado». Qadri Abu Baker, líder da Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos, disse à Wafa que, na próxima quinta-feira, mais 50 presos se devem juntar à greve de fome, para denunciar o regime de detenção administrativa a que são submetidos e a escalada por parte de Israel no que respeita a este procedimento. O maior número de detenções administrativas – sem julgamento ou acusação – foi decretado em Maio, quando Israel lançou uma ofensiva de 11 dias contra a Faixa de Gaza. A Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) revelou, este domingo, que o número divulgado diz respeito tanto a novas ordens como à renovação de ordens já emitidas nos territórios ocupados, pelas autoridades israelitas. No documento apresentado, o organismo lembra que política de detenção administrativa visa «esmagar os activistas políticos palestinianos» e se baseia num ficheiro secreto não acessível aos presos – nem sequer aos seus advogados –, que são mantidos na cadeia sem acusação ou julgamento, informa a WAFA. O maior número de ordens de detenção administrativa foi emitido em Maio último, quando a Israel lançou uma ofensiva de 11 dias contra a Faixa de Gaza, explicou a organização de defesa dos presos, acrescentado que, ao longo do ano, 60 prisioneiros recorreram à greve de fome com o propósito de reconquistar a liberdade. Uma comissão de apoio aos prisioneiros revelou que 13 palestinianos permaneciam em greve de fome nas cadeias, este domingo, contra o regime que permite mantê-los reclusos sem acusação ou julgamento. Num comunicado ontem emitido, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos informou que o prisioneiro Salem Ziadat, de 40 anos, é, dos 13 que continuavam o protesto, aquele que está em greve de fome há mais tempo, permanecendo em jejum há 28 dias contra a sua detenção administrativa, sem acusação ou julgamento, revelou a agência WAFA. A Comissão informou ainda que o número de reclusos palestinianos em greve de fome até ontem era de 15, mas que Mohammad Khaled Abusill e Ahmad Abdulrahman Abusill tinham chegado a um acordo com o Serviço Prisional Israelita no que respeita à «limitação» da chamada detenção administrativa. Grupos de defesa dos presos apresentaram um relatório sobre o primeiro semestre de 2021. Nas cadeias israelitas, há actualmente 4850 palestinianos, 540 dos quais ao abrigo da «detenção administrativa». Entre os palestinianos que se encontram nos cárceres de Israel, contam-se 43 mulheres e 225 menores, segundo o documento conjunto divulgado este fim-de-semana pela Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos, a Sociedade dos Presos Palestinianos, a Addameer e o Centro de Informação Wadi Hilweh. Os organismos referidos precisaram que 12 presos são membros do Conselho Legislativo Palestiniano (Parlamento), 70 são provenientes dos territórios ocupados em 1948, 350 são originários de Jerusalém ocupada e 240 da Faixa de Gaza cercada. O informe destaca a existência de 540 prisioneiros palestinianos em detenção administrativa, sem acusação formada ou julgamento, por períodos de seis meses indefinidamente renováveis. No que respeita a detenções, os organismos de defesa dos presos revelaram que Israel prendeu 5426 palestinianos entre 1 de Janeiro e 30 de Junho deste ano – um número superior a todas as detenções efectuadas pelas forças israelitas em 2020 e registadas por estas organizações: 4636. Por ocasião do Dia da Criança Palestiniana, que se assinala a 5 de Abril, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos revelou também que 140 menores permanecem em cadeias israelitas. Os menores palestinianos, alguns dos quais crianças, continuam a ser alvo das forças militares israelitas, que os prendem, muitas vezes de forma violenta, nos territórios ocupados. De acordo com um relatório publicado este domingo pela Sociedade dos Prisioneiros Palestinianos, pelo menos 230 foram detidos desde o início do ano, a maioria dos quais em Jerusalém Oriental ocupada. O grupo de defesa dos direitos dos presos sublinhou que «as crianças encarceradas são submetidas a vários tipos de abusos, incluindo «a recusa de comida e de bebida por longas horas, abuso verbal e a detenção em condições duras». O informe veio a lume na véspera do Dia da Criança Palestiniana, que se assinala a 5 de Abril, com actividades culturais, educativas e mediáticas que, refere a PressTV, visam reforçar a consciência sobre o sofrimento dos menores palestinianos. Também no âmbito do Dia da Criança Palestiniana, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos revelou que 140 menores permanecem em cadeias israelitas, incluindo dois que se encontram presos ao abrigo do regime de detenção administrativa. Uma comissão da ONU reafirmou denúncias expostas em vários relatórios sobre detenções de menores palestinianos por Israel – quase sempre presos de noite, algemados e vendados. É o início da «viagem ao inferno». A instância, composta por especialistas independentes das Nações Unidas, expressou particular preocupação pela expansão dos colonatos e o aumento da violência dos colonos israelitas, em que se incluem ataques a crianças e às suas escolas. Segundo se pode ler no portal oficial de notícias da ONU, na semana passada diversas organizações informaram a comissão sobre as operações nocturnas levadas a efeito pelas forças israelitas com o propósito de deter crianças e adolescentes na Cisjordânia ocupada, com «graves consequências para o seu bem-estar e gozo dos seus direitos». «Mais de 300 crianças estão detidas no sistema militar israelita. A maioria por delitos menores, como atirar pedras e publicações nas redes sociais», assinala a comissão, que denuncia o facto de os menores serem «levados para locais desconhecidos, presos em viaturas militares e sujeitos a ameaças e abusos verbais», bem como o facto de, por vezes, serem «obrigados a assinar confissões em hebraico, uma língua que não costumam entender». Estas preocupações reafirmam as que têm sido veiculadas, ao longo do tempo, por várias entidades, nomeadamente a Comissão dos Prisioneiros Palestinianos, órgão dependente da Autoridade Palestiniana que, em diversas ocasiões (também este ano), alertou para o facto de os menores serem torturados e sofrerem abusos nos cárceres israelitas, bem como para o facto de serem espancados, insultados e pressionados no momento da detenção. No final de Março, um relatório publicado pelo Ministério palestiniano da Informação denunciava também esta realidade, afirmando que «95% das crianças palestinianas presas pelas autoridades israelitas foram torturadas durante a detenção». De acordo com o relatório, até 2015 foram documentadas anualmente 700 detenções de menores palestinianos. Já em 2017, Israel prendeu 1467 crianças e adolescentes; 1063 no ano seguinte e, nos dois primeiros dois meses deste ano, 118. Entre 2000 e 2018, foram presos mais de 16 mil menores. Numa peça intitulada «“Endless Trip to Hell”: Israel Jails Hundreds of Palestinian Boys a Year. These Are Their Testimonies», publicada em Março e plenamente actual, o periódico israelita Haaretz aborda esta realidade, em que as crianças, algumas com idades inferiores a 13 anos, «são detidas pela calada da noite, vendadas e algemadas, alvo de abusos e constrangidas» a confessar «crimes» que não cometeram. A peça, que reúne testemunhos de sete jovens da Margem Ocidental ocupada com idades compreendidas entre os dez e os 15 anos, revela as diversas fases do processo de detenção, que começa nas operações nocturnas e passa pelo interrogatório, a prisão, o julgamento e a proposta de um acordo. Na sua maioria, os jovens são presos por, alegadamente, terem atirado pedras ou queimado pneus, mas, como sublinha a advogada Farah Bayadsi o objectivo das detenções «é mais para mostrar controlo do que para aplicar a lei». A experiência traumática é fundamentada por tudo aquilo por que as crianças passam durante uma detenção. Arrancadas de casa quando dormem, são algemadas e vendadas, levadas em veículos militares para colonatos e bases israelitas, passando por todo um processo que envolve intimidação, ameaças, agressões físicas, afastamento da família e pressão para «confessar». O nível de brutalidade varia. Khaled Mahmoud Selvi, preso quando tinha 15 anos, foi levado para a prisão e despido (o que, de acordo com o jornal, ocorre em 55% dos casos), tendo sido obrigado a permanecer dez minutos nu, em pé, durante o Inverno. De acordo com os dados recolhidos pela organização não governamental (ONG) British-Palestinian Military Court Watch, 97% dos jovens palestinianos detidos pelas forças militares israelitas (IDF) vivem em pequenas localidades a menos de dois quilómetros de um colonato. O advogado Gerard Horton, da ONG referida, afirma que a ideia é «assustar toda a aldeia» e que se trata de um «instrumento eficaz» para controlar uma comunidade. Acrescenta que, do ponto de vista dos ocupantes e opressores, a pressão «tem de ser constante»: «Cada geração tem de sentir a mão pesada das IDF.» A experiência é traumática. O pai de Khaled Shtaiwi, preso com 13 anos em Novembro do ano passado, contou ao periódico que criou na sua aldeia o «dia da psicologia», porque o seu filho não é capaz de falar sobre o que se passou e porque quer ajudar todas as crianças que foram presas pelos israelitas. Em Beit Ummar, Omar Ayyash foi preso com dez anos de idade, em Dezembro último. Agora, as crianças que brincam nas ruas da aldeia afastam-se assim que se apercebem da aproximação de soldados israelitas. Tornou-se um hábito desde que as tropas levaram Omar. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Por seu lado, a organização Defense for Children International – Palestine (DCIP) destacou que todos os anos entre 500 e 700 menores palestinianos são processados em tribunais militares israelitas e que 85% das crianças palestinianas detidas em 2020 foram «submetidas a violência física». Num comunicado, a DCIP afirma ter documentado 27 casos em que as crianças foram mantidas na solitária um ou dois dias, alegando as forças israelitas «objectivos de investigação». Esta prática é, segundo o organismo, uma forma de «tortura ou tratamento cruel, desumano e degradante». Desde Outubro de 2015, a DCIP registou a 36 ordens de detenção administrativa decretadas contra menores palestinianos, dois dos quais se mantêm nesse regime. Ainda de acordo com o organismo sediado em Genebra, em 2020, as forças israelitas mataram nove menores palestinianos na Cisjordânia ocupada, incluindo Jerusalém Oriental, e na Faixa de Gaza, seis dos quais com fogo real. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. O relatório divulgado este fim-de-semana informa que, entre os palestinianos detidos pelas forças israelitas, se incluem 854 menores e 107 mulheres, tendo sido emitidas na primeira metade do ano 680 ordens de detenção administrativa, incluindo 312 novas. No mês de Junho foram presos 615 palestinianos, revela o texto, destacando que Maio foi de longe o mês em que se registou um maior número de detenções na primeira metade deste ano. Então, mês de massacre contra Gaza e de múltiplas provocações sionistas no Complexo da Mesquita de al-Aqsa e em Jerusalém Oriental ocupada, as forças israelitas prenderam 3100 palestinianos, incluindo 2000 nos territórios ocupados em 1948 (actual Estado de Israel) e 677 em Jerusalém Oriental ocupada, informa a WAFA. De acordo com a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos, há actualmente nove presos em greve de fome nos cárceres israelitas como forma de protesto contra o regime de detenção administrativa que lhes foi aplicado. A Comissão pediu às instâncias internacionais e regionais de defesa dos direitos humanos que pressionem as autoridades israelitas no sentido de acabar com os maus-tratos aos presos em greve de fome, que passam também pela sua reclusão na solitária. Os presos palestinianos recorrem com frequência a esta forma de luta contra um regime de detenção ilegal, cujo fim exigem. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. De acordo com os grupos de defesa dos direitos dos prisioneiros palestinianos, há actualmente quase 550 nos cárceres israelitas detidos ao abrigo deste regime, que tem merecido ampla condenação internacional e que permite a Israel manter nas suas prisões, sem acusação ou julgamento, presos palestinianos por tempo indefinido, na medida em que o período de detenção, até seis meses, é infinitamente renovável. A detenção, que é decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta» – e é tão «secreta» que nem o advogado do detido tem direito a vê-la. Alguns prisioneiros palestinianos passaram mais de uma década nas cadeias israelitas ao abrigo deste regime de «detenção», que é considerado ilegal à luz do direito internacional. Como forma de protesto contra as suas detenções ilegais e para exigir que Israel ponha fim a esta prática, os presos palestinianos recorrem com frequência a greves de fome por tempo indeterminado. Apesar da pressão internacional e dos protestos dos prisioneiros, as autoridades israelitas não têm dado sinais de querer acabar com este regime. Pelo contrário, tanto a comissão referida como o Centro Palestiniano de Estudos sobre Prisioneiros têm dado conta de novas ordens de detenção administrativa e de múltiplas renovações. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Na maior parte dos casos, estavam presos ao abrigo do regime de detenção administrativa, como Hisham Abu Hawwash, de 40 anos, habitante da localidade de Dura (Cisjordânia ocupada) que se mantém há 140 dias em greve de fome e está numa situação considerada muito crítica. Nos últimos dias, as autoridades palestinianas alertaram para o estado de saúde crítico de Abu Hawwash, responsabilizaram Telavive por aquilo que lhe possa acontecer e pediram à comunidade internacional que pressione as autoridades israelitas para o libertarem. Também a Cruz Vermelha se mostrou preocupada com o caso, sublinhando a necessidade de tratar os reclusos com humanidade e de encontrar uma solução que evite «consequências irreversíveis» para Hawwash. De acordo com a SPP, este domingo cerca de 500 reclusos palestinianos presos em Israel ao abrigo do regime da detenção administrativa – criticado pela ONU – declararam o boicote aos tribunais israelitas, porque «sentem que os tribunais alinham sempre com o governo militar e as suas ordens, e não os tratam com imparcialidade». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. De acordo com a comissão, há actualmente mais de 760 presos nas cadeias israelitas sem acusação ou julgamento. A detenção, decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta», que nem o advogado do detido tem direito a ver. Cerca de 80% dos presos palestinianos neste regime são ex-presos que já passaram anos atrás das grades, revela a Wafa. Em comunicado, emitido há dias, o Ramo Penitenciário da Frente Popular para a Libertação da Palestina afirmou que «estes 30 prisioneiros, juntos, passaram quase 200 anos em detenção administrativa. Duzentos anos de cativeiro sem acusação ou julgamento por capricho dos oficiais de inteligência da ocupação». O texto, divulgado pela Samidoun (rede de solidariedade com os presos palestinianos), sublinha que se trata de uma «pena perpétua», uma vez que muitos presos são libertados durante alguns meses e são novamente detidos. «Temos um mês de liberdade por cada ano de detenção», afirmam. Dizem que são «alimentados pela dignidade» e querem que as autoridades israelitas saibam que, mesmo que os torturem e lhes provoquem dor, «que a nossa luta continua, e que semearemos alegria, vida e esperança, e que nossa luta pela liberdade e pela humanidade livre de tormentos não vai parar». Leila Khaled, membro do Comité Central da FPLP e símbolo da resistência palestiniana, anunciou uma greve de fome solidária com os presos, a quem saudou por estarem «na primeira linha do confronto a este inimigo criminoso fascista». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. De acordo com a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos, dos cerca de 4600 palestinianos actualmente presos nas cadeias israelitas, mais de 760 são reclusos sem acusação ou julgamento, cuja detenção pode ser infinitamente renovada por períodos até seis meses. A detenção, decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta», que nem o advogado do detido tem direito a ver. Após o início da greve de fome, Basil Mizher, outro advogado palestiniano detido sem acusação ou julgamento, viu ser-lhe renovada a detenção administrativa por mais três meses, no passado dia 28. Numa mensagem que Mizher escreveu no início do protesto, lida pela sua mãe numa acção solidária no campo de refugiados de Dheisheh, em Belém, o preso diz que a sua profissão é a de advogado, mas que mal se lembra dela, pois quase não a conseguiu exercer desde que se formou – foi submetido a três detenções administrativas desde que passou no exame. Em vez de ir trabalhar, foi para a prisão, lê-se no texto divulgado pela pela Samidoun (rede de solidariedade com os presos palestinianos). «Ou nos submetemos à opressão e à privação e aceitamos o roubo perpétuo da nossa liberdade e da nossa vida à vista do mundo, ou nos revoltamos contra a injustiça e derrubamos os muros do carcereiro com todas as ferramentas que temos», escreveu Basil Mizher a propósito da greve de fome, que é a «recusa da política de subordinação e domesticação». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Talahma, detido desde Março de 2022, é um advogado e antigo prisioneiro, que passou dois anos e meio nas cadeias israelitas. Abido é também um antigo prisioneiro, que passou cinco anos e meio nas prisões da ocupação – a maior parte do tempo ao abrigo do regime de detenção administrativa. Por seu lado, Dandis foi preso pela primeira vez a 23 de Março último, tendo-lhe sido imposta uma detenção administrativa por um período de seis meses. Este protesto ocorre num contexto em que Israel intensifica o recurso às detenções sem acusação ou julgamento. Segundo revelou a SPP, existem actualmente nas cadeias israelitas 1083 presos palestinianos a quem foi aplicado este regime de detenção, 17 dos quais são menores. O regime de detenção administrativa, que tem merecido ampla condenação internacional, permite a Israel manter nas suas prisões, sem acusação ou julgamento, presos palestinianos por tempo indefinido, na medida em que o período de detenção, até seis meses, é infinitamente renovável. O primeiro-ministro palestiniano, Mohammad Shtayyeh, responsabilizou Israel pelo «assassinato» de Khader Adnan, ao não atender ao protesto contra a sua detenção sem acusação ou julgamento. A Sociedade de Prisioneiros Palestinianos (SPP) afirmou, em comunicado, que Khader Adnan, de 44 anos, foi encontrado inconsciente esta madrugada na sua cela, tendo sido levado para um hospital, onde foi declarado morto. Adnan, natural da cidade de Arraba (perto de Jenin), foi preso 12 vezes ao longo da sua vida, tendo recorrido à greve de fome em diversas ocasiões para protestar contra as suas detenções sem qualquer acusação, afirmou a SPP, citada pela agência Wafa. A última detenção ocorreu a 5 de Fevereiro e Adnan entrou de imediato em greve de fome por tempo indeterminado, refere a fonte, acrescentando que pelo menos 236 presos palestinianos morreram desde 1967. Ao ter conhecimento da notícia, o primeiro-ministro palestiniano, Mohammad Shtayyeh, acusou Israel de ter cometido um assassinato. O número foi destacado pela Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) em conferência de imprensa. A maior parte encontra-se nos centros de detenção de Ofer e de Naqab (Neguev). O regime de detenção administrativa, que tem merecido ampla condenação internacional – até do Departamento de Estado norte-americano e da Amnistia Internacional –, permite a Israel manter nas suas prisões, sem acusação ou julgamento, presos palestinianos por tempo indefinido, na medida em que o período de detenção, até seis meses, é infinitamente renovável. Em relatórios anteriores, a SPP lembrou que esta política visa «esmagar os activistas políticos palestinianos» e se baseia num ficheiro secreto não acessível aos presos – nem sequer aos seus advogados. Os prisioneiros iniciaram uma greve de fome, há uma semana, para exigir a sua libertação e denunciar um regime de detenção que permite mantê-los na cadeia sem acusação ou julgamento. O protesto dos trinta presos palestinianos, membros e simpatizantes da Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP), completou uma semana sem solução aparente à vista, tendo em conta a inflexibilidade das autoridades de Telavive. Em comunicado, a Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) anunciou que os serviços prisionais israelitas têm estado a ameaçar com castigos os reclusos que lutam contra o regime de detenção administrativa. Entre as punições, contam-se privá-los de visitas, retirar-lhes os seus pertences e isolá-los em celas de castigo. Nesta primeira semana de protesto, os serviços prisionais israelitas colocaram 28 dos grevistas em quatro celas de isolamento na prisão de Ofer, informa a Wafa com base no documento divulgado pelo SPP. Um outro, o advogado Salah Hammouri, foi metido na solitária numa cadeia no Norte de Israel, enquanto Ghassan Zawahreh foi levado para uma cela de isolamento numa prisão localizada no Deserto do Neguev (al-Naqab). Os prisioneiros, em cadeias israelitas, iniciaram uma greve de fome por tempo indeterminado contra um regime que permite mantê-los detidos sem acusação ou julgamento, por períodos renováveis de seis meses. O início do protesto, este domingo, por parte de prisioneiros que são membros ou apoiantes da Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP), foi confirmado pela Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos. Em declarações à agência Wafa, Hassan Abed Rabbo, porta-voz da comissão, disse que os presos decidiram avançar contra uma política que permite a Israel manter nas suas prisões, sem acusação ou julgamento, presos palestinianos por tempo indefinido, na medida em que o período de detenção, até seis meses, é infinitamente renovável. Numa mensagem divulgada há alguns dias, os presos sublinharam que a luta contra o regime de detenção administrativa continua e denunciaram que as medidas tomadas pelas autoridades prisionais israelitas «já não se baseiam em obsessões de segurança, mas são actos de vingança devido ao seu passado». Qadri Abu Baker, líder da Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos, disse à Wafa que, na próxima quinta-feira, mais 50 presos se devem juntar à greve de fome, para denunciar o regime de detenção administrativa a que são submetidos e a escalada por parte de Israel no que respeita a este procedimento. O maior número de detenções administrativas – sem julgamento ou acusação – foi decretado em Maio, quando Israel lançou uma ofensiva de 11 dias contra a Faixa de Gaza. A Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) revelou, este domingo, que o número divulgado diz respeito tanto a novas ordens como à renovação de ordens já emitidas nos territórios ocupados, pelas autoridades israelitas. No documento apresentado, o organismo lembra que política de detenção administrativa visa «esmagar os activistas políticos palestinianos» e se baseia num ficheiro secreto não acessível aos presos – nem sequer aos seus advogados –, que são mantidos na cadeia sem acusação ou julgamento, informa a WAFA. O maior número de ordens de detenção administrativa foi emitido em Maio último, quando a Israel lançou uma ofensiva de 11 dias contra a Faixa de Gaza, explicou a organização de defesa dos presos, acrescentado que, ao longo do ano, 60 prisioneiros recorreram à greve de fome com o propósito de reconquistar a liberdade. Uma comissão de apoio aos prisioneiros revelou que 13 palestinianos permaneciam em greve de fome nas cadeias, este domingo, contra o regime que permite mantê-los reclusos sem acusação ou julgamento. Num comunicado ontem emitido, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos informou que o prisioneiro Salem Ziadat, de 40 anos, é, dos 13 que continuavam o protesto, aquele que está em greve de fome há mais tempo, permanecendo em jejum há 28 dias contra a sua detenção administrativa, sem acusação ou julgamento, revelou a agência WAFA. A Comissão informou ainda que o número de reclusos palestinianos em greve de fome até ontem era de 15, mas que Mohammad Khaled Abusill e Ahmad Abdulrahman Abusill tinham chegado a um acordo com o Serviço Prisional Israelita no que respeita à «limitação» da chamada detenção administrativa. Grupos de defesa dos presos apresentaram um relatório sobre o primeiro semestre de 2021. Nas cadeias israelitas, há actualmente 4850 palestinianos, 540 dos quais ao abrigo da «detenção administrativa». Entre os palestinianos que se encontram nos cárceres de Israel, contam-se 43 mulheres e 225 menores, segundo o documento conjunto divulgado este fim-de-semana pela Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos, a Sociedade dos Presos Palestinianos, a Addameer e o Centro de Informação Wadi Hilweh. Os organismos referidos precisaram que 12 presos são membros do Conselho Legislativo Palestiniano (Parlamento), 70 são provenientes dos territórios ocupados em 1948, 350 são originários de Jerusalém ocupada e 240 da Faixa de Gaza cercada. O informe destaca a existência de 540 prisioneiros palestinianos em detenção administrativa, sem acusação formada ou julgamento, por períodos de seis meses indefinidamente renováveis. No que respeita a detenções, os organismos de defesa dos presos revelaram que Israel prendeu 5426 palestinianos entre 1 de Janeiro e 30 de Junho deste ano – um número superior a todas as detenções efectuadas pelas forças israelitas em 2020 e registadas por estas organizações: 4636. Por ocasião do Dia da Criança Palestiniana, que se assinala a 5 de Abril, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos revelou também que 140 menores permanecem em cadeias israelitas. Os menores palestinianos, alguns dos quais crianças, continuam a ser alvo das forças militares israelitas, que os prendem, muitas vezes de forma violenta, nos territórios ocupados. De acordo com um relatório publicado este domingo pela Sociedade dos Prisioneiros Palestinianos, pelo menos 230 foram detidos desde o início do ano, a maioria dos quais em Jerusalém Oriental ocupada. O grupo de defesa dos direitos dos presos sublinhou que «as crianças encarceradas são submetidas a vários tipos de abusos, incluindo «a recusa de comida e de bebida por longas horas, abuso verbal e a detenção em condições duras». O informe veio a lume na véspera do Dia da Criança Palestiniana, que se assinala a 5 de Abril, com actividades culturais, educativas e mediáticas que, refere a PressTV, visam reforçar a consciência sobre o sofrimento dos menores palestinianos. Também no âmbito do Dia da Criança Palestiniana, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos revelou que 140 menores permanecem em cadeias israelitas, incluindo dois que se encontram presos ao abrigo do regime de detenção administrativa. Uma comissão da ONU reafirmou denúncias expostas em vários relatórios sobre detenções de menores palestinianos por Israel – quase sempre presos de noite, algemados e vendados. É o início da «viagem ao inferno». A instância, composta por especialistas independentes das Nações Unidas, expressou particular preocupação pela expansão dos colonatos e o aumento da violência dos colonos israelitas, em que se incluem ataques a crianças e às suas escolas. Segundo se pode ler no portal oficial de notícias da ONU, na semana passada diversas organizações informaram a comissão sobre as operações nocturnas levadas a efeito pelas forças israelitas com o propósito de deter crianças e adolescentes na Cisjordânia ocupada, com «graves consequências para o seu bem-estar e gozo dos seus direitos». «Mais de 300 crianças estão detidas no sistema militar israelita. A maioria por delitos menores, como atirar pedras e publicações nas redes sociais», assinala a comissão, que denuncia o facto de os menores serem «levados para locais desconhecidos, presos em viaturas militares e sujeitos a ameaças e abusos verbais», bem como o facto de, por vezes, serem «obrigados a assinar confissões em hebraico, uma língua que não costumam entender». Estas preocupações reafirmam as que têm sido veiculadas, ao longo do tempo, por várias entidades, nomeadamente a Comissão dos Prisioneiros Palestinianos, órgão dependente da Autoridade Palestiniana que, em diversas ocasiões (também este ano), alertou para o facto de os menores serem torturados e sofrerem abusos nos cárceres israelitas, bem como para o facto de serem espancados, insultados e pressionados no momento da detenção. No final de Março, um relatório publicado pelo Ministério palestiniano da Informação denunciava também esta realidade, afirmando que «95% das crianças palestinianas presas pelas autoridades israelitas foram torturadas durante a detenção». De acordo com o relatório, até 2015 foram documentadas anualmente 700 detenções de menores palestinianos. Já em 2017, Israel prendeu 1467 crianças e adolescentes; 1063 no ano seguinte e, nos dois primeiros dois meses deste ano, 118. Entre 2000 e 2018, foram presos mais de 16 mil menores. Numa peça intitulada «“Endless Trip to Hell”: Israel Jails Hundreds of Palestinian Boys a Year. These Are Their Testimonies», publicada em Março e plenamente actual, o periódico israelita Haaretz aborda esta realidade, em que as crianças, algumas com idades inferiores a 13 anos, «são detidas pela calada da noite, vendadas e algemadas, alvo de abusos e constrangidas» a confessar «crimes» que não cometeram. A peça, que reúne testemunhos de sete jovens da Margem Ocidental ocupada com idades compreendidas entre os dez e os 15 anos, revela as diversas fases do processo de detenção, que começa nas operações nocturnas e passa pelo interrogatório, a prisão, o julgamento e a proposta de um acordo. Na sua maioria, os jovens são presos por, alegadamente, terem atirado pedras ou queimado pneus, mas, como sublinha a advogada Farah Bayadsi o objectivo das detenções «é mais para mostrar controlo do que para aplicar a lei». A experiência traumática é fundamentada por tudo aquilo por que as crianças passam durante uma detenção. Arrancadas de casa quando dormem, são algemadas e vendadas, levadas em veículos militares para colonatos e bases israelitas, passando por todo um processo que envolve intimidação, ameaças, agressões físicas, afastamento da família e pressão para «confessar». O nível de brutalidade varia. Khaled Mahmoud Selvi, preso quando tinha 15 anos, foi levado para a prisão e despido (o que, de acordo com o jornal, ocorre em 55% dos casos), tendo sido obrigado a permanecer dez minutos nu, em pé, durante o Inverno. De acordo com os dados recolhidos pela organização não governamental (ONG) British-Palestinian Military Court Watch, 97% dos jovens palestinianos detidos pelas forças militares israelitas (IDF) vivem em pequenas localidades a menos de dois quilómetros de um colonato. O advogado Gerard Horton, da ONG referida, afirma que a ideia é «assustar toda a aldeia» e que se trata de um «instrumento eficaz» para controlar uma comunidade. Acrescenta que, do ponto de vista dos ocupantes e opressores, a pressão «tem de ser constante»: «Cada geração tem de sentir a mão pesada das IDF.» A experiência é traumática. O pai de Khaled Shtaiwi, preso com 13 anos em Novembro do ano passado, contou ao periódico que criou na sua aldeia o «dia da psicologia», porque o seu filho não é capaz de falar sobre o que se passou e porque quer ajudar todas as crianças que foram presas pelos israelitas. Em Beit Ummar, Omar Ayyash foi preso com dez anos de idade, em Dezembro último. Agora, as crianças que brincam nas ruas da aldeia afastam-se assim que se apercebem da aproximação de soldados israelitas. Tornou-se um hábito desde que as tropas levaram Omar. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Por seu lado, a organização Defense for Children International – Palestine (DCIP) destacou que todos os anos entre 500 e 700 menores palestinianos são processados em tribunais militares israelitas e que 85% das crianças palestinianas detidas em 2020 foram «submetidas a violência física». Num comunicado, a DCIP afirma ter documentado 27 casos em que as crianças foram mantidas na solitária um ou dois dias, alegando as forças israelitas «objectivos de investigação». Esta prática é, segundo o organismo, uma forma de «tortura ou tratamento cruel, desumano e degradante». Desde Outubro de 2015, a DCIP registou a 36 ordens de detenção administrativa decretadas contra menores palestinianos, dois dos quais se mantêm nesse regime. Ainda de acordo com o organismo sediado em Genebra, em 2020, as forças israelitas mataram nove menores palestinianos na Cisjordânia ocupada, incluindo Jerusalém Oriental, e na Faixa de Gaza, seis dos quais com fogo real. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. O relatório divulgado este fim-de-semana informa que, entre os palestinianos detidos pelas forças israelitas, se incluem 854 menores e 107 mulheres, tendo sido emitidas na primeira metade do ano 680 ordens de detenção administrativa, incluindo 312 novas. No mês de Junho foram presos 615 palestinianos, revela o texto, destacando que Maio foi de longe o mês em que se registou um maior número de detenções na primeira metade deste ano. Então, mês de massacre contra Gaza e de múltiplas provocações sionistas no Complexo da Mesquita de al-Aqsa e em Jerusalém Oriental ocupada, as forças israelitas prenderam 3100 palestinianos, incluindo 2000 nos territórios ocupados em 1948 (actual Estado de Israel) e 677 em Jerusalém Oriental ocupada, informa a WAFA. De acordo com a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos, há actualmente nove presos em greve de fome nos cárceres israelitas como forma de protesto contra o regime de detenção administrativa que lhes foi aplicado. A Comissão pediu às instâncias internacionais e regionais de defesa dos direitos humanos que pressionem as autoridades israelitas no sentido de acabar com os maus-tratos aos presos em greve de fome, que passam também pela sua reclusão na solitária. Os presos palestinianos recorrem com frequência a esta forma de luta contra um regime de detenção ilegal, cujo fim exigem. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. De acordo com os grupos de defesa dos direitos dos prisioneiros palestinianos, há actualmente quase 550 nos cárceres israelitas detidos ao abrigo deste regime, que tem merecido ampla condenação internacional e que permite a Israel manter nas suas prisões, sem acusação ou julgamento, presos palestinianos por tempo indefinido, na medida em que o período de detenção, até seis meses, é infinitamente renovável. A detenção, que é decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta» – e é tão «secreta» que nem o advogado do detido tem direito a vê-la. Alguns prisioneiros palestinianos passaram mais de uma década nas cadeias israelitas ao abrigo deste regime de «detenção», que é considerado ilegal à luz do direito internacional. Como forma de protesto contra as suas detenções ilegais e para exigir que Israel ponha fim a esta prática, os presos palestinianos recorrem com frequência a greves de fome por tempo indeterminado. Apesar da pressão internacional e dos protestos dos prisioneiros, as autoridades israelitas não têm dado sinais de querer acabar com este regime. Pelo contrário, tanto a comissão referida como o Centro Palestiniano de Estudos sobre Prisioneiros têm dado conta de novas ordens de detenção administrativa e de múltiplas renovações. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Na maior parte dos casos, estavam presos ao abrigo do regime de detenção administrativa, como Hisham Abu Hawwash, de 40 anos, habitante da localidade de Dura (Cisjordânia ocupada) que se mantém há 140 dias em greve de fome e está numa situação considerada muito crítica. Nos últimos dias, as autoridades palestinianas alertaram para o estado de saúde crítico de Abu Hawwash, responsabilizaram Telavive por aquilo que lhe possa acontecer e pediram à comunidade internacional que pressione as autoridades israelitas para o libertarem. Também a Cruz Vermelha se mostrou preocupada com o caso, sublinhando a necessidade de tratar os reclusos com humanidade e de encontrar uma solução que evite «consequências irreversíveis» para Hawwash. De acordo com a SPP, este domingo cerca de 500 reclusos palestinianos presos em Israel ao abrigo do regime da detenção administrativa – criticado pela ONU – declararam o boicote aos tribunais israelitas, porque «sentem que os tribunais alinham sempre com o governo militar e as suas ordens, e não os tratam com imparcialidade». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. De acordo com a comissão, há actualmente mais de 760 presos nas cadeias israelitas sem acusação ou julgamento. A detenção, decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta», que nem o advogado do detido tem direito a ver. Cerca de 80% dos presos palestinianos neste regime são ex-presos que já passaram anos atrás das grades, revela a Wafa. Em comunicado, emitido há dias, o Ramo Penitenciário da Frente Popular para a Libertação da Palestina afirmou que «estes 30 prisioneiros, juntos, passaram quase 200 anos em detenção administrativa. Duzentos anos de cativeiro sem acusação ou julgamento por capricho dos oficiais de inteligência da ocupação». O texto, divulgado pela Samidoun (rede de solidariedade com os presos palestinianos), sublinha que se trata de uma «pena perpétua», uma vez que muitos presos são libertados durante alguns meses e são novamente detidos. «Temos um mês de liberdade por cada ano de detenção», afirmam. Dizem que são «alimentados pela dignidade» e querem que as autoridades israelitas saibam que, mesmo que os torturem e lhes provoquem dor, «que a nossa luta continua, e que semearemos alegria, vida e esperança, e que nossa luta pela liberdade e pela humanidade livre de tormentos não vai parar». Leila Khaled, membro do Comité Central da FPLP e símbolo da resistência palestiniana, anunciou uma greve de fome solidária com os presos, a quem saudou por estarem «na primeira linha do confronto a este inimigo criminoso fascista». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. De acordo com a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos, dos cerca de 4600 palestinianos actualmente presos nas cadeias israelitas, mais de 760 são reclusos sem acusação ou julgamento, cuja detenção pode ser infinitamente renovada por períodos até seis meses. A detenção, decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta», que nem o advogado do detido tem direito a ver. Após o início da greve de fome, Basil Mizher, outro advogado palestiniano detido sem acusação ou julgamento, viu ser-lhe renovada a detenção administrativa por mais três meses, no passado dia 28. Numa mensagem que Mizher escreveu no início do protesto, lida pela sua mãe numa acção solidária no campo de refugiados de Dheisheh, em Belém, o preso diz que a sua profissão é a de advogado, mas que mal se lembra dela, pois quase não a conseguiu exercer desde que se formou – foi submetido a três detenções administrativas desde que passou no exame. Em vez de ir trabalhar, foi para a prisão, lê-se no texto divulgado pela pela Samidoun (rede de solidariedade com os presos palestinianos). «Ou nos submetemos à opressão e à privação e aceitamos o roubo perpétuo da nossa liberdade e da nossa vida à vista do mundo, ou nos revoltamos contra a injustiça e derrubamos os muros do carcereiro com todas as ferramentas que temos», escreveu Basil Mizher a propósito da greve de fome, que é a «recusa da política de subordinação e domesticação». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Alguns prisioneiros palestinianos passaram mais de uma década nas cadeias israelitas ao abrigo deste sistema, e é comum os presos recorrerem a greves de fome por tempo indeterminado como forma de chamar a atenção para os seus casos e fazer pressão junto das autoridades israelitas para que os libertem. Agora, a SPP revelou também que, dos 835 palestinianos actualmente presos ao abrigo deste regime, 80 são mulheres, indica a agência Wafa. Além disso, a organização não governamental (ONG) informou que, ao longo de 2022, as autoridades israelitas emitiram 2134 ordens de detenção administrativa, 242 das quais em Novembro (o ano passado foram 1595). Desde o início de 2022 até ao fim de Novembro, as forças israelitas prenderam 6500 palestinianos, revelou a SPP, citada pela agência turca Anadolu. Entre os detidos, contavam-se 153 mulheres e 811 menores de idade acrescentou. As forças de ocupação israelitas detiveram 5300 palestinianos desde o princípio deste ano, incluindo 111 mulheres e 620 menores de idade, revelou esta segunda-feira uma organização não governamental. Em comunicado, a Sociedade dos Presos Palestinianos (SPP) afirmou que, com 2353 detenções registadas, Jerusalém Oriental ocupada se situa no primeiro lugar por regiões, e que Abril foi o mês com maior número de detenções (1228 casos), noticia a agência Wafa. A SPP condenou os ataques e raides israelitas contra cidades, aldeias e campos de refugiados na Cisjordânia ocupada para prender activistas, referindo que muitos palestinianos foram mortos, nesse processo, pelas balas do Exército. Neste contexto, o número de execuções extrajudiciais no terreno, em 2022, é mais elevado por comparação com anos anteriores, alertou a SPP, que também questionou os bloqueios militares a localidades e campos de refugiados palestinianos, classificando-os como uma punição colectiva. No que respeita às detenções administrativas, a organização afirmou que este ano, até à data, foram emitidas 1160. Só no mês de Agosto, foram decretadas 272, pelo que, no final de Setembro, havia cerca de 800 palestinianos nas prisões israelitas detidos sem acusação ou julgamento. Ao abrigo deste regime, os períodos de detenção podem ser infinitamente renovados por períodos até seis meses. A detenção, decretada por um comandante militar, tem por base aquilo a que Israel chama «prova secreta», que nem o advogado do detido tem direito a ver. De forma reiterada, os presos palestinianos detidos sob este regime iniciam greves de fome para denunciar os seus casos e a política de detenção administrativa, exigindo a sua libertação. Diversas instâncias das Nações Unidas têm denunciado repetidamente este regime israelita de detenção, na medida em que não faculta aos detidos palestinianos as «salvaguardas jurídicas básicas» e violam o direito internacional humanitário. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Só no mês de Novembro, foram detidos 490 palestinianos, incluindo 76 menores e 12 mulheres, informaram, num relatório conjunto, a SPP, a Addameer, o Centro de Informação Wadi Hilweh e a Comissão dos Assuntos dos Presos e Ex-Presos Palestinianos. No relatório mensal a que o Middle East Monitor faz referência, as quatro organizações de defesa dos direitos presos afirmaram que, no mês passado, o maior número de detenções ocorreu em Hebron (al-Khalil; 135 casos), seguida por Jerusalém (123), Ramallah (52), Jenin e Nablus. De acordo com os grupos, há actualmente nas cadeias israelitas cerca de 4700 palestinianos presos, incluindo 34 mulheres e 150 menores. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. «A ocupação israelita e a sua administração prisional levaram a cabo o assassinato deliberado do preso Khader Adnan ao rejeitar o seu pedido de libertação, ao negligenciá-lo medicamente e ao mantê-lo na sua cela apesar da gravidade do seu estado de saúde», afirmou Shtayyeh em comunicado. Várias facções palestinianas pronunciaram-se no mesmo sentido, responsabilizando Israel pela morte de Khader Adnan e sublinhando o crime «premeditado e a sangue-frio». Por seu lado, o Ministério palestiniano dos Negócios Estrangeiros pediu uma investigação internacional sobre a morte do prisioneiro e instou o Tribunal Penal Internacional a incluir este caso no processo relativo aos crimes de guerra cometidos por Israel contra o povo palestiniano nos territórios ocupados. Para denunciar «o crime que levou à morte» de Khader Adnan numa prisão israelita, foi declarada, esta terça-feira, uma greve geral que «afecta todos os aspectos da vida», tanto na Faixa de Gaza cercada como na Margem Ocidental ocupada, incluindo Jerusalém Oriental, indica a Wafa. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Em relatórios anteriores, a SPP lembrou que esta política visa «esmagar os activistas políticos palestinianos» e se baseia num ficheiro secreto não acessível aos presos – nem sequer aos seus advogados. Alguns prisioneiros palestinianos passaram mais de uma década nas cadeias israelitas ao abrigo deste sistema, e é comum os presos recorrerem a greves de fome por tempo indeterminado como forma de chamar a atenção para os seus casos e fazer pressão junto das autoridades israelitas para que os libertem. A 2 de Maio último, Khader Adnan, de 44 anos, morreu na cadeia, quase três meses depois de ter iniciado uma greve de fome contra a sua detenção sem acusação ou julgamento. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Num comunicado de imprensa, que a Wafa cita, a Comissão exigiu «acção real e tangível, no sentido de formar um comité internacional de direitos humanos que vá imediatamente às prisões da ocupação israelita, analise o crime [de detenção administrativa] em todos os seus detalhes e observe de perto o sofrimento dos detidos administrativos, que estão presos sem quaisquer acusações ou julgamentos, e vivem à mercê dos chamados oficiais dos serviços de inteligência israelitas». «Os abusos imorais e desumanos associados à utilização desta política pela potência ocupante violam todos os princípios do direito internacional e da humanidade, e estão em contradição real com os teóricos da democracia e aqueles que afirmam ser democráticos em todo o mundo, especialmente na América e na Europa», acrescenta a nota. De acordo com os dados divulgados em Junho último pela organização israelita de defesa dos direitos B'Tselem, em Março deste ano, Israel mantinha nas suas prisões 1017 pessoas em regime de detenção administrativa. É preciso recuar duas décadas, até Abril de 2003, para encontrar um número mais elevado de detidos administrativos nas prisões israelitas – 1140 –, referiu a organização. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. «De acordo com a lei militar que se aplica na Cisjordânia, uma pessoa pode ser detida administrativamente durante seis meses, mas a ordem pode ser renovada, pelo que a reclusão na prática é indefinida e os detidos nunca sabem quando serão libertados», alertou a B'Tselem, outra organização israelita de defesa dos direitos humanos nos territórios ocupados. De forma sistemática, presos administrativos entram em greve de fome por tempo indeterminado para chamar a atenção para os seus casos e forçar a sua libertação. Em meados de Agosto, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos pediu à chamada comunidade internacional que quebre o silêncio em torno do «crime israelita da detenção administrativa». Num comunicado de imprensa, divulgado pela Wafa, a Comissão exigiu «acção real e tangível, no sentido de formar um comité internacional de direitos humanos que vá imediatamente às prisões da ocupação israelita, analise o crime [de detenção administrativa] em todos os seus detalhes e observe de perto o sofrimento dos detidos administrativos, que estão presos sem quaisquer acusações ou julgamentos, e vivem à mercê dos chamados oficiais dos serviços de inteligência israelitas». «Os abusos imorais e desumanos associados à utilização desta política pela potência ocupante violam todos os princípios do direito internacional e da humanidade, e estão em contradição real com os teóricos da democracia e aqueles que afirmam ser democráticos em todo o mundo, especialmente na América e na Europa», afirmou o organismo. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Desde 28 de Setembro de 2000 até à data, refere a Comissão, foram detidas mais de 2600 raparigas e mulheres, incluindo quatro que deram à luz na cadeia. No mesmo período, foram emitidas 32 mil ordens de detenção administrativa, a que Israel recorre para manter reclusos nas cadeias sem acusação nem julgamento, com base numa «prova secreta» que nem o advogado do detido pode ver. A Comissão registou um aumento «assinalável» no recurso a este regime, amplamente condenado a nível internacional, contra o qual os presos palestinianos protestam, de forma reiterada, entrando em greve de fome por tempo indeterminado, para exigir a sua libertação e o fim da aplicação da política de detenção referida. «De acordo com a lei militar que se aplica na Cisjordânia, uma pessoa pode ser detida administrativamente durante seis meses, mas a ordem pode ser renovada, pelo que a reclusão na prática é indefinida e os detidos nunca sabem quando serão libertados», alertou recentemente a B'Tselem, uma organização israelita de defesa dos direitos humanos nos territórios ocupados. Uma comissão da ONU reafirmou denúncias expostas em vários relatórios sobre detenções de menores palestinianos por Israel – quase sempre presos de noite, algemados e vendados. É o início da «viagem ao inferno». A instância, composta por especialistas independentes das Nações Unidas, expressou particular preocupação pela expansão dos colonatos e o aumento da violência dos colonos israelitas, em que se incluem ataques a crianças e às suas escolas. Segundo se pode ler no portal oficial de notícias da ONU, na semana passada diversas organizações informaram a comissão sobre as operações nocturnas levadas a efeito pelas forças israelitas com o propósito de deter crianças e adolescentes na Cisjordânia ocupada, com «graves consequências para o seu bem-estar e gozo dos seus direitos». «Mais de 300 crianças estão detidas no sistema militar israelita. A maioria por delitos menores, como atirar pedras e publicações nas redes sociais», assinala a comissão, que denuncia o facto de os menores serem «levados para locais desconhecidos, presos em viaturas militares e sujeitos a ameaças e abusos verbais», bem como o facto de, por vezes, serem «obrigados a assinar confissões em hebraico, uma língua que não costumam entender». Estas preocupações reafirmam as que têm sido veiculadas, ao longo do tempo, por várias entidades, nomeadamente a Comissão dos Prisioneiros Palestinianos, órgão dependente da Autoridade Palestiniana que, em diversas ocasiões (também este ano), alertou para o facto de os menores serem torturados e sofrerem abusos nos cárceres israelitas, bem como para o facto de serem espancados, insultados e pressionados no momento da detenção. No final de Março, um relatório publicado pelo Ministério palestiniano da Informação denunciava também esta realidade, afirmando que «95% das crianças palestinianas presas pelas autoridades israelitas foram torturadas durante a detenção». De acordo com o relatório, até 2015 foram documentadas anualmente 700 detenções de menores palestinianos. Já em 2017, Israel prendeu 1467 crianças e adolescentes; 1063 no ano seguinte e, nos dois primeiros dois meses deste ano, 118. Entre 2000 e 2018, foram presos mais de 16 mil menores. Numa peça intitulada «“Endless Trip to Hell”: Israel Jails Hundreds of Palestinian Boys a Year. These Are Their Testimonies», publicada em Março e plenamente actual, o periódico israelita Haaretz aborda esta realidade, em que as crianças, algumas com idades inferiores a 13 anos, «são detidas pela calada da noite, vendadas e algemadas, alvo de abusos e constrangidas» a confessar «crimes» que não cometeram. A peça, que reúne testemunhos de sete jovens da Margem Ocidental ocupada com idades compreendidas entre os dez e os 15 anos, revela as diversas fases do processo de detenção, que começa nas operações nocturnas e passa pelo interrogatório, a prisão, o julgamento e a proposta de um acordo. Na sua maioria, os jovens são presos por, alegadamente, terem atirado pedras ou queimado pneus, mas, como sublinha a advogada Farah Bayadsi o objectivo das detenções «é mais para mostrar controlo do que para aplicar a lei». A experiência traumática é fundamentada por tudo aquilo por que as crianças passam durante uma detenção. Arrancadas de casa quando dormem, são algemadas e vendadas, levadas em veículos militares para colonatos e bases israelitas, passando por todo um processo que envolve intimidação, ameaças, agressões físicas, afastamento da família e pressão para «confessar». O nível de brutalidade varia. Khaled Mahmoud Selvi, preso quando tinha 15 anos, foi levado para a prisão e despido (o que, de acordo com o jornal, ocorre em 55% dos casos), tendo sido obrigado a permanecer dez minutos nu, em pé, durante o Inverno. De acordo com os dados recolhidos pela organização não governamental (ONG) British-Palestinian Military Court Watch, 97% dos jovens palestinianos detidos pelas forças militares israelitas (IDF) vivem em pequenas localidades a menos de dois quilómetros de um colonato. O advogado Gerard Horton, da ONG referida, afirma que a ideia é «assustar toda a aldeia» e que se trata de um «instrumento eficaz» para controlar uma comunidade. Acrescenta que, do ponto de vista dos ocupantes e opressores, a pressão «tem de ser constante»: «Cada geração tem de sentir a mão pesada das IDF.» A experiência é traumática. O pai de Khaled Shtaiwi, preso com 13 anos em Novembro do ano passado, contou ao periódico que criou na sua aldeia o «dia da psicologia», porque o seu filho não é capaz de falar sobre o que se passou e porque quer ajudar todas as crianças que foram presas pelos israelitas. Em Beit Ummar, Omar Ayyash foi preso com dez anos de idade, em Dezembro último. Agora, as crianças que brincam nas ruas da aldeia afastam-se assim que se apercebem da aproximação de soldados israelitas. Tornou-se um hábito desde que as tropas levaram Omar. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. No relatório agora publicado, a Comissão dos Assuntos dos Presos e ex-Presos Palestinianos refere-se ainda ao recurso à tortura nos cárceres israelitas, bem como aos assassinatos e às «execuções lentas» por falta de cuidados médicos. Denuncia igualmente a «escalada de casos de opressão, abuso e incitação racista» contra os presos palestinianos. De acordo com o organismo, estão actualmente detidos em cadeias israelitas, nos territórios ocupados em 1948, cerca de 5200 palestinianos. Destes, 38 são mulheres e 170 são menores de idade. Há ainda mais de 1250 presos palestinianos em regime de detenção administrativa e 700 reclusos doentes, 24 dos quais com enfermidades oncológicas. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Num comunicado posterior, as Brigadas al-Qassam afirmaram ter capturado «mais de 35 soldados e civis israelitas do colonato sionista de Sderot». A operação desta manhã apanhou de surpresa o Exército da ocupação, o que está a valer múltiplas críticas ao governo de Netanyahu, em Israel. Entretanto, foi declarado o «estado de preparação para a guerra» entre as forças militares israelitas, e o ministro da Defesa, que aprovou o recrutamento de soldados na reserva, declarou o estado de emergência numa faixa de 80 quilómetros em redor da Faixa de Gaza. A agência Wafa já deu conta de bombardeamentos israelitas contra o enclave costeiro nas últimas horas, dos quais resultaram vários mortos. A mesma fonte refere que o Ministério palestiniano da Saúde colocou todas as unidades hospitalares do país em situação de emergência. De acordo com as autoridades de saúde no enclave costeiro, pelo menos 198 pessoas morreram e mais de 1600 ficaram feridas (muitas das quais em estado grave) como consequência dos bombardeamentos israelitas contra a Faixa e Gaza ao longo do dia, refere a Wafa, em retaliação contra o ataque da resistência palestiniana, esta manhã. Por seu lado, a agência Prensa Latina refere-se à morte de uma centena de israelitas e cerca de 900 feridos, no contexto da operação de grande escala da resistência palestiniana, que ocupou diversas localidades e bases militares da ocupação próximas do enclave cercado. Entretanto, a Wafa dá conta de vários ataques da parte de colonos e forças israelitas contra diversas localidades e bairros palestinianos na Cisjordânia e Jerusalém ocupadas, dos quais resultaram pelo menos um morto e um número indeterminado de feridos. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Israel retaliou com a «Operação Espadas de Ferro», com ataques aéreos sobre a Faixa de Gaza sitiada e, de acordo com a última contagem do Ministério da Saúde palestiniano, 313 habitantes de Gaza morreram na ofensiva, incluindo 20 crianças, enquanto outros 1990 palestinianos ficaram feridos no enclave. Do lado israelita, foram confirmadas até à manhã de hoje cerca de 300 pessoas mortas e 1864 feridas, das quais 19 estão em estado crítico, 326 em estado grave e as restantes em estado moderado ou ligeiro. No ano em que se assinalam os 75 anos da Nakba (catástrofe), «mais de cinco décadas depois de Israel ocupar militarmente a totalidade do território da Palestina histórica», o MPPM lembra que a campanha de limpeza étnica que acompanhou a formação de Israel se prolonga até hoje. «Em Gaza, de onde partiu esta acção, vivem cerca de 2,2 milhões de pessoas, descendentes dessas sucessivas vagas de limpeza étnica», alerta o movimento. Apesar de as Nações Unidas o considerarem «impróprio para sustentar a vida humana», desde 2006 que o Estado israelita impõe um «bloqueio criminoso» sobre aquele território. Uma ONG palestiniana e outra israelita acusam Israel de ter trabalhado para «branquear a verdade» sobre os crimes cometidos pelas suas tropas durante os protestos da Grande Marcha do Retorno, em Gaza. Num relatório conjunto, o Centro Palestiniano para os Direitos Humanos (PCHR), sediado em Gaza, e a organização israelita B'Tselem analisam as investigações que Israel diz ter levado a cabo na sequência da repressão exercida pelas forças israelitas sobre os manifestantes que, na Faixa de Gaza, reclamaram o direito de regresso dos refugiados a suas casas. Os protestos conhecidos como Grande Marcha do Retorno começaram a 30 de Março de 2018 e prolongaram-se por mais de um ano e meio. Pelo menos 200 palestinianos foram mortos e 13 500 ficaram feridos – seguindo os números por baixo, uma vez que outras fontes apontam para mais de 300 mortos e cerca de 18 mil feridos, várias dezenas dos quais menores. O vento e a chuva forte que se abateram esta semana sobre Gaza não impediram centenas de manifestantes de participarem, na sexta-feira, na última manifestação de 2019 da Grande Marcha do Retorno. Dezenas de palestinianos foram feridos esta sexta-feira pelas forças israelitas na Faixa de Gaza, quando participavam na 86.ª manifestação da Grande Marcha do Retorno, perto da vedação com que Israel isola o território palestino, segundo o Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente (MPPM). Vários dos participantes nas manifestações, segundo o MPPM, foram feridos por balas reais e revestidas de borracha, enquanto dezenas de outros sofreram de asfixia por efeito do gás lacrimogéneo disparado pelas forças de ocupação. Centenas de manifestantes participaram nos protestos apesar das adversas condições climatéricas. A Faixa de Gaza tem sido batida por vento e chuva forte na última semana, com as inundações a porem em risco cerca de 235 mil pessoas nas áreas mais baixas da Faixa de Gaza, segundo um relatório do Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA) no território palestiniano ocupado. A 30 de Março os palestinianos comemoram o Dia da Terra. Nesse dia, em 1976, no Norte de Israel, foram assassinados seis palestinianos que protestavam contra a expropriação de terras para dar lugar a aldeamentos judaicos. Cerca de 100 outras pessoas ficaram feridas e centenas foram presas durante a greve geral e as grandes manifestações de protesto que, no mesmo dia, ocorreram no território do Estado de Israel. A 30 de Março de 2018 a comemoração atingiu uma dimensão inusitada, ao tornar a celebração deste dia como o primeiro de uma «Grande Marcha do Retorno», uma reclamação do direito de regresso dos refugiados aos seus lares – tal como prescreve a resolução 194 das Nações Unidas – à Palestina histórica, de onde mais de 700 mil pessoas foram expulsas pelas tropas israelitas em 1948, durante a chamada «catástrofe» («Nakba», em árabe). Desde então o protesto repete-se semanalmente, violentamente reprimido pelas forças israelitas, incluindo com o recurso a snipers e fogo real directo. Como resultado, pelo menos 348 palestinos foram mortos em Gaza por fogo israelita desde o início das marchas, a maioria deles durante as manifestações, segundo uma contagem da AFP citada pelo MPPM. Para além disso, o Ministério da Saúde de Gaza regista mais de 18 mil feridos pelas forças repressivas sionistas. Entre as baixas contam-se crianças, mulheres, muitos adolescentes, jornalistas e trabalhadores dos serviços de saúde que tentam socorrer os manifestantes. Em Março, uma missão de averiguação da ONU concluiu que as forças israelitas cometeram violações de direitos humanos na repressão dos manifestantes em Gaza, o que pode constituir crimes de guerra. Os organizadores da Grande Marcha do Retorno anunciaram nesta quinta-feira que os protestos seriam suspensos até Março de 2020, altura em que serão retomados, coincidindo com o seu segundo aniversário e também com o Dia da Terra palestina (30 de Março). A partir daí realizar-se-ão a um ritmo mensal. Além do bloqueio a que sujeita a Faixa de Gaza, na última década Israel lançou três guerras de agressão contra o pequeno território palestino e dezenas de ataques de escala mais limitada, matando milhares de pessoas e causando enormes destruições de casas e infra-estruturas. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. As duas organizações não governamentais (ONG) acusam Israel de proteger os responsáveis políticos e militares, «em vez de tomar medidas contra as pessoas que conceberam e implementaram a política ilegal de atirar a matar». Israel foi célere a anunciar que estava a investigar os protestos, sobretudo devido aos procedimentos em curso no Tribunal Penal Internacional (TPI), afirmaram as organizações numa conferência de imprensa, a que a agência WAFA faz referência. Isso deve-se ao princípio da complementaridade do TPI, ou seja, se um Estado «estiver disposto e tiver capacidade» para realizar a investigação e a efectuar, o TPI não intervém. No entanto, não basta declarar que uma investigação está a ser feita; ela tem de ser eficaz, dirigida às altas patentes responsáveis e conduzir a uma acção contra elas, sublinham, acrescentando que isso não ocorre neste caso. «As investigações conduzidas por Israel não são mais do que uma cortina de fumo erguida para proteger do TPI os funcionários responsáveis. Israel não quer e não consegue investigar as violações de direitos humanos perpetradas pelas suas forças durante os protestos da Grande Marcha de Retorno na Faixa de Gaza. Tendo isto em conta, cabe agora ao TPI garantir a responsabilização penal», disseram as duas organizações. «Estas investigações – tal como as levadas a cabo pelo sistema de aplicação da lei militar noutros casos em que soldados causaram danos aos palestinianos – fazem parte do mecanismo de branqueamento de Israel, e o seu principal objectivo continua a ser silenciar as críticas externas, para que Israel possa continuar a implementar sua política sem mudanças», lê-se no portal da B'Tselem. A mudança da embaixada norte-americana de Telavive para Jerusalém fica associada a um «Dia de Raiva» na Palestina. Na Faixa de Gaza cercada, os franco-atiradores israelitas massacram os manifestantes. Quando o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel e a intenção de mudar a Embaixada do seu país de Telavive para essa cidade, ficou claro que tal passo constituía uma declaração de apoio ao Estado de Israel e à sua política de ocupação e repressão na Palestina, nomeadamente em Jerusalém. Várias organizações têm denunciado o número crescente de ameaças em locais religiosos não-judaicos, na cidade, bem como a intensificação do plano de «judaização» de Jerusalém Oriental, com o aumento da construção de colonatos e a expulsão da população palestiniana de suas casas, que são muitas vezes demolidas. Declarada por Israel como sua capital, Jerusalém tem o estatuto, reconhecido pelas Nações Unidas, de cidade ocupada, sendo Israel a potência ocupante (desde 1967). Os palestinianos querem-na como sua capital e quem apoia a solução dos «dois estados» reconhece que o Estado da Palestina tem em Jerusalém Oriental a sua capital. Logo em Dezembro, foi generalizado o repúdio internacional pela decisão da administração norte-americana e, a 21 desse mês, materializou-se na aprovação, por esmagadora maioria, na Assembleia Geral das Nações Unidas, de uma resolução que rejeita essa decisão e insta todos os estados-membros a não estabelecerem missões diplomáticas em Jerusalém, de acordo com a resolução 478 do Conselho de Segurança, de 1980. Esse repúdio face ao reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel também se fez sentir no interior de Israel, onde académicos, antigos embaixadores e defensores da paz enviaram uma carta a um representante de Trump, seguntou reportou o periódico Haaretz. Inicialmente, não ficou explícito que a concretização da mudança da Embaixada dos EUA para Jerusalém estaria associada ao 70.º aniversário da criação do Estado de Israel, que hoje se assinala, e que teria lugar na véspera da Nakba – a limpeza étnica levada a cabo pelas forças sionistas e pelo Estado de Israel, em que mais de 750 mil palestinianos foram expulsos das suas casas e terras –, uma «catástrofe» que todos os anos os palestinianos marcam a 15 de Maio. Na visita que efectuou em Janeiro a Israel, o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, afirmou que essa mudança deveria ocorrer no final de 2019. No entanto, a 23 de Fevereiro, o Departamento de Estado anunciou a antecipação da mudança para 14 de Maio, o que foi encarado pelos palestinianos como mais uma acção de «provocação». Em protesto contra a mudança da Embaixada dos EUA para Jerusalém, os palestinianos chamaram «Dia de Raiva» a este 14 de Maio. Nos territórios ocupados da Cisjordância, há notícia de mobilizações pelo menos em Ramallah e Hebron. Mas a grande mobilização está a ter lugar na Faixa de Gaza cercada, junto às vedações que enclausuram perto de 2 milhões de palestinianos – 80% dos quais são descendentes de refugiados – no pequeno enclave. De acordo com a PressTV, as forças militares israelitas, que reforçaram a sua presença tanto em redor de Gaza como na Margem Ocidental ocupada –, esperavam que 100 mil pessoas se manifestassem nos pontos habituais, hoje, dia da mudança da Embaixada norte-americana para Jerusalém. «os palestinianos querem mandar a mensagem de que não se adaptaram nem se vão adaptar à condição de refugiados» Sobre o culminar dos protestos pacíficos da Grande Marcha do Retorno, que se iniciaram a 30 de Março, o ministro israelita da Educação, Naftali Bennet, do partido de extrema-direita Lar Judaico, disse a uma rádio israelita que a vedação seria encarada como uma «Muralha de Ferro» e que quem se aproximasse dela seria tratado como um «terrorista», refere a PressTV. A mesma fonte indica ainda que a Força Aérea israelita lançou panfletos sobre a Faixa de Gaza, ontem e hoje, para demover os manifestantes de se aproximarem da vedação, mas sem sucesso, já que estes, segundo refere a Al Jazeera, têm estado a tentar atravessá-la, «defendendo o seu direito ao regresso, ao retorno, aconteça o que acontecer». Um membro do comité organizador da Grande Marcha do Retorno disse à Al Jazeera que, ao tentarem atravessar a vedação, «os palestinianos querem mandar a mensagem de que não se adaptaram nem se vão adaptar à condição de refugiados». Os franco-atiradores responderam de forma brutal, matando mais de quatro dezenas de pessoas que se manifestavam perto da vedação e ferindo perto de 2000, até ao momento. De acordo com a organização, os protestos de hoje e os que estão previstos para amanhã – dia da Nakba – devem ser os mais massivos, sendo o ponto culminante das sete semanas de mobilizações, fortemente reprimidas pelas forças israelitas, junto à vedação com a Faixa de Gaza. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Apesar dos milhares de feridos palestinianos resultantes da política de «atirar a matar» e de mais de centena e meia ter ficado sem membros inferiores ou superiores – as tropas israelitas usaram balas explosivas, as chamadas butterfly bullets, que se expandem no contacto com o corpo, provocando danos severos nos tecidos, nos ossos, nas veias –, nenhum destes casos foi investigado. Sem explicação, os militares decidiram investigar apenas os casos em que palestinianos foram mortos. Dos 234 casos recebidos pelos procuradores do Exército, foi completa a revisão de 143 e um deles, o da morte do adolescente Othman Hiles, de 14 anos, levou à condenação de um soldado por «abuso de autoridade ao ponto de pôr em risco a vida e a saúde». Foi condenado a um mês de serviço comunitário. No seu portal, a B'Tselem sublinha que «a conduta de Israel respeitante à investigação dos protestos em Gaza não é nova nem surpreendente», e recorda o que se passou depois da Operação Chumbo Fundido, em 2009, e da Operação Margem Protectora, em 2014. «Então, também, Israel desrespeitou o direito internacional, recusou-se a reformar a sua política apesar dos resultados letais e desviou as críticas prometendo investigar a sua conduta. Então, também, nada resultou dessa promessa», afirma. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Por outro lado, entre Março de 2018 e Dezembro de 2019, uma série de manifestações pacíficas designadas Grande Marcha do Retorno foram brutalmente reprimidas pelo exército de Israel, contabilizando-se 223 mortos e mais de nove mil feridos, sob o silêncio da comunidade internacional. «Os assaltos das forças de ocupação israelita às povoações e campos de refugiados palestinos, assim como a violência dos colonos e as prisões arbitrárias são o quotidiano com que os palestinos, homens e mulheres, jovens e menos jovens diariamente se confrontam», lembra o MPPM, salientando que, até este sábado, pelo menos 247 palestinianos, sobretudo jovens, foram mortos pelas forças israelitas e por colonos. Neste sentido, insiste que a paz no Médio Oriente e a solução da questão palestiniana «passam necessariamente por um desenlace que respeite os direitos inalienáveis» do povo palestiniano a uma pátria livre e independente, incluindo o direito de regresso dos refugiados. O MPPM rejeita os «lamentos» daqueles que «hipocritamente condenam as acções violentas de resistência dos oprimidos e se calam desde há décadas (ou pior, colaboram) perante a violência da ocupação», e entre os quais se encontra o Governo português. «Israel tem o direito de se defender. Estes ataques nada resolverão, contribuindo apenas para piorar a situação na região. Estamos solidários com Israel e oferecemos condolências pelas vítimas.», disse o ministro João Gomes Cravinho, este sábado, na rede social X. O governo palestiniano denunciou junto da ONU o assassinato de 44 menores, este ano, por soldados israelitas. Neste contexto, reclamou protecção para a infância e a responsabilização de Telavive. Numa carta enviada esta segunda-feira ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, o Ministério palestiniano dos Negócios Estrangeiros pediu protecção especial urgente para as crianças palestinianas, informa a agência Wafa. Mahmoud Samoudi, de 12 anos, foi, ontem, a vítima mortal mais recente das forças israelitas, não resistindo aos ferimentos quase duas semanas depois de ter sido atingido por uma bala no abdómen, durante uma operação militar na cidade de Jenin (Norte da Cisjordânia ocupada). Só nos últimos dias, «Israel, a potência ocupante, matou cinco crianças e jovens palestinianos, incluindo Adel Adel Daud (14 anos), Mahdi Ladadwa (17), Mahmoud Sous (17), Fayez Khaled Damdoum (17) e Ahmad Draghmeh (19)», indica o texto das autoridades palestinianas. Até 10 de Dezembro, 86 crianças foram mortas nos territórios ocupados da Palestina, fazendo de 2021 o ano mais mortífero para elas desde 2014, segundo os registos de uma organização não governamental. As forças israelitas mataram 76 crianças palestinianas este ano – 61 na Faixa de Gaza cercada e 15 na Cisjordânia ocupada, incluindo Jerusalém Oriental. Civis israelitas armados mataram duas crianças palestinianas na Cisjordânia, revela o relatório agora publicado pela Defense for Children International – Palestine (DCIP). A estas 78 crianças juntam-se sete que foram mortas por foguetes disparados incorrectamente por grupos armados palestinianos na Faixa de Gaza, e uma outra que foi morta por uma munição não detonada, cujas origens a ONG não conseguiu determinar. «Nos termos do direito internacional, a força letal intencional só se justifica em circunstâncias em que esteja presente uma ameaça directa à vida ou de ferimentos graves. No entanto, investigações e provas recolhidas pelo DCIP sugerem que as forças israelitas utilizam regularmente força letal contra crianças palestinianas em circunstâncias que podem equivaler a execuções extrajudiciais ou intencionais», lê-se relatório, traduzido pelo Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente – MPPM. Durante os 11 dias do ataque militar israelita à Faixa de Gaza, em Maio de 2021, naquilo que ficou conhecido como Operação Guardião dos Muros, as forças israelitas mataram 60 crianças palestinianas, segundo os dados recolhidos pela DCIP. «Aviões de guerra israelitas e drones armados bombardearam áreas civis densamente povoadas, matando crianças palestinianas que dormiam nas suas camas, brincavam nos seus bairros, faziam compras nas lojas perto das suas casas e celebravam o Eid al-Fitr [festa no fim do Ramadão] com as suas famílias», disse Ayed Abu Eqtaish, director do programa de responsabilização da DCIP. «A falta de vontade política da comunidade internacional para responsabilizar os funcionários israelitas garante que os soldados israelitas continuarão a matar ilegalmente crianças palestinianas com impunidade», acrescentou. A DCIP lembra que o direito humanitário internacional proíbe ataques indiscriminados e desproporcionados, e exige que todas as partes num conflito armado façam a distinção entre alvos militares, civis e objectos civis. O pico mais recente de assassinatos de crianças ocorrera em 2018, quando forças israelitas e colonos mataram crianças palestinianas a um ritmo médio superior a uma por semana (57). A maioria dessas mortes ocorreu durante os protestos da Marcha do Retorno, na Faixa de Gaza, refere o organismo. De acordo com os dados da DCIP, foram mortas 2196 crianças palestinianas, desde 2000, em resultado da presença de militares e de colonos israelitas nos territórios ocupados da Palestina. A Defense for Children International – Palestine é uma das seis organizações de direitos humanos que Israel pretende silenciar, lembra o MPPM, sublinhando que a medida tem merecido a condenação generalizada a nível internacional e foi denunciada pelo MPPM a 29 de Outubro último. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. A carta afirma que as forças de ocupação estão a utilizar «a política infame de atirar a matar» – de que resultou a morte de centenas de crianças palestinianas –, ao apontarem «deliberadamente» para a parte superior dos seus corpos. «Israel dispara deliberadamente contra os menores palestinianos com o objectivo declarado de os matar e mutilar, negando-lhes o direito à vida», lê-se no texto, sublinhando que «as crianças jamais devem ser mortas ou mutiladas», bem como a necessidade de medidas urgentes para as proteger da «escalada dos crimes israelitas». Neste sentido, o governo palestiniano exigiu medidas contra Telavive, destacando que as «evidências dos seus crimes crescentes contra as crianças palestinianas são, sem dúvida alguma, esmagadoras», violando o direito internacional e as resoluções que constituem a base da protecção das crianças nos conflitos armados. «A protecção das crianças é a maior obrigação moral, legal e política da humanidade», frisa o documento, no qual se pede à comunidade internacional que «ponha fim a este pesadelo intolerável que as nossas crianças vivem diariamente» e que tome medidas para responsabilizar Israel «pelos seus crimes horrendos». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. «Os que há décadas convivem com a ausência de qualquer real processo político conducente a uma solução que respeite os direitos do povo palestino, não têm autoridade moral para hoje se queixarem das tempestades que provocaram», defende o MPPM. Certo de que a violência poderá alastrar-se a todo o Médio Oriente, o movimento recorda que Israel, «com o apoio dos países "ocidentais" e em primeiro lugar dos Estados Unidos da América», é a maior potência militar da região e a única a dispor de armas nucleares. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Em simultâneo, revela a Wafa, têm-se registado múltiplas agressões e raides, da parte de colonos e forças istraelitas, na Margem Ocidental ocupada. Pelo menos cinco palestinianos foram ali mortos nas últimas 24 horas, em vários pontos do território ocupado. A operação israelita de larga escala segue-se à operação, lançada no sábado de manhã, por forças da resistência palestiniana na Faixa de Gaza, onde o Hamas é o elemento predominante. Segundo foi revelado então, a ala militar do Hamas lançou pelo menos 5000 rockets para aquilo que é hoje Israel. As forças da resistência derrubaram, em vários pontos, a vedação que cerca o território e atacaram os colonatos em redor por terra, mar e ar. Pelo menos 700 israelitas foram mortos nessa operação que alguma imprensa israelita classificou como «nunca vista» e mais de cem foram feitos prisioneiros, incluindo militares de alta patente. No domínio político-mediático da «comunidade internacional», o mundo predominantemente ocidental e branco, as vozes sobre «A Guerra» (só havia uma e mais nenhuma: a da Ucrânia) silenciaram-se e, nas fachadas das praças de capitais como Nova Iorque, Berlim ou Bruxelas, as bandeiras da Ucrânia foram substituídas pelas de Israel. Desde o Mandato Britânico que os palestinianos são sujeitos à opressão, que se intensificou com a construção, nas suas terras, do Estado de Israel, erguido à custa das forças paramilitares que expulsaram os palestinianos de suas casas e os mataram ou meteram em guetos. A campanha de limpeza étnica então iniciada mantém-se até hoje, sob um regime de apartheid, por via do saque de territórios e de recursos, a destruição de casas, escolas e outras infra-estruturas, e a expulsão dos palestinianos das terras onde vivem. De forma sistemática, as forças israelitas bombardeiam a Faixa de Gaza, que mantêm fechada e cercada num férreo bloqueio, com mais de dois milhões de pessoas a viver em condições insalubres, sem luz, água potável, mas «a comunidade internacional» projecta as suas bandeiras nos edifícios das suas praças quando a Palestina – reduzida ao Hamas – se ergue e rompe o cerco. Entretanto, no enorme campo de deslocados que é Gaza, cerca de 70 mil pessoas procuraram refúgio dos bombardeamentos nas 64 escolas operadas pela UNRWA – a agência da ONU para os refugiados palestinianos no Médio Oriente. Em comunicado, a UNRWA confirmou que dois alunos em escolas que opera em Khan Younis e Beit Hanoun se encontram entre os mortos. Pelo menos três escolas da organização sofreram danos provocados pelos bombardeamentos, acrescenta o texto. A UNRWA sublinhou que os civis devem ser sempre protegidos, também em período de guerra, e apelou a um cessar-fogo imediato e ao fim da violência em todo o lado. A operação das forças da resistência em território israelita continua. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Foram muitas décadas em que a União Europeia, incluindo o Governo português, toleraram a quotidiana violação por Israel de inúmeras resoluções da ONU, do direito internacional e do direito internacional humanitário, pactuando com a ausência de qualquer real processo político conducente a uma solução que respeite os direitos destas populações. Quem pactuou com estes crimes não tem, hoje, «autoridade moral para se queixarem das tempestades que provocaram», acrescenta o MPPM. Por todos estes motivos, o MPPM e a CGTP-IN, ao lado do Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC) decidiram convocar o acto público de solidariedade com o povo palestino (11 de Outubro, às 18h, na Praça do Martim Moniz), «pelo seu direito a resistir à ocupação, pelo reconhecimento dos seus direitos inalienáveis a uma pátria livre, independente e soberana, pelo direito de regresso dos refugiados, e também por uma paz justa e duradoura no Médio Oriente». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Entretanto, o portal The Cradle refere que a passagem fronteiriça de Rafah entre a Faixa de Gaza e o Egipto foi bombardeada duas vezes pela aviação israelita, de modo «a tornar impossível a entrega de qualquer ajuda humanitária» e a colocar em efeito o «cerco total» que o ministro israelita da Defesa, Yoav Gallant, havia anunciado, quando disse que estavam «a lutar contra animais e a agir em consonância». A mesma fonte indica que mais de mil israelitas foram mortos e cerca de 130 foram feitos prisioneiros e levados para Gaza na ofensiva palestiniana iniciada no sábado. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Entretanto, o Comité para a Protecção dos Jornalistas (CPJ) emitiu um comunicado em que dá conta do desaparecimento, desde sábado, dos jornalistas palestinianos Nidal al-Wahidi e Haitham Abdelwahid. Eram ambos fotógrafos e trabalhavam para diversos meios de comunicação. Israel tem um longo historial de assassinato de jornalistas palestinianos que cobrem as atrocidades cometidas pelas suas forças nos territórios ocupados. De acordo com um relatório emitido pelo CPJ em Maio último, as forças israelitas mataram pelo menos 20 jornalistas nos últimos 22 anos – 18 dos quais palestinianos. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. A acção denunciou décadas de regime militar de excepção, de destruição de ecossistemas, de culturas ou de qualquer outro modo de subsistência, de empobrecimento, detenção e encarceramento sem acusação nem direito a defesa, de morte, tortura e incapacitação causadas pelos bombardeamentos e pelas incursões militares de que o povo palestiniano é, sistematicamente, alvo. «Digam-nos, os que enchem a boca com os valores ocidentais, os que se deleitam com elogios sobre o nosso modo de vida, os que, impantes na sua pesporrência eurocêntrica e tantas vezes mal disfarçadamente racista, ditam lições de moral ao mundo, expliquem-nos», exigiu saber Carlos Almeida, historiador e vice-presidente do MPPM – Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente, «se a terra dos homens, é de todos os homens, acaso os palestinos não são pessoas? Não lhes cabe um quinhão neste lugar que alguém já chamou azul?». Perante as crescentes evidências de que Israel está a cometer um genocídio contra a população de Gaza, Carlos Almeida, na intervenção que dirigiu aos presentes, denunciou ainda a cumplicidade de vários dirigentes políticos e comentadores na comunicação social com o extermínio do povo da Palestina: «Que ninguém diga que não sabia. Que ninguém se esconda atrás de frases de circunstância, palavras vazias ardilosamente costuradas sobre a necessidade de Israel respeitar o direito internacional humanitário». «A guerra também tem regras, dizem», e as «democracias» nunca falham em observá-las, explicam. «Todos os que desde há uma semana repetem, como autómatos», que Israel tem o direito a defender-se a todo o custo, «todas e todos os que alucinadamente proclamam a necessidade de um banho de sangue, não importa quantas crianças morram, israelitas ou palestinas – todas e todos eles são responsáveis pelo que está a acontecer». «Que o povo palestino, que em Gaza, em Hebron ou em Jerusalém, em Nablus ou Jenin, se saiba que, do outro lado do Mediterrâneo, há um povo, autor colectivo da revolução mais bonita que o mundo conheceu, que foi capaz de derrubar o fascismo e o colonialismo, e que esse povo está solidário com a sua causa, com a sua luta». O CPPC, o MPPM e a CGTP-IN convocaram já uma nova acção para o Largo Camões, em Évora, no dia 19 de Outubro, às 18h. O manifesto «As vidas palestinianas contam! Manifesto de apoio e solidariedade com o povo palestiniano», pode ser consultado e assinado online, contando já com a subscrição de mais de três mil pessoas. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Além disso, a inspiração na «matança dos inocentes», ordenada pelo rei Herodes, pretende explorar sub-repticiamente um mero episódio bíblico fora de prazo, ocorrido há exactamente 2023 anos. Num quadro factualmente objectivo, porém, o Hamas partiu para a operação militar parecendo não ter em conta (ou se o teve é porque está deliberadamente a usar o seu povo como carne para canhão) a enorme desproporção de forças militares e militarizadas no terreno. Deste modo, descontadas as primeiras vantagens decorrentes do «factor surpresa», as acções islamitas acabaram por dar oportunidades de ouro aos sectores dominantes israelitas que defendem a violência arrasadora capaz de proporcionar uma alteração qualitativa da situação no terreno e, eventualmente, matar de vez as possibilidades de criar o Estado Palestiniano inscrito há 75 anos no direito internacional. Perante as condições proporcionadas, Israel não hesita em provocar uma vaga de terror e desespero na martirizada população de Gaza, capaz de a fazer aceitar qualquer solução que não seja a morte, destino a que parece cada vez mais condenada; além disso, para tornarem mais credível a ideia de que não hesitarão numa solução final, os militares sionistas dedicam-se à matança de palestinianos em massa numa amplitude poucas vezes ou mesmo nunca conhecida em sete décadas e meia. A limpeza étnica surge mais uma vez, aos olhos dos condenados, como um mal menor que já está em andamento. Como revela o ex-ministro israelita dos Negócios Estrangeiros, Danny Ayalon, o plano é «forçar os palestinianos a entrar no espaço quase infinito do Sinai», onde podem «viver em cidades de tendas». Enquanto os políticos ocidentais, tomados pela histeria, se embrulham em bandeiras sionistas, felizes e emocionados com o genocídio. «Num quadro factualmente objectivo, porém, o Hamas partiu para a operação militar parecendo não ter em conta (ou se o teve é porque está deliberadamente a usar o seu povo como carne para canhão) a enorme desproporção de forças militares e militarizadas no terreno.» A ideia do «esvaziamento» da Faixa de Gaza não é um objectivo novo do sionismo. Há muito tempo que se fala do projecto de «transferir» a população do território para a Península e deserto do Sinai, uma região aliás já anteriormente ocupada por Israel e devolvida ao Egipto na sequência dos acordos de Camp David. O mar de Gaza tem petróleo e gás natural; as costas mediterrânicas de Gaza prometem resorts paradisíacos para as oligarquias judaicas e afins. Na verdade, é difícil acreditar que o mais monstruoso aparelho mundial de espionagem e informações, exportando até gadgets inovadores para regimes autoritários assumidos ou maquilhados de «democratas», estivesse distraído perante os laboriosos preparativos de invasão por parte do Hamas. Como é que organizações de espionagem como as sionistas, que certamente dispõem de milhares de informadores numa população tão densa e caótica como a de Gaza, não tinham sequer uma luzinha sobre o que o Hamas estava a preparar e que não pode ter nascido de uma noite para o dia? E que dizer dos avisos que o Egipto – e parecem não ter sido os únicos – fez chegar a Israel prevenindo de que alguma coisa estava para acontecer a partir de Gaza. Distracção? Incompetência? Sonolência? Seria difícil acreditar em tantas falhas de segurança em cadeia mesmo que se tratasse de uma estrutura de amadores, quanto mais dos serviços de espionagem e informações que são habitualmente apresentados como os mais aptos do mundo. Efrat Fenigsen, ex-oficial de inteligência das tropas israelitas, escreveu em 7 de Outubro: «Servi na inteligência das FDI (Forças de Defesa de Israel) durante 25 anos. Não há possibilidade de Israel não saber o que estava para acontecer. Até um gato movendo-se na cerca accionaria todas as forças, quanto mais isto…». Fenigsen acrescenta: «esta cadeia de acontecimentos é muito incomum e não é típica do sistema israelita de defesa.» A coisa dá que pensar. A oportunidade para a operação foi oferecida de bandeja ao Hamas: nem faltou a provocação de uma multidão de colonos contra a mesquita de Al Aqsa, em Jerusalém, uma «linha vermelha» para qualquer instituição muçulmana. «Servi na inteligência das FDI (Forças de Defesa de Israel) durante 25 anos. Não há possibilidade de Israel não saber o que estava para acontecer. Até um gato movendo-se na cerca accionaria todas as forças, quanto mais isto…». Efrat Fenigsen, ex-oficial de inteligência das tropas israelitas Mas existe ainda uma pergunta por fazer: confirmando-se a impossibilidade de Israel desconhecer previamente o ataque do Hamas, o governo e as forças armadas do país aceitaram sacrificar mais de um milhar de compatriotas a um objectivo que consideram mais importante do que as suas vidas? Não adivinhamos, não conhecemos, nunca conheceremos os meandros desta conjugação de acontecimentos. Nem se a criatura escapou ao criador. Sabemos, isso sim, que está uma alteração qualitativa em andamento no processo israelo-palestiniano, que põe objectivamente em causa a instauração de um Estado Palestiniano independente e viável. É a primeira transformação de fundo, e em sentido contrário, súbita e não gradual, desde as medidas autonómicas incompletas decorrentes do «processo de paz». Está em curso uma nova etapa da Nakba (a catástrofe), a limpeza étnica dos palestinianos da Palestina iniciada em 1948; e com a cumplicidade do «mundo civilizado», aceitando placidamente o diktat sionista. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Gaza é um permanente cenário de guerra, embora o mundo pouca noção tenha disso, enquanto os governantes ocidentais, fiéis ao dogma de que Israel é um pilar do «mundo livre», a «única democracia no Médio Oriente», ignoram ostensivamente a existência dessa chaga humana. E são cúmplices da sua existência. A operação militar do Hamas contra território israelita demonstrou que Israel pode não ser imune, mas continua impune graças à cumplicidade do virtuoso «mundo ocidental». Os sinais de convulsão em todo o Médio Oriente, porém, geram agora novos tipos de interrogações tendo em conta o confronto aberto, e cada vez mais concreto, entre as ordens internacionais unipolar e multipolar. Tudo o que acontecer na região será em cenário geoestratégico renovado. Viver em Gaza era penoso quando visitei pela primeira vez o território, há 35 anos, por alturas da chamada Primeira Intifada ou revolta das pedras, na qual as populações da Palestina sob domínio militar israelita se levantaram pela primeira vez, então de maneira espontânea, contra as forças de ocupação, recorrendo ao uso de fisgas e outros utensílios rudimentares. Em pleno Inverno, os campos de refugiados, habitados pelas multidões de vítimas das limpezas étnicas sionistas de 1948 em diante, eram lamaçais pestilentos; um ano depois, em pleno Verão, verifiquei que os mesmos campos eram infernos de seca e fome, inóspitos e sofrendo de uma angustiante carência de recursos. Campos de refugiados com quase 200 mil pessoas, como o de Jabalia, são atentados contra a dignidade humana que os senhores do mundo se recusam a encarar. Sobre o estado de espírito das pessoas que foram condenadas a esses submundos apenas por existirem, vale a pena reler o herói israelita Moshe Dayan, num discurso de 1956, quando era chefe do governo: «Porque devemos deplorar o seu ódio evidente por nós?... Perante os olhos dos refugiados de Gaza temos transformado as terras e as aldeias onde eles e os seus pais viveram em propriedade nossa». Palavras com 67 anos… Provocações e agressões militares permanentes criavam um clima de medo e pressão asfixiante, a convicção de que a vida de cada um estava presa por um fio a cada instante. Ao recordar esses dias, essas impressões, é impossível esquecer a mortificação daquela mãe muito jovem que no campo de refugiados conhecido como Beach Camp acabara de enterrar a filha, uma bebé de três meses executada com um tiro na cabeça disparado por um soldado israelita. Um caso apenas – uma marca identificadora de um regime assassino. As forças armadas sionistas que participam em exercícios atlantistas são as mesmas que fazem jorrar o sangue de civis indefesos na Palestina, impedidos de escapar às suas bombas. Israel está a cometer mais um acto de apogeu da chacina a que tem vindo a submeter impunemente a população da Faixa de Gaza – e da Palestina em geral – durante as últimas décadas. Os alvos não são «os túneis do Hamas», como informa o regime sionista, mas dois milhões de pessoas que vivem enclausuradas num imenso campo de concentração do qual não podem escapar. Não se trata de um «confronto»: é uma barbárie. Algumas notas sobre o que está a passar-se. A Faixa de Gaza e a respectiva população são um alvo que Israel tem sempre à mão quando necessita de recorrer a manobras de diversão por causa da degradação política interna, como acontece no momento actual, em que se misturam a prolongada indefinição governativa, a corrupção a alto nível do regime e a polémica gestão da pandemia – por sinal, insolitamente elogiada no plano internacional. «A Faixa de Gaza e a respectiva população são um alvo que Israel tem sempre à mão quando necessita de recorrer a manobras de diversão por causa da degradação política interna, como acontece no momento actual» Os dirigentes sionistas não duvidam, nem por um instante, de que podem utilizar o instrumento da guerra contra Gaza porque sabem que a chamada comunidade internacional o permite. As instâncias internacionais, com a ONU à cabeça, e as grandes potências, com destaque para os Estados Unidos e a União Europeia, permitem tudo a Israel sem assumir uma única medida para conter a barbárie. Há mais de 70 anos que a comunidade internacional se vem dotando de instrumentos legais para fazer respeitar os direitos inalienáveis do povo palestiniano e há mais de 70 anos que eles são interpretados como letra morta. Este comportamento é um incentivo à discricionariedade de Israel; e Israel aproveita-o consoante as suas conveniências sabendo que nada de mal lhe acontecerá e nenhuma reacção irá além do apelo à «moderação» e a um «cessar-cessar entre as partes». Isto é, entre uma «parte» que pode tudo e uma «parte» que sofre tudo. Os foguetes do Hamas são irrelevantes quando comparados com o aparelho de guerra usado pelo regime sionista. A actuação da comunidade internacional na questão israelo-palestiniana é o exemplo mais flagrante da sua permanente utilização do sistema de pesos e medidas variáveis. Isolada pela comunidade internacional em geral, a Palestina conta cada vez menos com a solidariedade do chamado mundo árabe. Sob a égide da administração Trump nos Estados Unidos, países árabes como os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein juntaram-se recentemente ao Egipto na normalização das relações com Israel, o que significa abandonar a defesa dos direitos dos palestinianos. Acresce que existem, de facto, relações diplomáticas entre o Estado sionista e a Arábia Saudita, encimadas pela amizade e afinidades entre o primeiro-ministro Netanyahu e o herdeiro do trono wahabita, Mohammed Bin Salman. Uma aliança sobre os escombros da Palestina. «Há mais de 70 anos que a comunidade internacional se vem dotando de instrumentos legais para fazer respeitar os direitos inalienáveis do povo palestiniano e há mais de 70 anos que eles são interpretados como letra morta. Este comportamento é um incentivo à discricionariedade de Israel» Na prática, a solidariedade árabe nunca desempenhou um papel que permitisse a criação de um Estado palestiniano, como determinam as normas e a doutrina estabelecidas pela comunidade internacional. O reconhecimento de Israel por cada vez mais países árabes, porém, reforça a ideia de que o problema palestiniano poderá ter outras «soluções» que não sejam a criação de um Estado palestiniano independente, viável e plenamente soberano. Por outro lado, as relações entre países árabes e Israel transformam cada vez mais o Estado sionista numa entidade plenamente integrada no Médio Oriente, dando assim forma ao arranjo pretendido pelos Estados Unidos de uma região com duas potências dominantes – Israel e Arábia Saudita –, ambas viradas contra o Irão. O novo pico de guerra de Israel contra Gaza não pode desligar-se dos permanentes esforços de Israel para tentar provocar uma guerra directa contra o Irão – à qual as administrações norte-americanas ainda têm resistido. A ofensiva supostamente «contra o Hamas» – grupo que Israel liga a Teerão apesar de ser sunita e não xiita – acontece no preciso momento em que a administração Biden ainda não definiu se regressa ou não ao acordo nuclear 5+1 com o Irão. A mensagem israelita é directa: apoiando grupos activos no Médio Oriente, como o Hezbollah no Líbano e na Síria e o Hamas na Palestina, o Irão terá de ser desencorajado de o fazer. E os acordos com Teerão têm de ser invalidados. Por muito que possam vir a proclamar verbalmente o contrário, os Estados Unidos e a União Europeia estão por detrás de mais esta chacina israelita em Gaza. Se em relação a Washington não existe qualquer dúvida, tanto mais que o aparelho do Partido Democrata no poder é o que está mais sintonizado com os interesses dominantes do sionismo, poderão levantar-se reticências em relação ao papel da União Europeia. «a prática de Bruxelas e dos 27 é objectivamente favorável às atitudes assumidas por Israel, sejam elas quais forem: nada fazem para que seja concretizada a solução de dois Estados na Palestina, mantêm relações económicas e políticas preferenciais com Israel e não assumem nas instâncias internacionais qualquer posição contra as atitudes militares extremas do sionismo» O que não tem qualquer razão de ser. Apesar de algumas declarações de distanciamento, como foi o caso por ocasião da transferência da embaixada norte-americana para Jerusalém, a prática de Bruxelas e dos 27 é objectivamente favorável às atitudes assumidas por Israel, sejam elas quais forem: nada fazem para que seja concretizada a solução de dois Estados na Palestina, mantêm relações económicas e políticas preferenciais com Israel e não assumem nas instâncias internacionais qualquer posição contra as atitudes militares extremas do sionismo. Antes pelo contrário: Israel é um parceiro activo da NATO – que rege a União Europeia do ponto de vista militar – e está mesmo envolvido nos exercícios em curso na Grécia e no Mar Egeu no quadro dos jogos de guerra «Defender Europe». Isto é, as forças armadas sionistas que participam em exercícios atlantistas são as mesmas que fazem jorrar o sangue de civis indefesos na Palestina, impedidos de escapar às suas bombas. Uma aliança que dizima vidas e direitos humanos. A mensagem de Israel com esta nova operação de barbárie é directa: nada fará parar o sionismo no seu objectivo de limpar e submeter etnicamente a Palestina e de impedir qualquer tentativa, por débil que seja, de implementar a solução de dois Estados. O instrumento para concretizar esse objectivo é a colonização ininterrupta dos territórios da Cisjordânia – a par do cerco férreo a Gaza – de maneira a estender a ocupação, inviabilizar as possibilidades territoriais de instaurar um Estado e quebrar a resistência nacional palestiniana. «a operação militar sionista assumiu as já conhecidas proporções de punição colectiva. Contando, para isso, com a habitual impunidade que lhe é assegurada pelas instâncias internacionais. De facto, Israel usa o terrorismo para impor a lei do mais forte sabendo que encontrará pouca oposição e condenação nenhuma» Nas últimas semanas o regime sionista expulsou mais famílias e arrasou as suas habitações no bairro de Sheik Jarrah, em Jerusalém Leste, no quadro da «limpeza» de todos os palestinianos da cidade. Acontece que a ofensiva encontrou forte resistência da população atingida, sinal de que, apesar de isolados internacionalmente, os palestinianos não estão dispostos a abdicar dos seus direitos. Uma vez que Gaza respondeu à agressão e da Faixa de Gaza foram disparados foguetes contra território israelita, a operação militar sionista assumiu as já conhecidas proporções de punição colectiva. Contando, para isso, com a habitual impunidade que lhe é assegurada pelas instâncias internacionais. De facto, Israel usa o terrorismo para impor a lei do mais forte sabendo que encontrará pouca oposição e condenação nenhuma. A nova fase da chacina contra Gaza e da limpeza étnica da Cisjordânia é, afinal, mais um passo no sentido de um desfecho que inviabilize de vez a solução de dois Estados na Palestina. Ao mesmo tempo que este princípio vai sendo invocado como um mantra cada vez mais vazio de significado pelos que insistem em dizer-se defensores das leis internacionais e dos direitos humanos. Enquanto isto, continuam a morrer inocentes indefesos e a Nakba, o holocausto palestiniano, prossegue, dia após dia, sob os olhos e a passividade do mundo. Até ao último dos palestinianos. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Nesses anos, Gaza era ocupada militarmente de uma maneira directa, presencial, submetida a todas as sevícias inerentes à situação, desde as punições e prisões arbitrárias, rusgas a residências, tortura, ao assassínio puro e simples. Nas zonas costeiras, onde se podiam usufruir as delícias mediterrânicas, existiam colonatos nos quais escassas centenas de cidadãos israelitas oriundos das mais diferenciadas regiões do globo gozavam de vidas paradisíacas, lado-a-lado com as mais humilhantes e desumanas vastidões de miséria, repressão e tortura. Representando menos de 0,1% da população, os colonos israelitas ocupavam um terço do território. O esplendor do apartheid e da barbárie. Anos mais tarde, em 2007, na sequência do traiçoeiro «processo de paz» e porque a presença militar no território era arriscada e dispendiosa, o primeiro-ministro Ariel Sharon mandou dissolver os colonatos e envolver toda a faixa de terra por cercas de arame farpado, muros e anéis de tropas. As entradas e saídas passaram a processar-se num único posto de controlo, exclusivamente aberto aos palestinianos que, em casos de carência de mão-de-obra escrava em território israelita, conseguiam obter trabalhos episódicos desde que no final do dia regressassem a casa – através do mesmo posto de controlo e sujeitos a humilhações, por exemplo a de serem revistados em gaiolas depois de obrigados a despir-se. Gaza transformou-se assim numa gigantesca prisão a céu aberto, um campo de concentração onde penam 2,3 milhões de pessoas numa área de aproximadamente 350 quilómetros quadrados, dimensão equivalente à do pequeno concelho do Montijo, em Portugal. Onde vivem, segundo o censo de 2021, um pouco menos de 60 mil pessoas. As eleições palestinianas realizadas no âmbito do «processo de paz» de meados dos anos noventa do século passado deram ao movimento islamita Hamas o direito a governar a Faixa de Gaza em sistema de «autonomia» – de gueto, melhor dizendo –, mas submetido, de facto, à tutela militar israelita. Começava a falar-se do Hamas quando visitei Gaza em Fevereiro de 1988. E dizia-se que a acção desse grupo fundamentalista islâmico era muito bem vista, acarinhada, quiçá directamente apoiada por Israel. Nos dias de hoje podemos ir além desse «diz-que-disse». «Sabia que o Hamas foi criado por Israel?» A pergunta surpreendeu Scott Ritter, ex-alto quadro de inteligência da Marinha de guerra norte-americana. Foi formulada por um responsável do Mossad, seu «anfitrião» israelita num trabalho desenvolvido conjuntamente quando Ritter era inspector da ONU, investigando as alegadas armas de destruição massiva do Iraque de Saddam Hussein, no início deste século. «E dizia-se que a acção desse grupo fundamentalista islâmico era muito bem vista, acarinhada, quiçá directamente apoiada por Israel. Nos dias de hoje podemos ir além desse "diz-que-disse".» Em 2002, o historiador israelita Zeev Sternhell, da Universidade Hebraica de Jerusalém, escreveu: «Não esqueçamos que, de facto, foi Israel que criou o Hamas. Pensou que era uma maneira inteligente de empurrar os islamitas contra a OLP». O mote foi retomado na edição de 24 de Janeiro de 2009 do insuspeito Wall Street Journal, através de um artigo intitulado «Como Israel ajudou a gerar o Hamas». Caso ainda haja dúvidas, é altura de dar a palavra a quem mais sabe do assunto. Na edição do dia 9 deste mês de Outubro, já depois de iniciada a operação do Hamas, o jornal israelita Haaretz, de grande circulação, deu conta de uma reunião em Março de 2019 entre Benjamin Netanyahu e o grupo parlamentar do seu partido, o Likud, no Knesset (parlamento). Disse o actual primeiro-ministro, que agora promete «arrasar Gaza»: «Quem queira impedir o estabelecimento de um Estado Palestiniano tem de apoiar o fortalecimento do Hamas e a transferência de dinheiro para o Hamas. Isso faz parte da nossa estratégia – isolar os palestinianos de Gaza dos palestinianos da Cisjordânia». «Impedir o estabelecimento de um Estado Palestiniano…». Na recente reunião da Assembleia Geral da ONU, Netanyahu exibiu um mapa do «Novo Médio Oriente» do qual suprimiu totalmente a Palestina. E tentou fazer humor escarnecendo das resoluções da ONU sobre os direitos do povo palestiniano. Provavelmente saberia alguma coisa que quase todo o resto do mundo desconhece. Não será possível, portanto, olhar para os acontecimentos em curso sem ter em conta estes dados, estas declarações, que embora já não sejam segredo nas altas esferas – e certamente as da União Europeia – não chegam com facilidade ao cidadão comum porque para o aparelho mediático de intoxicação não passam de fake news, de traiçoeiras teorias da conspiração. Qualquer habilidoso fact-checker porá Netanyahu a dizer o contrário do que Netanyahu disse. «Quem queira impedir o estabelecimento de um Estado Palestiniano tem de apoiar o fortalecimento do Hamas e a transferência de dinheiro para o Hamas. Isso faz parte da nossa estratégia – isolar os palestinianos de Gaza dos palestinianos da Cisjordânia.» Benjamin Netanyahu O aparecimento do Hamas no universo plural palestiniano tornou-se rapidamente, como desejaram os seus criadores, um instrumento privilegiado para promover a divisão da resistência à ocupação e minar o papel dominante do sector secular, representado pela Organização para a Libertação da Palestina (OLP). O que não tardou a comprovar-se, em pleno desenvolvimento do primeiro Intifada. Quando a OLP convocava uma greve geral ou uma manifestação, o Hamas não aderia e convocava por si próprio uma greve geral e uma manifestação para o dia seguinte. O objectivo de dividir era evidente e servia, sem dúvida, os interesses de Israel. Enfraquecia a dinâmica do movimento popular, lançava dúvidas e animosidade, introduzia a delicada questão religiosa numa população multiconfessional, começava a socavar a solidez da resistência histórica. A dicotomia, a fissura, melhor dizendo, entre Gaza e a Cisjordânia, manipulada por Israel consoante os seus interesses, inicialmente com maior incidência sobre o Hamas, enraizou-se e ganhou mais eficácia ainda a partir do chamado «processo de paz» desencadeado pelos Acordos de Oslo de 1993. A direita israelita nunca aceitou este caminho de negociações e tudo fez para o sabotar, com apoio dos Estados Unidos, como «mediadores» e, em última instância, pela inércia ostensiva do chamado «quarteto para a paz» (Rússia, Estados Unidos, ONU e União Europeia), significativamente chefiado pelo aldrabão e criminoso de guerra Anthony Blair. Antes de assinarem os Acordos de Oslo, os dirigentes da OLP deveriam, afinal, ter lido Ben-Gurion: «Se eu fosse um dirigente árabe nunca assinaria um acordo com Israel; é natural, nós tirámos-lhes o país». A partir do momento em que Ariel Sharon e Benjamin Netanyahu reassumiram o poder em Israel, a seguir ao assassínio do primeiro-ministro trabalhista Isaac Rabin – do qual não estão inocentes devido à sua cumplicidade com os grupos de choque de colonos e milícias ortodoxas nas manifestações que culminaram com o crime – tudo mudou em relação ao «processo de paz». As manobras dilatórias das negociações tornaram-se norma e o processo estagnou numa fase de «meia autonomia» controlada pelo aparelho político e de segurança israelita. «A direita israelita nunca aceitou este caminho de negociações e tudo fez para o sabotar, com apoio dos Estados Unidos, como "mediadores", e, em última instância, pela inércia ostensiva do chamado "quarteto para a paz" (Rússia, Estados Unidos, ONU e União Europeia), significativamente chefiado pelo aldrabão e criminoso de guerra Anthony Blair.» As eleições e o processo político palestiniano delas decorrente definiu o cenário ideal para o programa divisionista de Israel: o governo da Autonomia instalado na Cisjordânia, com sede em Ramallah, nas mãos seculares da Fatah/OLP; e o Hamas islamita governando Gaza, onde obteve uma maioria esmagadora – vencendo, aliás, a consulta no conjunto da Palestina ocupada. Todas as tentativas para estabelecer um governo comum da autonomia palestiniana representando simultaneamente as duas regiões, e também Jerusalém Leste, fracassaram – excepto uma, efémera e que teve trágico fim. O mesmo aconteceu ao processo para realização de novas eleições: os mandatos políticos nas duas regiões caducaram há muito. Os palestinianos não vão às urnas desde 2007. Para todos os efeitos, a situação tornou-se propícia a uma dança de Israel com dois parceiros desavindos, jogando com as contradições destes e tirando proveito de cada uma delas. A retirada militar israelita de Gaza e a extinção dos colonatos locais em 2007, medidas tomadas pelo primeiro-ministro Ariel Sharon, foi um gesto importante em direcção do Hamas, «entregando-lhe» a Faixa de Gaza. De certa maneira um estatuto muito mais favorável que o do governo de Ramallah, da responsabilidade dos históricos OLP/Fatah, submetido à complexidade do «meio-acordo» aplicado às zonas A, B, C, que graduam a ocupação militar israelita e o seu tipo de interligação com as entidades autonómicas palestinianas. Em 2008, porém, surge uma grande crise na faixa «autónoma» de Gaza, através da operação «Chumbo Fundido», a primeira das vagas arrasadoras do território desencadeadas pelo exército israelita e que provocou milhares de mortos e feridos, destruições profundas e o agravamento das carências inerentes a uma região que já então estava cercada e transformada numa gigantesca prisão a céu aberto, com mais de dois milhões de detidos. Não é uma guerra, é um massacre de uma das partes; e o único cessar-fogo possível para a situação é o reconhecimento dos direitos do povo palestiniano estabelecidos nas leis internacionais. Enquanto o regime israelita continua a chacinar paulatinamente a população indefesa do campo de concentração em que transformou Gaza multiplicam-se os apelos ao «cessar-fogo» nesta suposta «guerra entre o Hamas e Israel», como afirma a comunicação social corporativa. É o habitual jogo de enganos que visa partilhar equitativamente responsabilidades numa situação de incomensurável desequilíbrio de forças e que pretende colocar no mesmo plano os criminosos e as vítimas. O que está a acontecer não é uma guerra, é um massacre de uma das partes; e o único cessar-fogo possível para a situação é o reconhecimento dos direitos do povo palestiniano estabelecidos nas leis internacionais. Tudo o resto significa o arrastamento da situação e o extermínio de um povo. «A colonização conduz, ninguém o duvide, à criação de uma situação no terreno que inviabiliza totalmente a criação do Estado Palestiniano, porque deixa de haver território para isso; entretanto, os bem-intencionados deste mundo, como os chefes da União Europeia, forçados a dizer qualquer coisa quando as imagens de extermínio não podem ser escondidas, continuam a falar em “solução de dois Estados para a Palestina”» O chefe do governo de Portugal, a exemplo de outros colegas europeus, diz que é necessária a paragem dos ataques de Israel. Belas palavras. E depois? «Para que possamos regressar a um ponto onde o caminho para a paz seja possível», assegura Costa. Palavras muito bem-intencionadas também, reproduzidas de um texto da agência Lusa onde se lê que «existe uma escalada de violência entre israelitas e palestinianos». Qual «caminho para a paz»? O conduzido pelo «Quarteto» chefiado pelo aldrabão profissional Anthony Blair e de que fazem parte a Rússia – manietada pelo veto norte-americano no Conselho de Segurança e por muitas e evidentes cumplicidades com Israel – a complacente União Europeia, o seu aliado norte-americano, cúmplice objectivo do crime no mínimo através do Conselho de Segurança, e também a ONU, entidade que, a reboque de Washington, cultiva a guerra para que dela floresça a paz? Ora este «caminho para a paz», quase sempre «arbitrado» pelos Estados Unidos, aliado da parte agressora, está barrado há muito por acção de Israel, que acusa o lado palestiniano de não ceder às suas exigências de rendição total. Enquanto continua a falar-se de «processo de paz» para que nada de pacífico aconteça, Israel tem recorrido a todos os métodos para inviabilizar uma solução compatível com o direito internacional, isto é, através da criação de um Estado Palestiniano viável, soberano e pleno. O mecanismo mais utilizado e mais eficaz – porque pode ser aplicado sem operações militares que dêem muito nas vistas, sob o silêncio da comunicação social dominante – é o da colonização dos territórios palestinianos ocupados através de uma gradual limpeza étnica com expulsão das populações, destruição de casas, roubo de terrenos, edificação de muros e até prosaicos actos de banditismo como a destruição de colheitas agrícolas. Enfim, a institucionalização de um sistema de apartheid. «Quando um dirigente político, seja ele qual for, fala em necessidade de “cessar-fogo” para regresso ao “caminho da paz” e não formula mecanismos e medidas que permitam à chamada comunidade internacional impor efectivamente a solução de dois Estados, está a ser cúmplice do comportamento criminoso do Estado de Israel. E a participar, no mínimo por omissão, num processo genocida» A colonização conduz, ninguém o duvide, à criação de uma situação no terreno que inviabiliza totalmente a criação do Estado Palestiniano, porque deixa de haver território para isso; entretanto, os bem-intencionados deste mundo, como os chefes da União Europeia, forçados a dizer qualquer coisa quando as imagens de extermínio não podem ser escondidas, continuam a falar em «solução de dois Estados para a Palestina» sabendo perfeitamente – como não pode deixar de ser – que está a ser percorrido não «um caminho para a paz» mas uma via para liquidar o objectivo inscrito no próprio «processo de paz». A guerra que existe é verdadeiramente esta: a do regime sionista contra o povo palestiniano pela liquidação total dos seus direitos, se necessário através do extermínio físico. Quando um dirigente político, seja ele qual for, fala em necessidade de «cessar-fogo» para regresso ao «caminho da paz» e não formula mecanismos e medidas que permitam à chamada comunidade internacional impor efectivamente a solução de dois Estados, está a ser cúmplice do comportamento criminoso do Estado de Israel. E a participar, no mínimo por omissão, num processo genocida. Num caso destes até o silêncio seria mais honesto. Acompanhando os ecos da comunicação corporativa sobre «a guerra entre o Hamas e Israel» ou a «escalada de violência entre israelitas e palestinianos» percebe-se que o conceito de «cessar-fogo» implícito é o da paragem dos bombardeamentos contra Gaza e também do lançamento de foguetes a partir da faixa cercada. Foguetes esses que são, na verdade, os únicos instrumentos através dos quais – perante a imobilidade internacional – sectores palestinianos fazem sentir a Israel que, apesar de tudo, não está completamente impune. Fisgas contra tanques ou foguetes contra tecnologia de guerra de última geração: estamos perante afirmações possíveis de existência e de resistência; nada que se pareça com um confronto entre dois exércitos. Sendo certo que cada vida perdida é uma vítima inútil de uma situação que as forças dominantes teimam em não resolver, a não ser através da aniquilação da outra parte, o cenário mediaticamente instituído de um falso equilíbrio permite-nos perceber até que ponto a comunicação social corporativa se deixou contaminar pelo conceito xenófobo cultivado pelo sionismo quanto à diferença de valor entre as vidas de cidadãos israelitas e árabes. «Se, por exemplo, os dirigentes da União Europeia – ainda que incomodando a administração Biden – experimentassem suspender as relações económicas e militares com Israel até que este país abrisse comprovadamente as portas à solução de dois Estados, talvez o cenário se alterasse. Afinal, suspender relações económicas e impor sanções a países terceiros já não constitui qualquer novidade para a União Europeia, predisposta assim a sofrer as respectivas consequências» A guerra de Israel contra os palestinianos iniciou-se muito antes desta nova fase da barbárie contra Gaza, há mais de setenta anos, e irá prosseguir se o «cessar-fogo» determinar apenas que se calem agora as armas e não for além disso, impondo a Israel medidas completas para que se cumpra de uma forma viável e com um conteúdo plenamente soberano a solução de dois Estados na Palestina. Caso contrário, o fim da actual ofensiva contra Gaza significará a continuação da colonização, do cerco contra a pequena e sobrelotada faixa, da limpeza étnica, das expulsões em Sheik Jarrah e, uma após outra, em todas as comunidades palestinianas de Jerusalém ou da Cisjordânia. Até ao próximo ataque contra Gaza se os palestinianos ousarem exercer activamente o seu direito à existência e à resistência. Um exemplo de como Israel é completamente imune às palavras inconsequentes dos seus amigos e aliados sempre que as imagens da chacina tornam impossível o silêncio é a demolição premeditada do edifício da agência Associated Press (AP) em Gaza. A Israel não será difícil responder a Biden, forçado a perguntar sobre os motivos de tal atitude: o edifício daria acesso aos «túneis do Hamas» ou serviria até de «escudo humano» para o grupo fundamentalista islâmico palestiniano. Uma organização que ganhou vida – é oportuno recordá-lo – com apoio sionista quando se tornou importante dividir o movimento do primeiro Intifada, em finais dos anos oitenta, iniciado precisamente em Gaza. As forças armadas sionistas que participam em exercícios atlantistas são as mesmas que fazem jorrar o sangue de civis indefesos na Palestina, impedidos de escapar às suas bombas. Israel está a cometer mais um acto de apogeu da chacina a que tem vindo a submeter impunemente a população da Faixa de Gaza – e da Palestina em geral – durante as últimas décadas. Os alvos não são «os túneis do Hamas», como informa o regime sionista, mas dois milhões de pessoas que vivem enclausuradas num imenso campo de concentração do qual não podem escapar. Não se trata de um «confronto»: é uma barbárie. Algumas notas sobre o que está a passar-se. A Faixa de Gaza e a respectiva população são um alvo que Israel tem sempre à mão quando necessita de recorrer a manobras de diversão por causa da degradação política interna, como acontece no momento actual, em que se misturam a prolongada indefinição governativa, a corrupção a alto nível do regime e a polémica gestão da pandemia – por sinal, insolitamente elogiada no plano internacional. «A Faixa de Gaza e a respectiva população são um alvo que Israel tem sempre à mão quando necessita de recorrer a manobras de diversão por causa da degradação política interna, como acontece no momento actual» Os dirigentes sionistas não duvidam, nem por um instante, de que podem utilizar o instrumento da guerra contra Gaza porque sabem que a chamada comunidade internacional o permite. As instâncias internacionais, com a ONU à cabeça, e as grandes potências, com destaque para os Estados Unidos e a União Europeia, permitem tudo a Israel sem assumir uma única medida para conter a barbárie. Há mais de 70 anos que a comunidade internacional se vem dotando de instrumentos legais para fazer respeitar os direitos inalienáveis do povo palestiniano e há mais de 70 anos que eles são interpretados como letra morta. Este comportamento é um incentivo à discricionariedade de Israel; e Israel aproveita-o consoante as suas conveniências sabendo que nada de mal lhe acontecerá e nenhuma reacção irá além do apelo à «moderação» e a um «cessar-cessar entre as partes». Isto é, entre uma «parte» que pode tudo e uma «parte» que sofre tudo. Os foguetes do Hamas são irrelevantes quando comparados com o aparelho de guerra usado pelo regime sionista. A actuação da comunidade internacional na questão israelo-palestiniana é o exemplo mais flagrante da sua permanente utilização do sistema de pesos e medidas variáveis. Isolada pela comunidade internacional em geral, a Palestina conta cada vez menos com a solidariedade do chamado mundo árabe. Sob a égide da administração Trump nos Estados Unidos, países árabes como os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein juntaram-se recentemente ao Egipto na normalização das relações com Israel, o que significa abandonar a defesa dos direitos dos palestinianos. Acresce que existem, de facto, relações diplomáticas entre o Estado sionista e a Arábia Saudita, encimadas pela amizade e afinidades entre o primeiro-ministro Netanyahu e o herdeiro do trono wahabita, Mohammed Bin Salman. Uma aliança sobre os escombros da Palestina. «Há mais de 70 anos que a comunidade internacional se vem dotando de instrumentos legais para fazer respeitar os direitos inalienáveis do povo palestiniano e há mais de 70 anos que eles são interpretados como letra morta. Este comportamento é um incentivo à discricionariedade de Israel» Na prática, a solidariedade árabe nunca desempenhou um papel que permitisse a criação de um Estado palestiniano, como determinam as normas e a doutrina estabelecidas pela comunidade internacional. O reconhecimento de Israel por cada vez mais países árabes, porém, reforça a ideia de que o problema palestiniano poderá ter outras «soluções» que não sejam a criação de um Estado palestiniano independente, viável e plenamente soberano. Por outro lado, as relações entre países árabes e Israel transformam cada vez mais o Estado sionista numa entidade plenamente integrada no Médio Oriente, dando assim forma ao arranjo pretendido pelos Estados Unidos de uma região com duas potências dominantes – Israel e Arábia Saudita –, ambas viradas contra o Irão. O novo pico de guerra de Israel contra Gaza não pode desligar-se dos permanentes esforços de Israel para tentar provocar uma guerra directa contra o Irão – à qual as administrações norte-americanas ainda têm resistido. A ofensiva supostamente «contra o Hamas» – grupo que Israel liga a Teerão apesar de ser sunita e não xiita – acontece no preciso momento em que a administração Biden ainda não definiu se regressa ou não ao acordo nuclear 5+1 com o Irão. A mensagem israelita é directa: apoiando grupos activos no Médio Oriente, como o Hezbollah no Líbano e na Síria e o Hamas na Palestina, o Irão terá de ser desencorajado de o fazer. E os acordos com Teerão têm de ser invalidados. Por muito que possam vir a proclamar verbalmente o contrário, os Estados Unidos e a União Europeia estão por detrás de mais esta chacina israelita em Gaza. Se em relação a Washington não existe qualquer dúvida, tanto mais que o aparelho do Partido Democrata no poder é o que está mais sintonizado com os interesses dominantes do sionismo, poderão levantar-se reticências em relação ao papel da União Europeia. «a prática de Bruxelas e dos 27 é objectivamente favorável às atitudes assumidas por Israel, sejam elas quais forem: nada fazem para que seja concretizada a solução de dois Estados na Palestina, mantêm relações económicas e políticas preferenciais com Israel e não assumem nas instâncias internacionais qualquer posição contra as atitudes militares extremas do sionismo» O que não tem qualquer razão de ser. Apesar de algumas declarações de distanciamento, como foi o caso por ocasião da transferência da embaixada norte-americana para Jerusalém, a prática de Bruxelas e dos 27 é objectivamente favorável às atitudes assumidas por Israel, sejam elas quais forem: nada fazem para que seja concretizada a solução de dois Estados na Palestina, mantêm relações económicas e políticas preferenciais com Israel e não assumem nas instâncias internacionais qualquer posição contra as atitudes militares extremas do sionismo. Antes pelo contrário: Israel é um parceiro activo da NATO – que rege a União Europeia do ponto de vista militar – e está mesmo envolvido nos exercícios em curso na Grécia e no Mar Egeu no quadro dos jogos de guerra «Defender Europe». Isto é, as forças armadas sionistas que participam em exercícios atlantistas são as mesmas que fazem jorrar o sangue de civis indefesos na Palestina, impedidos de escapar às suas bombas. Uma aliança que dizima vidas e direitos humanos. A mensagem de Israel com esta nova operação de barbárie é directa: nada fará parar o sionismo no seu objectivo de limpar e submeter etnicamente a Palestina e de impedir qualquer tentativa, por débil que seja, de implementar a solução de dois Estados. O instrumento para concretizar esse objectivo é a colonização ininterrupta dos territórios da Cisjordânia – a par do cerco férreo a Gaza – de maneira a estender a ocupação, inviabilizar as possibilidades territoriais de instaurar um Estado e quebrar a resistência nacional palestiniana. «a operação militar sionista assumiu as já conhecidas proporções de punição colectiva. Contando, para isso, com a habitual impunidade que lhe é assegurada pelas instâncias internacionais. De facto, Israel usa o terrorismo para impor a lei do mais forte sabendo que encontrará pouca oposição e condenação nenhuma» Nas últimas semanas o regime sionista expulsou mais famílias e arrasou as suas habitações no bairro de Sheik Jarrah, em Jerusalém Leste, no quadro da «limpeza» de todos os palestinianos da cidade. Acontece que a ofensiva encontrou forte resistência da população atingida, sinal de que, apesar de isolados internacionalmente, os palestinianos não estão dispostos a abdicar dos seus direitos. Uma vez que Gaza respondeu à agressão e da Faixa de Gaza foram disparados foguetes contra território israelita, a operação militar sionista assumiu as já conhecidas proporções de punição colectiva. Contando, para isso, com a habitual impunidade que lhe é assegurada pelas instâncias internacionais. De facto, Israel usa o terrorismo para impor a lei do mais forte sabendo que encontrará pouca oposição e condenação nenhuma. A nova fase da chacina contra Gaza e da limpeza étnica da Cisjordânia é, afinal, mais um passo no sentido de um desfecho que inviabilize de vez a solução de dois Estados na Palestina. Ao mesmo tempo que este princípio vai sendo invocado como um mantra cada vez mais vazio de significado pelos que insistem em dizer-se defensores das leis internacionais e dos direitos humanos. Enquanto isto, continuam a morrer inocentes indefesos e a Nakba, o holocausto palestiniano, prossegue, dia após dia, sob os olhos e a passividade do mundo. Até ao último dos palestinianos. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Israel poderá ainda dizer que não fez nada que a NATO não tenha executado por exemplo em Belgrado, em 1999, quando bombardeou e destruiu o edifício da televisão jugoslava. É certo que a AP tem prestado permanentes e bons serviços ao regime sionista, tal como as outras principais agências internacionais de informação. E não será este aparentemente inusitado bombardeamento que irá interromper a sua fidelidade para com Israel. O governo israelita está seguro disso – é a ordem natural das coisas. Para interrompê-la de maneira favorável ao reconhecimento dos direitos dos palestinianos seria necessário muito mais do que as rotineiras palavras de inquietação e um «cessar-fogo» transitório. Nem tanto. Se, por exemplo, os dirigentes da União Europeia – ainda que incomodando a administração Biden – experimentassem suspender as relações económicas e militares com Israel até que este país abrisse comprovadamente as portas à solução de dois Estados, talvez o cenário se alterasse. Afinal, suspender relações económicas e impor sanções a países terceiros já não constitui qualquer novidade para a União Europeia, predisposta assim a sofrer as respectivas consequências. De um ponto de vista objectivo, não haverá país tão merecedor de tais medidas como Israel, pelo menos tendo em conta palavras proferidas de quando em vez por alguns dirigentes europeus. Fazer sentir aos chefes sionistas que a barbárie tem um preço a pagar seria a maneira de lhes proporcionar um inesperado encontro com uma nova realidade e as consequências dos seus comportamentos cruéis. E seria, sobretudo, um caminho para o fim de uma tragédia humana, não apenas em Gaza mas também na Cisjordânia e até em Israel, onde os dirigentes se debatem com uma interminável crise governativa e mesmo – eles o dizem – com os riscos de «uma guerra civil». José Goulão, exclusivo O Lado Oculto/AbrilAbril Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Em Ramallah, porém, eram cada vez mais nítidos os sinais de dependência das autoridades palestinianas em relação ao poder israelita. O aparelho sionista manietava o núcleo mais histórico e popular da resistência palestiniana e tornava-o até responsável pela repressão do seu próprio povo perante manifestações e movimentos «não oficiais». Neste quadro, o ritmo da colonização israelita da Cisjordânia e Jerusalém Leste cresceu vertiginosamente, flagelando e delapidando populações isoladas, reprimidas, sem apoio concreto e eficaz dos seus dirigentes. Os casos de resistência contra demolições de casas, destruição de propriedades, roubos de colheitas e de expulsão de famílias inteiras para outras regiões ou para o estrangeiro eram e continuam a ser sumariamente combatidos e destroçados, todos os dias, pela violência dos colonos com apoio das forças policiais e militares sionistas. Na única ocasião em que Ramallah e Gaza chegaram a um princípio de acordo sobre um governo comum, em Junho de 2014, Israel encontrou pretextos para uma nova grande operação de bombardeamento contra Gaza, seguida de invasão parcial. Mais de 2500 palestinianos foram assassinados e, no rescaldo da matança, extinguiu-se a hipótese de governo comum. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. «Agir em conformidade» é, como testemunhamos, massacrar metodicamente a população da Faixa de Gaza, replicando práticas dos nazis nos campos de concentração, mas usando métodos mais sofisticados porque Hitler não tinha caças F-16, drones ou artefactos teleguiados que não erram a pontaria, nem mesmo quando miram hospitais. Que afinal, para o regime ocupante de Israel, são muito mais do que hospitais. Hananya Naftali, uma assessora de comunicação de Benjamin Netanyahu, explicou nas redes sociais que «as Forças Armadas de Israel bombardearam uma base terrorista do Hamas dentro de um hospital (al-Ahli) em Gaza; vários terroristas foram mortos». Entre os dirigentes ocidentais não falta quem faça eco da argumentação humanista praticada em Telavive. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, foi igualmente ao encontro de Netanyahu, a quem incentivou dizendo que «estamos a assistir a uma batalha entre a civilização e os monstros bárbaros, um teste de civilidade»; e «o senhor é capaz de a conduzir da melhor maneira, porque somos diferentes desses terroristas». Não é à toa que o chefe do governo israelita assegura que «Israel é um posto avançado da civilização ocidental num mar de barbárie». Nada mais do que a versão sionista da inspirada tese do chefe da «política externa» da União Europeia, Josep Borrell, quando garante que a Europa «é um jardim cercado pela selva do resto do mundo». Já o retirado presidente norte-americano George W. Bush reforçara as mentiras em que assentou a invasão do Iraque argumentando que esse episódio era uma peça da luta «entre a civilização e a barbárie». «"Agir em conformidade" é, como testemunhamos, massacrar metodicamente a população da Faixa de Gaza, replicando práticas dos nazis nos campos de concentração mas usando métodos mais sofisticados porque Hitler não tinha caças F-16, drones ou artefactos teleguiados que não erram a pontaria, nem mesmo quando miram hospitais.» Joseph Biden, naturalmente, guarda esse conceito no seu espólio político porque, apesar de ser um pilar do Partido Democrático, foi um dos principais apoiantes do republicano Bush nas façanhas do Afeganistão e do Iraque, assumindo depois pessoalmente as piedosas missões «civilizacionais» na Líbia, na Síria, no golpe ucraniano, então como vice-presidente de Obama. Daí que, no recente regresso do Médio Oriente, tenha ainda recomendado aos seus compatriotas que «se ouvirem descrever um palestiniano segundo a terminologia de filho ou filha necessitando desesperadamente de assistência médica então devem ficar cientes de que essa mensagem foi especificamente projectada para criar empatia». Ora, a sintonia ocidental com Israel nestes assuntos chega a ser empolgante. O presidente israelita, Isaac Herzog, considera que «não é verdade essa retórica de que os civis não estão envolvidos (no terrorismo do Hamas); isso não é absolutamente verdade porque poderiam ter-se levantado, poderiam ter lutado contra esse regime maligno que tomou Gaza através de um golpe de Estado». Ora, o chefe sionista sabe que está a mentir. O governo de Gaza foi instalado democraticamente porque resultou de eleições consideradas legítimas até pelos Estados Unidos, mas quem irá agora incomodar-se com esse pormenor? Um «regime maligno» que tem algumas particularidades no relacionamento com o regime sionista, cuidadosamente silenciadas nas declarações oficiais do presidente Herzog mas cujas repercussões permanecem vivas na memória de outros responsáveis ou ex-responsáveis do regime. «O governo de Gaza foi instalado democraticamente porque resultou de eleições consideradas legítimas até pelos Estados Unidos, mas quem irá agora incomodar-se com esse pormenor?» «O Hamas, para meu grande pesar, é criação de Israel», confessou Avner Cohen, ex-funcionário de assuntos religiosos israelita em entrevista publicada no Wall Street Journal, em 2009. «Quando olho para trás na cadeia de acontecimentos, acho que cometemos um erro; mas na época ninguém pensou nos possíveis resultados», revelou David Hacham, especialista em assuntos árabes do exército de Israel. O tema, porém, não ficou «lá atrás»: em 2019, Benjamin Netanyahu disse ao grupo parlamentar do seu partido, o Likud, que era necessário continuar a «apoiar e financiar» o Hamas para manter a divisão entre os palestinianos e a secessão entre a Cisjordânia e Gaza. Em recente reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas, o primeiro-ministro de Israel exibiu um mapa do seu país do qual desapareceram a Cisjordânia, Jerusalém Leste e a Faixa de Gaza. Israel confunde-se com a Palestina histórica. Qualquer chefe de delegação de qualquer país, mesmo que não estivesse atento à aparente bazófia do chefe sionista, concluiria que a manobra representava um requiem pela solução de dois Estados, exactamente no principal fórum da instituição que criou a solução de dois Estados. Nas chancelarias dos países ocidentais, nos truculentos bastidores de Borrell não se ouviu uma palavra, um pio, sobre a provocação de Netanyahu. Mas quando em 7 de Outubro, numa manobra desenvolvida em condições improváveis e intrigantes, o Hamas atacou zonas de Israel, manchando com terrorismo repugnante uma resistência popular que dura há 75 anos, nos países em que assenta a «civilização ocidental» o coro da indignação reagiu afinado tomando as dores de Israel – um coro que jamais assumira o martírio e o sofrimento palestinianos. E que nunca levou a sério os seus direitos. Quando as luzes das bandeiras de Israel se acenderam enfaticamente na Torre Eiffel, no 10 de Downing Street, no Empire State Building, na cobertura do Estádio de Wembley, nas Portas de Brandenburgo já o governo sionista lançara a sua vingança sanguinária, agravando de forma drástica e ainda mais cruel a punição colectiva a que há anos estão submetidos os 2,3 milhões de habitantes da Faixa de Gaza, tornando-os reféns de uma implacável máquina de morte patrocinada e alimentada pelos Estados Unidos e a NATO. «Portugal está com Israel», proclamou o primeiro-ministro António Costa; «só há um lugar para a Alemanha, que é ao lado de Israel», sentenciou o chanceler Olaf Scholz. Borrell e Van der Leyen disputaram renhidamente a oportunidade de serem os primeiros a fazer sentir que a União Europeia «está com Israel»; e depois engalfinharam-se com a mesquinhez inerente aos autocratas imbecis. Não é opção, é uma ordem «baseada em regras»: a lei do «excepcionalismo» de âmbito planetário gerido pela única nação «indispensável». E dizem os comentadores autorizados que não existe imperialismo. Os nossos dirigentes, tanto os que têm envergadura imperial como os seus súbditos, para quem a soberania nacional é coisa arcaica própria de mentes estagnadas, repetem sem descanso, martelando a cabeça dos cidadãos como no método tradicional de ensino da tabuada, que agimos em função dos «nossos valores partilhados». Nós, o garboso Ocidente, senhores do planeta e dos espaços siderais por mandato divino e usucapião fundado em séculos de expansão e extorsão, assim administrando a «civilização». «Nossos valores partilhados» nas bocas dos fundamentalistas ocidentais é todo um programa de dominação, um conceito de ordem mundial assente num único poder centralizado com ambição a tornar-se global e incontestado. Se olharmos o mundo à nossa volta nestes dias assustadores, equipados com lucidez, independência de raciocínio e dose cada vez mais elevada de coragem, concluiremos que a aplicação desses «valores» – a palavra certa é imposição – funciona como um gigantesco exercício de manipulação que transforma princípios universais, humanos, inquestionáveis e comuns a muitas e diversificadas culturas num poder minoritário, de índole mafiosa e níveis de crueldade que vão da mentira institucionalizada à generalização da guerra, passando pelo roubo como forma de governo e de administração imperial/colonial. A este aparelho que pretende impor uma realidade paralela àquela em que vivemos chama-se «ordem internacional baseada em regras», um catálogo de normas de comando voláteis, casuísticas, não escritas e a que todo o planeta deve obedecer cegamente, sem se interrogar nem defender. «Ordem internacional baseada em regras» é o código imperial que veio soterrar o direito internacional e transformar as organizações mundiais que devem aplicá-lo em órgãos que rodopiam à mercê das «regras» de cada momento, manipulados, desvirtuados e instrumentalizados segundo as conveniências do funcionamento da realidade paralela. Poucos princípios preenchem tanto as prédicas dos dirigentes mundiais e seus apêndices às escalas regional e nacional do que liberdade e democracia. Uma liberdade para expandir globalmentee, porém com uma definição muito específica e padrões limitados pelas «regras» da única ordem internacional permitida. A liberdade prevalecente, e que condiciona todas as outras, acaba por ser a da propriedade privada e da inexistência de restrições ao funcionamento do mercado. Todas as restantes alavancas que devem fazer funcionar o mundo assentam neste princípio inquestionável que faz da justiça social uma aberração, transforma em servos a grande maioria dos seres humanos, converte as organizações internacionais e a generalidade dos governos nacionais em instrumentos dos casinos financeiros e das oligarquias económicas sem pátria, fronteiras ou limites comportamentais. Uma liberdade condicionada pela ditadura do lucro e a vassalagem ao dinheiro. Este conceito dominante de liberdade, a liberdade de extorsão própria da realidade em que de facto vivemos, é desde há muitos séculos um alicerce da «civilização» ocidental – a única reconhecida para efeitos de relações internacionais. A ordem «baseada em regras» é extremamente exigente e vigilante em relação a esta mãe de todas as liberdades e, se necessário for, não hesita em recorrer à guerra para a restaurar lá onde estiver ameaçada. «Todas as restantes alavancas que devem fazer funcionar o mundo assentam neste princípio inquestionável que faz da justiça social uma aberração, transforma em servos a grande maioria dos seres humanos, converte as organizações internacionais e a generalidade dos governos nacionais em instrumentos dos casinos financeiros e das oligarquias económicas sem pátria, fronteiras ou limites comportamentais.» Com a democracia acontece mais ou menos a mesma coisa. Só existe um único formato que permite instituir o «poder do povo», mesmo que depois o povo em nada se identifique e beneficie com a interpretação da sua vontade que dela fazem os eleitos. É mais ou menos assim, segundo o padrão «representativo» determinado pelo Ocidente: de x em x anos criam-se festivais ditos políticos onde vigoram a violação tácita da igualdade de exposição de opiniões, a manipulação da informação e das chamadas «sondagens» e a divisão ostensiva e «institucionalizada» entre os partidos com «vocação para governar» e os outros; ensinados assim a «decidir», as maiorias de eleitores escolhem em «liberdade» os seus preferidos, garantidamente aqueles aplicam a doutrina oficial «democrática», nestes tempos o capitalismo na sua arbitrariedade plena, o neoliberalismo. Exemplo desta democracia no seu grau máximo de evolução é a União Europeia: neste caso os cidadãos nem precisam de «escolher» os dirigentes máximos da organização, simplesmente nomeados para não haver erros nem desvios à doutrina governativa oficial e única; e supondo que os eleitores «escolhem» directamente o Parlamento Europeu, este tem poderes limitados para não perturbar o trabalho arbitrário dos não eleitos ao serviço dos seus patrões. Quanto aos Estados Unidos, o paradigma democrático a que deve obedecer-se num mundo unipolar, a escolha imposta aos cidadãos limita-se a dois aparelhos mafiosos de poder que agem em formato de partido único. Sendo esta a democracia que funciona como farol, segundo as sentenças abalizadas dos mestres da opinião única, todas as outras devem seguir tendencialmente o mesmo caminho. Não é opção, é uma ordem «baseada em regras»: a lei do «excepcionalismo» de âmbito planetário gerido pela única nação «indispensável». E dizem os comentadores autorizados que não existe imperialismo. Daí que os praticantes da democracia ocidental, a única, tenham ainda como missão fiscalizar os exercícios democráticos através do mundo. Por isso a União Europeia, por exemplo, arroga-se o direito de «aceitar» ou não os referendos nos quais as populações do Donbass decidiram juntar-se à Rússia. «A ordem "baseada em regras" é extremamente exigente e vigilante em relação a esta mãe de todas as liberdades e, se necessário for, não hesita em recorrer à guerra para a restaurar lá onde estiver ameaçada.» Trata-se, afinal, de aplicar o princípio de reconhecer as eleições e consultas populares que dão o resultado pretendido pelo Ocidente e rejeitar as outras cujos eleitores decidiram de forma não tolerada pelos vigilantes da ordem internacional, como se tivessem violado as «regras» mesmo cumprido os mecanismos processuais das votações instituídos como únicos. É à luz desse entendimento discriminatório que os Estados Unidos e os seus satélites não reconhecem resultados eleitorais na Venezuela, na Nicarágua, na Rússia, por exemplo, mas assinam por baixo a legitimidade de fraudes como nas Honduras, de golpes como no Brasil, Paraguai, Bolívia, Ucrânia, Paquistão (só alguns dos mais recentes) ou a designação como presidentes de indivíduos que nem sequer concorreram a eleições – o caso de Juan Guaidó na Venezuela. A democracia ocidental é, como se prova, bastante elástica em casos que chegam a roçar o absurdo e muito restritiva no reconhecimento de actos eleitorais legítimos, porém menos convenientes para os interesses dos «excepcionalismo». É uma questão de exercício do poder internacional que o Ocidente julga possuir à luz de «regras» casuísticas determinadas consoante os interesses de uma «civilização» que não envolve mais de 15% da população mundial. «É à luz desse entendimento discriminatório que os Estados Unidos e os seus satélites não reconhecem resultados eleitorais na Venezuela, na Nicarágua, na Rússia, por exemplo, mas assinam por baixo a legitimidade de fraudes como nas Honduras, de golpes como no Brasil, Paraguai, Bolívia, Ucrânia, Paquistão (só alguns dos mais recentes) ou a designação como presidentes de indivíduos que nem sequer concorreram a eleições – o caso de Juan Guaidó na Venezuela.» Recorrendo a exemplos muito actuais, eis como a «democracia ocidental» é peculiar no próprio Ocidente. Robert Habeck, ministro da Economia da Alemanha, colosso cada vez mais reduzido a um tapete de Washington, garante que não lhe interessa a opinião do eleitorado, o essencial é que a Rússia seja derrotada pela Ucrânia. E Josep Borrell, o «ministro dos negócios estrangeiros» da União Europeia, que ninguém elegeu, determina que os cidadãos europeus «têm de pagar o preço» necessário para «derrotar a Rússia». Ora aqui estão «regras» que corrigem a própria democracia padrão. O mesmo Borrell, espanhol e também socialista, é claríssimo na interpretação dos «nossos valores partilhados». Considera que na vida internacional há, evidentemente, «dois pesos e duas medidas»: os nossos, os «correctos», e os dos outros, atributos daquilo que George W. Bush qualificou como «a barbárie». Pedra de toque dos «nossos valores partilhados», os direitos humanos traçam a grande fronteira entre o Ocidente «civilizado» e os outros – 85% da população mundial. Direitos humanos são, por sinal, valores que ilustram a preceito a tese de Borrell sobre dois pesos e duas medidas: nós sabemos o que são direitos humanos, os outros não. «E Josep Borrell, o «ministro dos negócios estrangeiros» da União Europeia, que ninguém elegeu, determina que os cidadãos europeus «têm de pagar o preço» necessário para "derrotar a Rússia". Ora aqui estão "regras" que corrigem a própria democracia padrão.» Os principais acontecimentos da actualidade permitiram até refinar o conceito de direitos humanos a partir da clarificação entre seres humanos e entes sub-humanos – distinção baseada nas práticas de Volodimyr Zelensky, por sua vez inspirada nos conceitos purificadores de Stepan Bandera e seus pares, pais e heróis do regime ucraniano de Kiev, no seu tempo colaboradores dos nazis alemães em massacres de dezenas de milhares de seres humanos – talvez deva escrever-se sub-humanos. As nações europeias dançam a música tocada por Zelensky segundo partitura das «regras» de Washington, para que os russos do Donbass e os russos em geral, sub-humanos por definição dos nazis que mandam em Kiev, sejam devidamente sacrificados tal como vinha a acontecer, metodicamente, como resultado de uma guerra iniciada há oito anos. A «democracia ocidental» apostando o que tem e não tem, a própria vida dos cidadãos por ela regidos, para que um regime nazi liquide sub-humanos é um cenário apropriado para quem defende os direitos humanos acima de tudo? É o aval para a conversão do nazismo à democracia ou, antes de tudo, a demonstração de que a «democracia ocidental» segue na direcção do inferno do fascismo? O que nada tem de ilógico, pois foi o fascismo que embalou no berço a ditadura neoliberal que dá forma ao regime financeiro-económico-político dominante em termos internacionais, exercido com ambições globalistas e totalitárias e que, em última instância, dita a «ordem internacional baseada em regras». Governantes, comentadores, analistas e outros formatadores da opinião única incomodam-se quando, a propósito da situação no Donbass, se recordam as atrocidades cometidas pelos Estados Unidos e a NATO, ou respectivos braços mais ou menos informais, nas guerras – algumas delas «humanitárias» – levadas até à Jugoslávia, Afeganistão, Iraque, Somália, Líbia, Síria, Iémen. Sem esquecer o caso exemplaríssimo do Kosovo, onde os Estados Unidos e a União Europeia praticaram uma secessão territorial sem qualquer consulta às populações envolvidas e entregaram o governo a terroristas fundamentalistas islâmicos especializados em múltiplos tráficos, todos eles rigorosamente respeitadores dos direitos humanos, como está comprovado. A arrogância, o autoconvencimento suicida e a subserviência doentia dos dirigentes da União Europeia perante o diktat norte-americano transformou a guerra na Ucrânia no acontecimento fatal para a comunidade. A Europa Ocidental tem apenas mais 20 a 30 anos de democracia; depois disso deslizará sem motor e sem leme sob o mar envolvente da ditadura (…) Willy Brandt, polémico mas suficientemente lúcido para não fechar pontes em plena guerra fria, era um estadista, espécie entretanto desaparecida como os dinossauros. Governou nos tempos em que se pensava existir uma coisa chamada «social-democracia», que durante as últimas décadas também «deslizou sem motor e sem leme» para a selvajaria neoliberal, a ditadura da economia sobre a política, passo decisivo para a extinção da democracia – como estamos a perceber. Brandt não era um bruxo; limitou-se a reflectir sobre perspectivas a médio prazo com base na percepção, leitura objectiva das realidades, experiência e intuição que não lhe faltavam porque era um praticante de política, actividade que é um direito geral de cidadania entretanto «promovida» a uma espécie de «ciência oculta» actualmente apenas ao alcance de uma seita de predestinados com capacidade para governar, dominada pela arrogância, a frieza desumana, a irresponsabilidade e a mediocridade, particularidades afinal essenciais num regime autoritário. «A guerra na Ucrânia, efectivamente travada entre a NATO e a Rússia, contribuiu para trazer à superfície os sinais inequívocos da ascensão da ideia de um mundo polifacetado no qual direitos nacionais plenos até agora violentamente reprimidos pelos poderes coloniais e imperiais do Ocidente se afirmam de modos bastante concretos, operacionais e explícitos. Esse é o combate existencial do nosso tempo» As palavras do antigo chanceler alemão, proferidas pouco antes de deixar o cargo, projectam-se na actualidade de maneira tão evidente como inquietante. Acertam em cheio no «deslizamento» da Europa para a ditadura política, completando-se assim o cenário aberto pelo totalitarismo da economia (ditadura do mercado), embora mantendo aparências formais em matéria de direitos cívicos, entretanto ferozmente vigiados e combatidos passo-a-passo por meios antidemocráticos. Esta Europa, desde que assumiu a forma dominante de União Europeia como expressão do poder oligárquico e braço político da NATO, reforça a visão etnocentrista de uma pax imperial assente em nações «aliadas» orientadas pelo dogma mítico segundo o qual a paz generalizada será encontrada como resultado final de múltiplas guerras «defensivas» e «humanitárias». O chamado Ocidente criará assim as condições propícias para a implantação do globalismo neoliberal, de preferência gerido por um governo único e obviamente totalitário tal como postulam há muito o veterano guru imperialista Henry Kissinger, o conspirativo Grupo de Bilderberg e mais recentemente o Fórum Económico Mundial, instrumento das oligarquias sem pátria que representam menos de um por cento da população mundial e dos expoentes políticos que as servem. Os fundamentos deste modelo imperial pressupõem a continuação do funcionamento inquestionável de uma ordem unipolar mundial, ou «ordem internacional baseada em regras» dirigida de Washington e contornando o direito internacional reconhecido pela esmagadora maioria das nações do mundo. Para a garantir existem 800 bases militares norte-americanas distribuídas pelo mundo, reforçadas com o policiamento permanente dos mares, uma estrutura que tem um papel indispensável na pretendida «globalização da NATO». «Daí os esforços necessários para criar e aproveitar cada oportunidade de paz. Embora a «paz» esteja proscrita e os seus defensores sejam olhados como perigosos dissidentes da narrativa única própria de uma ditadura como a que, há quase meio século, o ex-chanceler alemão Willy Brandt anteviu para a Europa» Apesar disso, essa ordem sente-se ameaçada. A guerra na Ucrânia, efectivamente travada entre a NATO e a Rússia, contribuiu para trazer à superfície os sinais inequívocos da ascensão da ideia de um mundo polifacetado no qual direitos nacionais plenos até agora violentamente reprimidos pelos poderes coloniais e imperiais do Ocidente se afirmam de modos bastante concretos, operacionais e explícitos. Esse é o combate existencial do nosso tempo, em que a ideia do «fim dos Estados-nação» de que se apropriou a oligarquia globalista sem pátria se confronta com a crescente afirmação de relações mais justas e igualitárias entre nações soberanas, independentemente dos seus sistemas políticos. E não, soberanismo não se confunde com nacionalismo e muito menos com populismo. Como é próprio dos conflitos existenciais, sobretudo este que envolve capacidades e estratégias de extermínio global, a situação actual é aterradora. As declarações de um e outro lado encarando a hipótese «limitada» de recurso a esse tipo de armas revelam a irresponsabilidade, a inconsciência e até a loucura sociopata de quem as profere. Sabendo nós que não se trata de casos isolados e de simples ameaças, mas de balões de ensaio induzindo a ideia de que as partes em confronto estão indisponíveis para comprometer-se com a rejeição do uso desses «argumentos» fatais para a humanidade. Daí os esforços necessários para criar e aproveitar cada oportunidade de paz. Embora a «paz» esteja proscrita e os seus defensores sejam olhados como perigosos dissidentes da narrativa única própria de uma ditadura como a que, há quase meio século, o ex-chanceler alemão Willy Brandt anteviu para a Europa. As ditaduras, porém, são absolutistas mas não absolutas. Existem sempre meios de as driblar e derrotar se houver vontade e união para isso. A primeira grande vítima do combate de âmbito global em curso é a União Europeia. Morreu, mas ninguém a informou disso. O seu monstruoso aparelho burocrático e autoritário em modo de realidade paralela funciona em piloto automático, agora definitivamente orientado de Washington, como intermediário privilegiado do tráfego – e tráfico – de armas para alimentar a guerra na Ucrânia; e também como esbirro federalista dos povos do continente às ordens da insaciável oligarquia neoliberal. A União Europeia desapareceu enquanto comunidade com identidade própria, que nunca foi muita. Teve uma síncope na crise financeira de 2008, que procurou combater através da tortura de países governados por apátridas invertebrados e com recurso a instrumentos coloniais. Esteve novamente à beira da morte em 2019 com a hecatombe do pretenso combate colectivo contra a Covid, mais um episódio de salve-se quem puder, cada um por si. Não havendo duas sem três, a União Europeia finou-se agora devido ao comportamento na guerra da Ucrânia convertendo-se, sem reservas nem reticências e com muito afã, num indisfarçado instrumento de mão de Washington e numa ramificação menor da NATO. Já aplanara o caminho nessa direcção há oito anos, ao comparticipar na entronização golpista de um regime nazi em Kiev. «A primeira grande vítima do combate de âmbito global em curso é a União Europeia. Morreu, mas ninguém a informou disso. O seu monstruoso aparelho burocrático e autoritário em modo de realidade paralela funciona em piloto automático, agora definitivamente orientado de Washington» Hoje, o zombie da União Europeia já nem se debate no poço sem fundo em que caiu devido ao modo como abordou a questão ucraniana. A führer Van der Leyen, plagiadora da sua tese de medicina, eleita a pior ministra da Defesa de sempre na Alemanha e admiradora confessa de Erwin Rommel, marechal de campo de Hitler na sua conveniente vertente mítica «anti-III Reich», insiste em cumprir as ordens do decadente presidente Biden para liquidar os ucranianos e arrasar a Ucrânia. O seu escudeiro socialista Borrell, cada vez mais ridicularizado mas sempre perigoso, deveria fazer um voto de silêncio para não agravar ainda mais a situação. É por estes caminhos que a Comissão Europeia, entidade não eleita que gere uma estrutura desumana e feroz sobretudo contra os mais desfavorecidos, caminha agora fantasmagoricamente – mas ainda e sempre cruel. Aos Estados membros, liberais, iliberais ou assim-assim compete obedecer, esvaziar os arsenais de todas as armas e enviá-las para a Ucrânia, meter as mãos nos bolsos dos contribuintes para financiar com centenas de milhões de euros o corrupto e nazi Zelensky. Em contrapartida, devem obrigar os seus povos, através de mecanismos totalitários de manipulação, coacção e chantagem, a aceitar impavidamente os efeitos das sanções impostas à Rússia – ilegais segundo o direito internacional – enterrados numa crise em que o pior ainda está para vir. Willy Brandt sabia do que falava mesmo que os tempos e as circunstâncias fossem bastante diferentes da realidade actual. Certamente porque os traços desviantes em relação ao discurso oficial, a hipocrisia e o cinismo enganador dos povos já então se manifestavam como tendências que são intemporais. «A guerra e a maneira etnocêntrica, xenófoba e mistificadora como a União Europeia a encarou impondo sanções arbitrárias à Rússia, obedecendo a Washington convencida de que o mundo «iria atrás», funcionou apenas, afinal, dentro dos 27 e no universo muito limitado de países que compõem o chamado Ocidente» A arrogância, o autoconvencimento suicida e a subserviência doentia dos dirigentes da União Europeia perante o diktat norte-americano transformou a guerra na Ucrânia no acontecimento fatal para a comunidade. A guerra e a maneira etnocêntrica, xenófoba e mistificadora como a União Europeia a encarou impondo sanções arbitrárias à Rússia, obedecendo a Washington convencida de que o mundo «iria atrás», funcionou apenas, afinal, dentro dos 27 e no universo muito limitado de países que compõem o chamado Ocidente – conceito que é um alter-ego dos Estados Unidos imperiais. O resto do mundo, cerca de 85 da população mundial, assumiu posições próprias, mais ou menos diferenciadas e desafiantes das ordens emanadas de Washington. Ao mesmo tempo as sanções impostas à Rússia contribuíram para gerar outras consequências perversas, além do efeito de boomerang contra os povos dos países que as impuseram. As transformações no mundo com sentido multipolar foram aceleradas pelas novas circunstâncias; daí que seja possível observar como países de outros continentes, com maiores ou menores envergaduras económicas, se juntam em recém-criadas organizações regionais e transnacionais, algumas delas ainda embrionárias, harmonizando interesses próprios, abrindo novas vias de comunicação e de transporte, intercambiando matérias-primas, commodities e outros bens da economia real, tangível, tanto quanto possível à margem do casino financeiro de ambição globalista e do dólar cada vez mais contaminado pela financeirização e a dependência da economia virtual. São relações novas ou ampliadas estabelecidas em condições mais equilibradas e igualitárias, livres de imposições de obediência e das obrigações desiguais próprias das relações até agora dominantes, de índole colonial e imperial. A nova realidade emergente atrai cada vez mais países que estão a redescobrir a importância da soberania e se atrevem a desafiar o Ocidente como nunca o fizeram. Na recente Cimeira das Américas, dirigentes de várias nações disseram ao presidente dos Estados Unidos coisas que ele jamais pensou ouvir; os países ribeirinhos do Mar Cáspio decidiram, em cimeira recente, reforçar a soberania regional, declarando as águas livres de navios da NATO; os presidentes do Irão, da Turquia e da Rússia acordaram modos de cooperação, sobretudo na Síria, que têm como objectivo trabalhar pela saída das tropas norte-americanas deste país, acabando assim com o roubo de petróleo; o presidente norte-americano foi à Arábia Saudita mendigar a redução dos preços do petróleo nos mercados internacionais, mas não passou de Jeddah e as suas súplicas não foram atendidas; ao invés, o encontro do ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov, com os dirigentes da Liga Árabe, foi considerado um êxito. Entretanto, o artista da moda e chefe do regime nazi de Kiev não conseguiu pregar a sua homilia à cimeira do Mercosul depois de, há algumas semanas, ter sido escutado por apenas quatro dos 55 chefes de Estado da União Africana. Há realmente cada vez mais mundo para lá da Ucrânia e do Ocidente. E o New York Times já se «esquece» de falar da guerra da Ucrânia em algumas das suas edições. Então o que resta, nestas circunstâncias, da defunta União Europeia? Ou mesmo da Europa, alargando o conceito à antevisão de Willy Brandt? Observa-se, por exemplo, que a democracia é cada vez mais um invólucro desgastado de sistemas económicos e políticos com notáveis tiques ditatoriais. Aliás no Leste europeu, desde a Polónia às Repúblicas do Báltico, tão acarinhadas pela NATO e a União Europeia, os regimes de índole fascista e xenófoba são indisfarçáveis. Na Letónia e na Estónia os cidadãos de origem russa são de segunda categoria, não podem votar, não têm direitos sociais, são párias na sua pátria. Zelensky não inventou nada. Como se percebe, foram instalados regimes de apartheid no interior da União Europeia sem registo de qualquer escândalo por parte da comunicação social corporativa, sempre tão vigilante e de dedo em riste. «A guerra e a maneira etnocêntrica, xenófoba e mistificadora como a União Europeia a encarou impondo sanções arbitrárias à Rússia, obedecendo a Washington convencida de que o mundo «iria atrás», funcionou apenas, afinal, dentro dos 27 e no universo muito limitado de países que compõem o chamado Ocidente» Então, para defender um regime nazi até às últimas consequências – que não se anunciam promissoras – a União Europeia decidiu «cancelar» a Rússia, isto é, prescindir das suas relações políticas e, sobretudo, económicas e comerciais com este país. E fê-lo numa ocasião em que Moscovo já decidira estrategicamente uma ancoragem prioritária com mira no Oriente, abrindo-se daí, ainda mais, para a Ásia, a África e a América Latina. Quem ganha e quem perde com esta opção, que não é uma versão da história do ovo e da galinha? Uma pergunta que os lunáticos de Bruxelas e das restantes capitais dos 27 não fizeram a si próprios antes de investirem com tudo (já só falta a bomba nuclear), e praticamente sem rectaguarda, contra a Rússia. A Europa é um continente envelhecido, uma manta de retalhos que se vai cosendo por conveniência e apenas para imagem externa, um espaço de inércia crescente dominado por uma burocracia retrógrada apesar de digitalizada, mergulhado numa autoimagem arrogante e desligada da realidade mundial. Carece de produtos básicos de alimentação, de matérias-primas essenciais, da maioria dos recursos fundamentais estratégicos, sobretudo fontes de energia e de autonomia tecnológica, sector em que, no que toca a desenvolvimento e inovação, começa a estar a anos de luz não só dos Estados Unidos mas também, e principalmente, da Ásia. O que resta da indústria europeia é subsidiário e dependente do exterior. A questão do abastecimento energético, porém, ilustra como nenhuma o delírio incontrolável de Bruxelas e da maioria dos seus satélites. Para prescindir do petróleo da Rússia, barato e há décadas calibrado para as necessidades europeias, a senhora Van der Leyen pratica mendicidade com países que maltrata e sanciona, como a Venezuela e o Irão, e promete soluções inexistentes a curto e médio prazo. Quanto ao gás natural, está disponível para comprá-lo em estado líquido aos Estados Unidos, em quantidades muito insuficientes e por preços quatro a cinco vezes superiores ao russo, apesar de ser produzido pelo método altamente poluente de fractura hidráulica (fracking). Para que haja uma noção do que aí vem anote-se que o gás natural estava a 200 dólares por mil metros cúbicos antes das sanções, situando-se agora entre os 1500 e 1800 dólares pelos mesmos mil metros cúbicos – sete a nove vezes mais. Além disso, a presidente da Comissão Europeia assegura, com o ar mais solene deste mundo, que está para mais breve do que supomos a autossuficiência energética com moinhos de vento e painéis solares. Pode acrescentar-lhe a produção de gás resultante do tratamento de lixo, dejectos de passarinhos e suínos. Boa sorte com isso. À cautela, conhecendo muito bem a incompetência dos seus subordinados na Comissão e governos adjacentes, os patrões recomendam a restauração do funcionamento das centrais a carvão para tentarem refrear a hecatombe económica que começa a sentir-se, por exemplo, no gigante alemão. O combate às alterações climáticas, claro, pode esperar – aliás como sempre. «A questão do abastecimento energético, porém, ilustra como nenhuma o delírio incontrolável de Bruxelas e da maioria dos seus satélites. Para prescindir do petróleo da Rússia, barato e há décadas calibrado para as necessidades europeias, a senhora Van der Leyen pratica mendicidade com países que maltrata e sanciona, como a Venezuela e o Irão, e promete soluções inexistentes a curto e médio prazo» A Europa transformou-se numa aberração cultural, aceitou que as suas culturas com origens milenares fossem contaminadas e asfixiadas pelo pior dos exemplos, a plastificação dos ambientes criativos pelos mais medíocres centros norte-americanas de propaganda de um «way of life» postiço, estupidificante, monolítico. A «classe política» e a comunicação social corporativa recriaram-se nesse formato e as consequências estão à vista numa opinião única militarizada, hipnotizada pela violência, numa sociedade de vigilância, coacção e bufaria, num entretenimento idiota, alienante e intoxicante onde avulta a programação televisiva uniformizada de cariz preferencialmente alarve. A Europa é provavelmente o único continente que não consegue ser autossuficiente do ponto de vista económico. Mas decidiu isolar-se agarrada ao capote do Tio Sam. No entanto, o espaço para funcionamento dos mecanismos coloniais já não é o que era à medida que a maioria das nações do mundo acordam para novas realidades de relacionamento; a invulnerabilidade militar já teve os seus dias; é cada vez mais difícil roubar os bens alheios: talvez o ouro da Venezuela e do Afeganistão, os fundos soberanos venezuelanos e as reservas cambiais russas sejam os derradeiros assaltos tolerados. E que, mais dia menos dia, terão resposta. Os políticos europeus vocacionados para governar através de uma máquina de manipulação que erradicou na prática o pluralismo, o debate e o esclarecimento, recitam discursos vazios de conteúdo, carregados de promessas vãs, manifestam um ostensivo desrespeito pelas pessoas, pelo trabalho, pelos mais idosos; os comentadores tagarelam dislates, mensagens encomendadas, mentiras, quando não é pura propaganda terrorista; desdobram-se em delações e desfazem-se dos derradeiros resquícios de compostura e vergonha quando lhes oferecem uma guerra «civilizacional» – o que acontece em sessões contínuas. A Europa, evidentemente, precisa muito mais da Rússia, país no topo mundial das matérias-primas, dos recursos naturais estratégicos e das reservas de energia essenciais, do que a Rússia necessita da Europa. Pode passar muito bem sem ela. A Europa, porém, insiste nas sanções, condenando os seus povos a carências há muito não sentidas e, para isso, nem será necessário que Moscovo aperte muito o «torniquete da dor». Pela calada, para não perder a pose perante os seus, Bruxelas vai levantando algumas sanções, como a do comércio de titânio, ou então os aviões começariam a ficar em terra. As medidas avulsas, porém, não tocam no fundo das questões, apenas suscitam ainda mais desprezo por parte da Rússia e de muitos outros países para quem a União Europeia deixou de ser entidade «confiável». As sanções à Rússia e o alinhamento na defesa de regimes nazi-fascistas europeus, caminho para a própria degeneração ditatorial, não são corriqueiros tiros nos pés. São armas de suicídio num caminho que não tem volta. Os tempos da velha e nobre Europa e da sua mítica e falsa União já lá vão. Agora o chamado «Velho Continente» não passa de um corpo estranho, um satélite mumificando em redor da estrela cadente do império. Nem sequer pode desejar-se paz à sua alma. Alma não tem; e repudia a paz. José Goulão, Exclusivo AbrilAbril Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. E que autoridade têm os que condenam a anexação do Donbass, com o presidente norte-americano à cabeça, os mesmos que são cúmplices da anexação de quase toda a Palestina e territórios sírios por Israel, do Saara Ocidental por Marrocos, que esfacelaram o Iraque e a Líbia, que roubam ouro e milhões de milhões de dólares ao Afeganistão, à Rússia, à Venezuela, à Líbia, sem esquecer o petróleo da Síria? Na sequência natural da definição dos padrões únicos e civilizacionais dos direitos humanos surgem outros direitos tão ou mais invocados como sagrados, por exemplo o de opinião, o de expressão, o respeito pela privacidade de cada um, a liberdade de informar e ser informado. A situação actual é rica em exemplos de como a «democracia ocidental», o mundo baseado «em regras» e a partilha dos «nossos valores» andam de mãos dadas com o cinismo, a hipocrisia, a mentira pura e simples e o desrespeito pelo ser humano (para já nem falar nos sub-humanos). A pressão sobre as opiniões e a liberdade de pensar torna-se cada vez mais asfixiante, intolerante, adquirindo contornos inquisitoriais. Regra geral, a partir sobretudo da implantação do neoliberalismo durante os últimos 40 anos, as opiniões dissonantes da verdade única e tolerada foram desaparecendo da comunicação social, dos espaços de debate público, das instituições de ensino. O que é silenciado não existe, o comum dos mortais habituou-se a viver com os conceitos que recebe de enxurrada, quase sem tempo para pensar, se tiver preocupação e cuidado em não perder o hábito de fazê-lo. A individualidade, a faculdade de pensar fundiram-se e dissolveram-se no interior de um imenso rebanho de repetidores de verdades absolutas e incontestáveis que, não poucas vezes, agridem e alienam a sua condição de cidadãos livres e com direitos. O processo não é estático – evolui no pior sentido, o da agressão de um direito essencial do ser humano, que é o de pensar pela própria cabeça e partilhar as reflexões e conhecimentos com os outros. Os acontecimentos acuais, designadamente a guerra na Ucrânia e o envolvimento profundo e cúmplice do Ocidente institucional no apoio ao regime de inspiração nazi de Kiev, transformou a estratégia de silenciamento das opiniões dissonantes numa perseguição de índole totalitária. Pensar de maneira diferente tornou-se um delito, uma colaboração com entidades maléficas, um atrevimento inaceitável e, por isso, submetido a difamações, ameaças de agressão e às mais rasteiras calúnias públicas. Enquanto a comunicação social se tornou refém da propaganda terrorista. «A individualidade, a faculdade de pensar fundiram-se e dissolveram-se no interior de um imenso rebanho de repetidores de verdades absolutas e incontestáveis que, não poucas vezes, agridem e alienam a sua condição de cidadãos livres e com direitos.» Nesta «civilização cristã e ocidental», incapaz de cortar o cordão umbilical com o imperialismo e o colonialismo, sobrevivem reconhecidamente os resquícios inquisitoriais. Que se afirmam com veemência crescente ao ritmo de uma fascização que os horizontes não afastam. Neste contexto, os «nossos valores partilhados» são cada vez mais instrumentos para criação de uma ficção que arrasta perversamente os seres humanos em direcções contrárias aos seus próprios interesses. Trata-se de uma armadilha que é, ao mesmo tempo, um esforço desesperado para tentar impedir o fim da era do poder unipolar, que parece inevitável – mas pode ser travado por uma guerra de proporções e consequências catastróficas. Os «valores partilhados» autodefinidos como um distintivo da pretensa superioridade humanista e civilizacional do Ocidente, e que são fundamentos da arrogância de pretender dar lições a outros povos, culturas e civilizações, são, afinal, universais; não têm donos, proprietários, muito menos polícias e esbirros. E as civilizações não estão hierarquizadas: classificá-las num qualquer ranking entre bondade e maldade, legitimidade e ilegitimidade, correcção e erro é um perigoso jogo de cariz xenófobo – o que parece incomodar cada vez menos os orgulhosos, prepotentes e fundamentalistas praticantes e adeptos da suposta superioridade ocidental, De facto, no Ocidente esses tão invocados «nossos valores partilhados» estão sequestrados, pelo que é fácil subvertê-los e usá-los perversamente como instrumentos para ludibriar e neutralizar o espírito crítico da grande maioria dos cidadãos. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. A chacina do povo de Gaza agrava-se de dia para dia, a invasão terrestre já começou, as milhares de pessoas a quem Israel ordenou uma marcha dos condenados em direcção ao sul do território, onde supostamente estariam a salvo, são bombardeadas pela aviação sionista. Dos mais de oito mil civis assassinados pelo regime israelita em Gaza, metade são crianças. Pais e outros familiares começaram a escrever o nome nas mãos e nos braços das suas crianças para poderem ser identificadas depois de abatidas pela «única democracia do Médio Oriente», protegida pelo «exército mais moral do mundo», como é conhecido no «mundo civilizado» o aparelho de extermínio das Forças de Defesa de Israel (IDF). Ironicamente, as pessoas obrigadas pelos nazis a usarem a estrela de David no vestuário, ou os mártires dos campos de concentração com números inscritos nos pulsos, também estavam sinalizados para morrer. Caprichos da História… «Israel tem o direito de se defender», repetem as classes políticas de Lisboa a Vilnius, de Nova York e Otava a Auckland, com escalas em Tóquio e Seul – bizarro «Ocidente» este. Mas os agentes civilizatórios não invocam o direito dos palestinianos a resistir à ocupação, princípio igualmente reconhecido pelo direito internacional. Certamente porque se guiam pela ordem «internacional baseada em regras» e não pelas leis que regem as relações entre as nações. «Pais e outros familiares começaram a escrever o nome nas mãos e nos braços das suas crianças para poderem ser identificadas depois de abatidas pela "única democracia do Médio Oriente"» «O terrorismo do Hamas não pode ficar impune», apregoam as mesmas vozes. Sem dúvida, mas pouco as indigna que seja toda uma população indefesa a pagar por isso enquanto silenciam o terrorismo israelita praticado durante os últimos 75 anos. Limpezas étnicas não são terrorismo? Condenação de milhões de pessoas à fome e à sede não é terrorismo? Destruição de casas, roubo de terras, destruição de colheitas não é terrorismo? Desterrar milhares de pessoas para colocar imigrantes oriundos de vários países, pretensamente guiados por cultos messiânicos, nos locais que habitavam não é terrorismo? Prisões em massa, perseguições étnicas e religiosas, racismo institucional, assassínios indiscriminados, isolamento e cerco de campos de refugiados transformando-os em campos de concentração, manter adolescentes nas cadeias, assaltar e destruir escolas, hospitais não é terrorismo? «É preciso libertar os reféns» do Hamas, exigem os «civilizadores». Para esses humanistas, porém, nunca foi preocupação proteger multidões submetidas a castigos colectivos, que seres humanos sejam desnudados e revistados em gaiolas de ferro antes de iniciarem ou depois de terminarem um dia de trabalho, que nas prisões israelitas haja milhares de detidos, presos políticos sem culpa formada com 12 ou com mais de 80 anos, submetidos sem culpa formada nem julgamento a um regime de detenção administrativa revogável de seis em seis meses, o que equivale à pena de prisão perpétua. Prisões essas que estão, em muitos casos, entregues a mercenários de companhias multinacionais de segurança que se dedicam a práticas de tortura, estupro, humilhação e morte inspiradas nas que os invasores norte-americanos exercitaram na prisão de Abu Ghraib, no Iraque. «Para esses humanistas, porém, nunca foi preocupação proteger multidões submetidas a castigos colectivos, que seres humanos sejam desnudados e revistados em gaiolas de ferro antes de iniciarem ou depois de terminarem um dia de trabalho, que nas prisões israelitas haja milhares de detidos, presos políticos sem culpa formada» Só quando o eng. António Guterres, assumindo-se, nesta situação, verdadeira e corajosamente como secretário-geral da ONU – incapaz de ficar insensível à catástrofe humana que presenciou em Gaza – pôs os pontos nos is, relembrou a história, acentuou a relação desigual de forças e de tratamento entre ocupante e ocupado é que dirigentes ocidentais, pelo menos aqueles que ainda resistiram à tentação de considerar inoportunas e desadequadas as palavras de Guterres, recolocaram a solução de dois Estados em cima da mesa. E defendem eles a sério a solução de dois Estados? Obviamente que não. Além de desumanos e xenófobos são hipócritas. Qual é a sua credibilidade ao falar em dois Estados quando, na prática, não deram um passo para que fossem uma realidade – contemporizando até, pelo contrário, com as manobras dilatórias de Israel que fizeram fracassar o processo de paz? Ou quando nada fazem que force Israel a parar com a criação de colonatos, processo cujo desenvolvimento constante vai ocupando gradualmente os territórios onde deveria assentar um Estado Palestiniano viável? Será que o «Ocidente», sempre lesto a retirar sanções da cartola, já esgotou o stock? «Qual é a sua credibilidade ao falar em dois Estados quando, na prática, não deram um passo para que fossem uma realidade – contemporizando até, pelo contrário, com as manobras dilatórias de Israel que fizeram fracassar o processo de paz?» Amira Hass, jornalista e escritora israelita cujos pais conseguiram sobreviver aos campos de concentração hitlerianos, vê «traição» no comportamento da Alemanha e, por extensão, dos países ocidentais. Escreve que os dirigentes alemães, «com a sua responsabilidade decorrente do Holocausto», «traíram-nos com o seu apoio incondicional a um país como Israel que ocupa, priva as pessoas de água, rouba terras, aprisiona dois milhões de habitantes de Gaza numa jaula lotada, arrasa casas, expulsa comunidades inteiras de suas casas e incentiva a violência dos colonos». Será Amira Hass uma antissemita ao descrever com realismo e objectividade as práticas do seu governo? A estes crimes há a juntar o de limpeza étnica, assunto abordado com pudor, envolvido por forte pressão censória, e para a qual existem planos destinados à Faixa de Gaza – em sintonia com a intenção proclamada por Netanyahu de «esvaziar» o território como parte da construção de um novo Médio Oriente. Porquê estranhar que se fale em limpeza étnica? Não nasceu o Estado de Israel da expulsão de 750 mil pessoas das suas terras e casas? A colonização não é uma forma de limpeza étnica? E o que dizer desta explicação do ex-ministro dos Negócios Estrangeiros israelita Danny Ayalon: «Não dizemos aos habitantes de Gaza para irem para as praias e afogarem-se… Não, Deus proíbe-o. Vão para o deserto do Sinai – a comunidade internacional irá construir-lhes cidades e dar-lhes de comer»…? Para que isto aconteça, estrategos norte-americanos e israelitas delinearam planos prontos a aplicar: a dúvida é saber quanto tempo resistirá o Egipto às pressões para receber os «refugiados» de Gaza e como irá reagir o mundo árabe e islâmico. É inegável a solidariedade incondicional do Ocidente para com Israel e o seu regime sionista, na verdade uma parte integrante do «Ocidente colectivo». Poderão os países da União Europeia e da NATO dizer que estão com Israel e, ao mesmo, distanciarem-se da matança implacável que este país comete em Gaza? Não podem. O pacote da solidariedade é compacto, indivisível. Seria de supor, se estivéssemos a lidar com gente séria e com princípios, que Israel, para merecer a solidariedade ocidental e fazer parte dessa elite, respeitasse todos os princípios venturosos que fazem parte da cartilha orientadora da nossa «civilização» ajardinada. Cotejemos então a correspondência das práticas de Israel com as apregoadas virtudes que asseguram a superioridade moral e civilizacional do Ocidente. Israel deve, portanto, respeitar os direitos humanos. Não se percebe como cumpre essa norma, olhando para a situação e o tratamento dos palestinianos, sem esquecer a discriminação dos israelitas que não são judeus. Sobre o respeito pelas liberdades cívicas há igualmente qualquer coisa que não parece bem. Israel segrega, maltrata e reprime as pessoas que estão sob sua responsabilidade como potência ocupante (violação das convenções de Genebra); e também estruturou uma forma de Estado onde existem pessoas com menos direitos que outras, uma elite e comunidades de segunda. Apartheid e terrorismo serão compatíveis com direitos humanos e liberdades cívicas? As forças armadas sionistas que participam em exercícios atlantistas são as mesmas que fazem jorrar o sangue de civis indefesos na Palestina, impedidos de escapar às suas bombas. Israel está a cometer mais um acto de apogeu da chacina a que tem vindo a submeter impunemente a população da Faixa de Gaza – e da Palestina em geral – durante as últimas décadas. Os alvos não são «os túneis do Hamas», como informa o regime sionista, mas dois milhões de pessoas que vivem enclausuradas num imenso campo de concentração do qual não podem escapar. Não se trata de um «confronto»: é uma barbárie. Algumas notas sobre o que está a passar-se. A Faixa de Gaza e a respectiva população são um alvo que Israel tem sempre à mão quando necessita de recorrer a manobras de diversão por causa da degradação política interna, como acontece no momento actual, em que se misturam a prolongada indefinição governativa, a corrupção a alto nível do regime e a polémica gestão da pandemia – por sinal, insolitamente elogiada no plano internacional. «A Faixa de Gaza e a respectiva população são um alvo que Israel tem sempre à mão quando necessita de recorrer a manobras de diversão por causa da degradação política interna, como acontece no momento actual» Os dirigentes sionistas não duvidam, nem por um instante, de que podem utilizar o instrumento da guerra contra Gaza porque sabem que a chamada comunidade internacional o permite. As instâncias internacionais, com a ONU à cabeça, e as grandes potências, com destaque para os Estados Unidos e a União Europeia, permitem tudo a Israel sem assumir uma única medida para conter a barbárie. Há mais de 70 anos que a comunidade internacional se vem dotando de instrumentos legais para fazer respeitar os direitos inalienáveis do povo palestiniano e há mais de 70 anos que eles são interpretados como letra morta. Este comportamento é um incentivo à discricionariedade de Israel; e Israel aproveita-o consoante as suas conveniências sabendo que nada de mal lhe acontecerá e nenhuma reacção irá além do apelo à «moderação» e a um «cessar-cessar entre as partes». Isto é, entre uma «parte» que pode tudo e uma «parte» que sofre tudo. Os foguetes do Hamas são irrelevantes quando comparados com o aparelho de guerra usado pelo regime sionista. A actuação da comunidade internacional na questão israelo-palestiniana é o exemplo mais flagrante da sua permanente utilização do sistema de pesos e medidas variáveis. Isolada pela comunidade internacional em geral, a Palestina conta cada vez menos com a solidariedade do chamado mundo árabe. Sob a égide da administração Trump nos Estados Unidos, países árabes como os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein juntaram-se recentemente ao Egipto na normalização das relações com Israel, o que significa abandonar a defesa dos direitos dos palestinianos. Acresce que existem, de facto, relações diplomáticas entre o Estado sionista e a Arábia Saudita, encimadas pela amizade e afinidades entre o primeiro-ministro Netanyahu e o herdeiro do trono wahabita, Mohammed Bin Salman. Uma aliança sobre os escombros da Palestina. «Há mais de 70 anos que a comunidade internacional se vem dotando de instrumentos legais para fazer respeitar os direitos inalienáveis do povo palestiniano e há mais de 70 anos que eles são interpretados como letra morta. Este comportamento é um incentivo à discricionariedade de Israel» Na prática, a solidariedade árabe nunca desempenhou um papel que permitisse a criação de um Estado palestiniano, como determinam as normas e a doutrina estabelecidas pela comunidade internacional. O reconhecimento de Israel por cada vez mais países árabes, porém, reforça a ideia de que o problema palestiniano poderá ter outras «soluções» que não sejam a criação de um Estado palestiniano independente, viável e plenamente soberano. Por outro lado, as relações entre países árabes e Israel transformam cada vez mais o Estado sionista numa entidade plenamente integrada no Médio Oriente, dando assim forma ao arranjo pretendido pelos Estados Unidos de uma região com duas potências dominantes – Israel e Arábia Saudita –, ambas viradas contra o Irão. O novo pico de guerra de Israel contra Gaza não pode desligar-se dos permanentes esforços de Israel para tentar provocar uma guerra directa contra o Irão – à qual as administrações norte-americanas ainda têm resistido. A ofensiva supostamente «contra o Hamas» – grupo que Israel liga a Teerão apesar de ser sunita e não xiita – acontece no preciso momento em que a administração Biden ainda não definiu se regressa ou não ao acordo nuclear 5+1 com o Irão. A mensagem israelita é directa: apoiando grupos activos no Médio Oriente, como o Hezbollah no Líbano e na Síria e o Hamas na Palestina, o Irão terá de ser desencorajado de o fazer. E os acordos com Teerão têm de ser invalidados. Por muito que possam vir a proclamar verbalmente o contrário, os Estados Unidos e a União Europeia estão por detrás de mais esta chacina israelita em Gaza. Se em relação a Washington não existe qualquer dúvida, tanto mais que o aparelho do Partido Democrata no poder é o que está mais sintonizado com os interesses dominantes do sionismo, poderão levantar-se reticências em relação ao papel da União Europeia. «a prática de Bruxelas e dos 27 é objectivamente favorável às atitudes assumidas por Israel, sejam elas quais forem: nada fazem para que seja concretizada a solução de dois Estados na Palestina, mantêm relações económicas e políticas preferenciais com Israel e não assumem nas instâncias internacionais qualquer posição contra as atitudes militares extremas do sionismo» O que não tem qualquer razão de ser. Apesar de algumas declarações de distanciamento, como foi o caso por ocasião da transferência da embaixada norte-americana para Jerusalém, a prática de Bruxelas e dos 27 é objectivamente favorável às atitudes assumidas por Israel, sejam elas quais forem: nada fazem para que seja concretizada a solução de dois Estados na Palestina, mantêm relações económicas e políticas preferenciais com Israel e não assumem nas instâncias internacionais qualquer posição contra as atitudes militares extremas do sionismo. Antes pelo contrário: Israel é um parceiro activo da NATO – que rege a União Europeia do ponto de vista militar – e está mesmo envolvido nos exercícios em curso na Grécia e no Mar Egeu no quadro dos jogos de guerra «Defender Europe». Isto é, as forças armadas sionistas que participam em exercícios atlantistas são as mesmas que fazem jorrar o sangue de civis indefesos na Palestina, impedidos de escapar às suas bombas. Uma aliança que dizima vidas e direitos humanos. A mensagem de Israel com esta nova operação de barbárie é directa: nada fará parar o sionismo no seu objectivo de limpar e submeter etnicamente a Palestina e de impedir qualquer tentativa, por débil que seja, de implementar a solução de dois Estados. O instrumento para concretizar esse objectivo é a colonização ininterrupta dos territórios da Cisjordânia – a par do cerco férreo a Gaza – de maneira a estender a ocupação, inviabilizar as possibilidades territoriais de instaurar um Estado e quebrar a resistência nacional palestiniana. «a operação militar sionista assumiu as já conhecidas proporções de punição colectiva. Contando, para isso, com a habitual impunidade que lhe é assegurada pelas instâncias internacionais. De facto, Israel usa o terrorismo para impor a lei do mais forte sabendo que encontrará pouca oposição e condenação nenhuma» Nas últimas semanas o regime sionista expulsou mais famílias e arrasou as suas habitações no bairro de Sheik Jarrah, em Jerusalém Leste, no quadro da «limpeza» de todos os palestinianos da cidade. Acontece que a ofensiva encontrou forte resistência da população atingida, sinal de que, apesar de isolados internacionalmente, os palestinianos não estão dispostos a abdicar dos seus direitos. Uma vez que Gaza respondeu à agressão e da Faixa de Gaza foram disparados foguetes contra território israelita, a operação militar sionista assumiu as já conhecidas proporções de punição colectiva. Contando, para isso, com a habitual impunidade que lhe é assegurada pelas instâncias internacionais. De facto, Israel usa o terrorismo para impor a lei do mais forte sabendo que encontrará pouca oposição e condenação nenhuma. A nova fase da chacina contra Gaza e da limpeza étnica da Cisjordânia é, afinal, mais um passo no sentido de um desfecho que inviabilize de vez a solução de dois Estados na Palestina. Ao mesmo tempo que este princípio vai sendo invocado como um mantra cada vez mais vazio de significado pelos que insistem em dizer-se defensores das leis internacionais e dos direitos humanos. Enquanto isto, continuam a morrer inocentes indefesos e a Nakba, o holocausto palestiniano, prossegue, dia após dia, sob os olhos e a passividade do mundo. Até ao último dos palestinianos. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Estado de direito? É improvável que Israel o seja: instituiu o apartheid, formatou um Estado para um só povo e uma só religião onde o primeiro-ministro, além disso, continua a querer acabar com a independência do aparelho judicial para apagar os seus casos de corrupção. Quanto ao direito internacional, Israel é um fora-de-lei. Viola e até achincalha as resoluções da ONU, insulta quem, com toda a objectividade, ponha em causa as suas verdades absolutas – nem o secretário-geral da ONU escapa –, pratica o terrorismo, desrespeita as suas obrigações como potência ocupante, liquidou o processo de paz, neste caso com a prestável ajuda dos Estados Unidos e da União Europeia. Nada há de surpreendente neste comportamento recorrente do «mundo civilizado». Não foram as principais potências da União Europeia, França e Alemanha, que assinaram os acordos de Minsk sobre a Ucrânia sabendo que iriam ser violados? Com base numa definição parcial, messiânica, xenófoba e propagandística, Israel acusa de antissemitismo toda e qualquer pessoa, instituição ou país que não esteja de acordo com as práticas do regime. Também nesta matéria os países e os media ocidentais seguem incondicionalmente as posições israelitas, elas próprias antissemitas no sentido autêntico do termo. O povo palestiniano, os povos árabes são semitas, tal como os judeus. O extermínio em Gaza, as incursões punitivas e cleptómanas dos esquadrões da morte de colonos, a atribuição da condição de cidadãos de segunda aos israelitas de origem árabe são manifestações claras de racismo e de antissemitismo. A propaganda israelita faz confundir ostensivamente as críticas ao sionismo, as denúncias dos crimes do governo de Telavive e até as acusações ao comportamento de Netanyahu como casos de antissemitismo. Além de xenófobo, este tipo de propaganda esconde uma das mais expandidas formas de antissemitismo: a que se manifesta contra os árabes – e até contra os muçulmanos, no seu complemento islamofóbico. Vimos que a escritora israelita Amira Hass é uma antissemita, segundo os cânones oficiais do sionismo. E será também antissemita o prestigiado jornalista Gideon Levy, do diário Haaretz, quando escreve que «só psiquiatras podem explicar o comportamento de Israel»? E o que dizer do antissemitismo do próprio Haaretz quando na sua secção editorial se pode ler que «inegavelmente, o governo israelita é o único responsável pelo que acontece, por negar os direitos dos palestinianos»? E serão antissemitas os milhões de judeus não-sionistas, por exemplo a multidão imensa que recentemente tomou a Estação Central de Nova York em solidariedade com a Palestina e os palestinianos? Os países ocidentais acompanham incondicionalmente Israel nesta deriva em que viola, ponto por ponto, todos os princípios de que se ufana o Ocidente para se distinguir, de forma xenófoba, arrogante e colonial, da «barbárie» que diz persegui-lo. «E o que dizer do antissemitismo do próprio Haaretz quando na sua secção editorial se pode ler que "inegavelmente, o governo israelita é o único responsável pelo que acontece, por negar os direitos dos palestinianos"?» Mas quem melhor traduz este cenário de cumplicidades, mentiras, falsificações e cobertura do terrorismo é o jornal New York Times, a bússola pela qual se guia qualquer dirigente ocidental que se preze e serve de modelo a qualquer publicação «de referência». Pois o Conselho Editorial dessa bíblia intocável sentenciou: «Israel pode defender-se e defender os seus valores; o que Israel está a fazer é lutar para defender uma sociedade que valoriza a vida humana e os estado de direito». É o retrato da grande mentira em que vivemos, escondida numa verdade única que vai dissolvendo o contraditório e, no fundo, a realidade na qual os povos ocidentais se movem. A situação, porém, está a mudar e as manifestações que juntam milhões de pessoas em todo o mundo, comovidas e solidárias com a luta e os direitos dos palestinianos, provam-nos que a consciência da realidade começa a perfurar a monstruosa e tóxica barreira da corrupção política e da mistificação mediática associada à propaganda sionista e terrorista. Dominique de Villepin, diplomata e ex-primeiro-ministro da França (2005-2007) na presidência de Jacques Chirac, está em Gaza. Numa entrevista a uma rádio francesa não esconde o papel daquilo a que chama o «ocidentalismo» na tragédia humana que ali se vive. O «ocidentalismo», disse, «é a ideia de que o Ocidente, que durante cinco séculos geriu os interesses do mundo, será capaz de continuar a fazê-lo silenciosamente. E podemos ver claramente, mesmo nos debates da classe política francesa, que existe a ideia de que, face ao que está a acontecer actualmente no Médio Oriente, temos de continuar ainda mais a luta, rumo ao que pode considerar-se uma guerra religiosa ou civilizacional. Ou seja, isolarmo-nos ainda mais no cenário internacional». Villepin considera também que este comportamento está associado à «armadilha do moralismo»: «Temos a prova disso através do que está a acontecer na Ucrânia e no Médio Oriente, da dualidade de critérios que é denunciada em todo o mundo». Dualidade de que George Orwell já falava no seu famoso 1984 invocando o conceito de doublethink (pensamento duplo), que definiu desta maneira: «repudia a moralidade enquanto a reivindica». Uma perspectiva que reproduz na perfeição, principalmente agora, na confluência das situações na Ucrânia e no Médio Oriente, a falsidade, a insensibilidade, a desumanidade do comportamento da «civilização ocidental» e a sua miséria moral. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença.Opinião|
A miséria moral da «civilização ocidental»

Opinião|
As danças de Israel com o Hamas (I)

Opinião|
As danças de Israel com o Hamas (II)

A inteligência e a «falha»
Nacional|
«Se a terra dos homens é de todos os homens, acaso os palestinos não são pessoas?»

Internacional|
Vários jornalistas palestinianos mortos no massacre de Gaza

Internacional|
Continua o massacre israelita de Gaza

Internacional|
MPPM. Só haverá paz quando forem reconhecidos os direitos do povo palestiniano

Internacional|
Resistência palestiniana unida em torno da operação contra Israel

Internacional|
Colonos e forças israelitas matam quatro palestinianos na Cisjordânia

Internacional|
Ministro israelita das Finanças defende a «aniquilação» de terra palestiniana

OLP classifica Smotrich como «terrorista racista» e AP pede ajuda internacional
Parlamento Árabe condena violência dos colonos
Contribui para uma boa ideia
Rudeineh: a ocupação israelita pisou todas as linhas vermelhas
Contribui para uma boa ideia
Resposta aos sistemáticos crimes israelitas
Internacional|
Israel deteve 135 mil palestinianos nos últimos 23 anos

Internacional|
Número recorde de presos palestinianos ao abrigo da detenção administrativa

Internacional|
Nove presos palestinianos mantêm protesto contra a detenção administrativa

Internacional|
Presos palestinianos em greve de fome contra a detenção administrativa

Internacional|
«Ou nos submetemos ou nos revoltamos»: 30 presos palestinianos continuam em luta

Internacional|
Trinta presos palestinianos em protesto contra a detenção administrativa

Internacional|
Israel decretou 1595 ordens de detenção administrativa contra palestinianos em 2021

Internacional|
Presos palestinianos continuam protesto contra a detenção administrativa

Internacional|
Israel prendeu 5426 palestinianos na primeira metade do ano

Quase 5500 detidos em seis meses
Internacional|
Forças israelitas prenderam 230 menores palestinianos desde Janeiro

Detenção administrativa e maus-tratos
Internacional|
A «viagem ao inferno» dos jovens palestinianos detidos por Israel

Uma «viagem sem fim ao inferno»
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Vários presos em greve de fome contra a detenção administrativa
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
«Semearemos alegria, vida e esperança»
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
1083 presos em detenção administrativa
Internacional|
Preso palestiniano morreu na cadeia após 86 dias em greve de fome

Internacional|
835 palestinianos em regime de detenção administrativa nas cadeias israelitas

Internacional|
«Ou nos submetemos ou nos revoltamos»: 30 presos palestinianos continuam em luta

Internacional|
Trinta presos palestinianos em protesto contra a detenção administrativa

Internacional|
Israel decretou 1595 ordens de detenção administrativa contra palestinianos em 2021

Internacional|
Presos palestinianos continuam protesto contra a detenção administrativa

Internacional|
Israel prendeu 5426 palestinianos na primeira metade do ano

Quase 5500 detidos em seis meses
Internacional|
Forças israelitas prenderam 230 menores palestinianos desde Janeiro

Detenção administrativa e maus-tratos
Internacional|
A «viagem ao inferno» dos jovens palestinianos detidos por Israel

Uma «viagem sem fim ao inferno»
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Vários presos em greve de fome contra a detenção administrativa
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
«Semearemos alegria, vida e esperança»
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
6500 palestinianos presos por Israel este ano, 490 dos quais em Novembro
Internacional|
Israel prendeu 5300 palestinianos desde o início do ano


Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
32 mil ordens de detenção administrativa
Internacional|
A «viagem ao inferno» dos jovens palestinianos detidos por Israel

Uma «viagem sem fim ao inferno»
Contribui para uma boa ideia
Incitação racista, tortura, execuções lentas
Contribui para uma boa ideia
Bombardeamentos israelitas sobre Gaza provocam elevado número de vítimas
Contribui para uma boa ideia
Internacional|
Israel «branqueia crimes» das suas forças na Grande Marcha do Retorno

Internacional|
Centenas de palestinianos enfrentam forças de segurança israelitas em Gaza

Contribui para uma boa ideia
«Uma cortina de fumo para proteger os funcionários responsáveis»
Internacional|
EUA mudam embaixada para Jerusalém e Israel massacra manifestantes em Gaza

Repúdio geral
Antecipação da mudança
Franco-atiradores israelitas matam dezenas em Gaza
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Sobre os que condenam a resistência
Internacional|
Palestina pede à ONU protecção especial para as crianças

Internacional|
Desde 2014 que não eram mortas tantas crianças palestinianas

Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Operação Dilúvio de Jerusalém
Escolas da UNRWA atingidas
Contribui para uma boa ideia
Apelo a associações e instituições internacionais
Internacional|
Solidários com a luta do povo palestiniano, sírios denunciam a brutalidade de Israel

Mobilizações de apoio à Palestina pelo mundo fora
Internacional|
Continua o massacre israelita de Gaza

Internacional|
MPPM. Só haverá paz quando forem reconhecidos os direitos do povo palestiniano

Internacional|
Resistência palestiniana unida em torno da operação contra Israel

Internacional|
Colonos e forças israelitas matam quatro palestinianos na Cisjordânia

Internacional|
Ministro israelita das Finanças defende a «aniquilação» de terra palestiniana

OLP classifica Smotrich como «terrorista racista» e AP pede ajuda internacional
Parlamento Árabe condena violência dos colonos
Contribui para uma boa ideia
Rudeineh: a ocupação israelita pisou todas as linhas vermelhas
Contribui para uma boa ideia
Resposta aos sistemáticos crimes israelitas
Internacional|
Israel deteve 135 mil palestinianos nos últimos 23 anos

Internacional|
Número recorde de presos palestinianos ao abrigo da detenção administrativa

Internacional|
Nove presos palestinianos mantêm protesto contra a detenção administrativa

Internacional|
Presos palestinianos em greve de fome contra a detenção administrativa

Internacional|
«Ou nos submetemos ou nos revoltamos»: 30 presos palestinianos continuam em luta

Internacional|
Trinta presos palestinianos em protesto contra a detenção administrativa

Internacional|
Israel decretou 1595 ordens de detenção administrativa contra palestinianos em 2021

Internacional|
Presos palestinianos continuam protesto contra a detenção administrativa

Internacional|
Israel prendeu 5426 palestinianos na primeira metade do ano

Quase 5500 detidos em seis meses
Internacional|
Forças israelitas prenderam 230 menores palestinianos desde Janeiro

Detenção administrativa e maus-tratos
Internacional|
A «viagem ao inferno» dos jovens palestinianos detidos por Israel

Uma «viagem sem fim ao inferno»
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Vários presos em greve de fome contra a detenção administrativa
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
«Semearemos alegria, vida e esperança»
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
1083 presos em detenção administrativa
Internacional|
Preso palestiniano morreu na cadeia após 86 dias em greve de fome

Internacional|
835 palestinianos em regime de detenção administrativa nas cadeias israelitas

Internacional|
«Ou nos submetemos ou nos revoltamos»: 30 presos palestinianos continuam em luta

Internacional|
Trinta presos palestinianos em protesto contra a detenção administrativa

Internacional|
Israel decretou 1595 ordens de detenção administrativa contra palestinianos em 2021

Internacional|
Presos palestinianos continuam protesto contra a detenção administrativa

Internacional|
Israel prendeu 5426 palestinianos na primeira metade do ano

Quase 5500 detidos em seis meses
Internacional|
Forças israelitas prenderam 230 menores palestinianos desde Janeiro

Detenção administrativa e maus-tratos
Internacional|
A «viagem ao inferno» dos jovens palestinianos detidos por Israel

Uma «viagem sem fim ao inferno»
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Vários presos em greve de fome contra a detenção administrativa
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
«Semearemos alegria, vida e esperança»
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
6500 palestinianos presos por Israel este ano, 490 dos quais em Novembro
Internacional|
Israel prendeu 5300 palestinianos desde o início do ano


Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
32 mil ordens de detenção administrativa
Internacional|
A «viagem ao inferno» dos jovens palestinianos detidos por Israel

Uma «viagem sem fim ao inferno»
Contribui para uma boa ideia
Incitação racista, tortura, execuções lentas
Contribui para uma boa ideia
Bombardeamentos israelitas sobre Gaza provocam elevado número de vítimas
Contribui para uma boa ideia
Internacional|
Israel «branqueia crimes» das suas forças na Grande Marcha do Retorno

Internacional|
Centenas de palestinianos enfrentam forças de segurança israelitas em Gaza

Contribui para uma boa ideia
«Uma cortina de fumo para proteger os funcionários responsáveis»
Internacional|
EUA mudam embaixada para Jerusalém e Israel massacra manifestantes em Gaza

Repúdio geral
Antecipação da mudança
Franco-atiradores israelitas matam dezenas em Gaza
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Sobre os que condenam a resistência
Internacional|
Palestina pede à ONU protecção especial para as crianças

Internacional|
Desde 2014 que não eram mortas tantas crianças palestinianas

Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Operação Dilúvio de Jerusalém
Escolas da UNRWA atingidas
Contribui para uma boa ideia
Enorme destruição no «campo da morte certa»
Mais de 22 mil unidades habitacionais destruídas em quatro dias
Nacional|
Movimentos e sindicatos convocam acto público pela «paz no Médio Oriente»

Internacional|
MPPM. Só haverá paz quando forem reconhecidos os direitos do povo palestiniano

Internacional|
Resistência palestiniana unida em torno da operação contra Israel

Internacional|
Colonos e forças israelitas matam quatro palestinianos na Cisjordânia

Internacional|
Ministro israelita das Finanças defende a «aniquilação» de terra palestiniana

OLP classifica Smotrich como «terrorista racista» e AP pede ajuda internacional
Parlamento Árabe condena violência dos colonos
Contribui para uma boa ideia
Rudeineh: a ocupação israelita pisou todas as linhas vermelhas
Contribui para uma boa ideia
Resposta aos sistemáticos crimes israelitas
Internacional|
Israel deteve 135 mil palestinianos nos últimos 23 anos

Internacional|
Número recorde de presos palestinianos ao abrigo da detenção administrativa

Internacional|
Nove presos palestinianos mantêm protesto contra a detenção administrativa

Internacional|
Presos palestinianos em greve de fome contra a detenção administrativa

Internacional|
«Ou nos submetemos ou nos revoltamos»: 30 presos palestinianos continuam em luta

Internacional|
Trinta presos palestinianos em protesto contra a detenção administrativa

Internacional|
Israel decretou 1595 ordens de detenção administrativa contra palestinianos em 2021

Internacional|
Presos palestinianos continuam protesto contra a detenção administrativa

Internacional|
Israel prendeu 5426 palestinianos na primeira metade do ano

Quase 5500 detidos em seis meses
Internacional|
Forças israelitas prenderam 230 menores palestinianos desde Janeiro

Detenção administrativa e maus-tratos
Internacional|
A «viagem ao inferno» dos jovens palestinianos detidos por Israel

Uma «viagem sem fim ao inferno»
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Vários presos em greve de fome contra a detenção administrativa
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
«Semearemos alegria, vida e esperança»
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
1083 presos em detenção administrativa
Internacional|
Preso palestiniano morreu na cadeia após 86 dias em greve de fome

Internacional|
835 palestinianos em regime de detenção administrativa nas cadeias israelitas

Internacional|
«Ou nos submetemos ou nos revoltamos»: 30 presos palestinianos continuam em luta

Internacional|
Trinta presos palestinianos em protesto contra a detenção administrativa

Internacional|
Israel decretou 1595 ordens de detenção administrativa contra palestinianos em 2021

Internacional|
Presos palestinianos continuam protesto contra a detenção administrativa

Internacional|
Israel prendeu 5426 palestinianos na primeira metade do ano

Quase 5500 detidos em seis meses
Internacional|
Forças israelitas prenderam 230 menores palestinianos desde Janeiro

Detenção administrativa e maus-tratos
Internacional|
A «viagem ao inferno» dos jovens palestinianos detidos por Israel

Uma «viagem sem fim ao inferno»
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Vários presos em greve de fome contra a detenção administrativa
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
«Semearemos alegria, vida e esperança»
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
6500 palestinianos presos por Israel este ano, 490 dos quais em Novembro
Internacional|
Israel prendeu 5300 palestinianos desde o início do ano


Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
32 mil ordens de detenção administrativa
Internacional|
A «viagem ao inferno» dos jovens palestinianos detidos por Israel

Uma «viagem sem fim ao inferno»
Contribui para uma boa ideia
Incitação racista, tortura, execuções lentas
Contribui para uma boa ideia
Bombardeamentos israelitas sobre Gaza provocam elevado número de vítimas
Contribui para uma boa ideia
Internacional|
Israel «branqueia crimes» das suas forças na Grande Marcha do Retorno

Internacional|
Centenas de palestinianos enfrentam forças de segurança israelitas em Gaza

Contribui para uma boa ideia
«Uma cortina de fumo para proteger os funcionários responsáveis»
Internacional|
EUA mudam embaixada para Jerusalém e Israel massacra manifestantes em Gaza

Repúdio geral
Antecipação da mudança
Franco-atiradores israelitas matam dezenas em Gaza
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Sobre os que condenam a resistência
Internacional|
Palestina pede à ONU protecção especial para as crianças

Internacional|
Desde 2014 que não eram mortas tantas crianças palestinianas

Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Internacional|
Continua o massacre israelita de Gaza

Internacional|
MPPM. Só haverá paz quando forem reconhecidos os direitos do povo palestiniano

Internacional|
Resistência palestiniana unida em torno da operação contra Israel

Internacional|
Colonos e forças israelitas matam quatro palestinianos na Cisjordânia

Internacional|
Ministro israelita das Finanças defende a «aniquilação» de terra palestiniana

OLP classifica Smotrich como «terrorista racista» e AP pede ajuda internacional
Parlamento Árabe condena violência dos colonos
Contribui para uma boa ideia
Rudeineh: a ocupação israelita pisou todas as linhas vermelhas
Contribui para uma boa ideia
Resposta aos sistemáticos crimes israelitas
Internacional|
Israel deteve 135 mil palestinianos nos últimos 23 anos

Internacional|
Número recorde de presos palestinianos ao abrigo da detenção administrativa

Internacional|
Nove presos palestinianos mantêm protesto contra a detenção administrativa

Internacional|
Presos palestinianos em greve de fome contra a detenção administrativa

Internacional|
«Ou nos submetemos ou nos revoltamos»: 30 presos palestinianos continuam em luta

Internacional|
Trinta presos palestinianos em protesto contra a detenção administrativa

Internacional|
Israel decretou 1595 ordens de detenção administrativa contra palestinianos em 2021

Internacional|
Presos palestinianos continuam protesto contra a detenção administrativa

Internacional|
Israel prendeu 5426 palestinianos na primeira metade do ano

Quase 5500 detidos em seis meses
Internacional|
Forças israelitas prenderam 230 menores palestinianos desde Janeiro

Detenção administrativa e maus-tratos
Internacional|
A «viagem ao inferno» dos jovens palestinianos detidos por Israel

Uma «viagem sem fim ao inferno»
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Vários presos em greve de fome contra a detenção administrativa
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
«Semearemos alegria, vida e esperança»
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
1083 presos em detenção administrativa
Internacional|
Preso palestiniano morreu na cadeia após 86 dias em greve de fome

Internacional|
835 palestinianos em regime de detenção administrativa nas cadeias israelitas

Internacional|
«Ou nos submetemos ou nos revoltamos»: 30 presos palestinianos continuam em luta

Internacional|
Trinta presos palestinianos em protesto contra a detenção administrativa

Internacional|
Israel decretou 1595 ordens de detenção administrativa contra palestinianos em 2021

Internacional|
Presos palestinianos continuam protesto contra a detenção administrativa

Internacional|
Israel prendeu 5426 palestinianos na primeira metade do ano

Quase 5500 detidos em seis meses
Internacional|
Forças israelitas prenderam 230 menores palestinianos desde Janeiro

Detenção administrativa e maus-tratos
Internacional|
A «viagem ao inferno» dos jovens palestinianos detidos por Israel

Uma «viagem sem fim ao inferno»
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Vários presos em greve de fome contra a detenção administrativa
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
«Semearemos alegria, vida e esperança»
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
6500 palestinianos presos por Israel este ano, 490 dos quais em Novembro
Internacional|
Israel prendeu 5300 palestinianos desde o início do ano


Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
32 mil ordens de detenção administrativa
Internacional|
A «viagem ao inferno» dos jovens palestinianos detidos por Israel

Uma «viagem sem fim ao inferno»
Contribui para uma boa ideia
Incitação racista, tortura, execuções lentas
Contribui para uma boa ideia
Bombardeamentos israelitas sobre Gaza provocam elevado número de vítimas
Contribui para uma boa ideia
Internacional|
Israel «branqueia crimes» das suas forças na Grande Marcha do Retorno

Internacional|
Centenas de palestinianos enfrentam forças de segurança israelitas em Gaza

Contribui para uma boa ideia
«Uma cortina de fumo para proteger os funcionários responsáveis»
Internacional|
EUA mudam embaixada para Jerusalém e Israel massacra manifestantes em Gaza

Repúdio geral
Antecipação da mudança
Franco-atiradores israelitas matam dezenas em Gaza
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Sobre os que condenam a resistência
Internacional|
Palestina pede à ONU protecção especial para as crianças

Internacional|
Desde 2014 que não eram mortas tantas crianças palestinianas

Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Operação Dilúvio de Jerusalém
Escolas da UNRWA atingidas
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Uma população e um território mártir
Opinião|
Gaza, notas sobre uma chacina

1) O principal responsável pelo massacre não é Israel: é a chamada comunidade internacional
2) O mundo árabe isola cada vez mais a Palestina
3. Um massacre com o Irão na mira
4. O papel dos Estados Unidos, União Europeia e NATO
5. A causa próxima: colonização e limpeza étnica
Contribui para uma boa ideia
A mão de Israel no Hamas
Processo de paz e processo de guerra
Opinião|
A matança, o cessar-fogo e a solução de dois estados

Da colonização ao extermínio
Contaminação xenófoba
Por que não carregar onde dói?
Opinião|
Gaza, notas sobre uma chacina

1) O principal responsável pelo massacre não é Israel: é a chamada comunidade internacional
2) O mundo árabe isola cada vez mais a Palestina
3. Um massacre com o Irão na mira
4. O papel dos Estados Unidos, União Europeia e NATO
5. A causa próxima: colonização e limpeza étnica
Contribui para uma boa ideia
Impossível?
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
O mapa de Netanyahu e a distracção ocidental
Opinião
Os «nossos valores» sequestrados

Liberdade e democracia
Direitos humanos
Opinião|
A União Europeia morreu e ninguém a informou

Willy Brandt, chanceler da República Federal da Alemanha, 1974Salve-se quem puder
O que resta?
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Cotejemos então
Opinião|
Gaza, notas sobre uma chacina

1) O principal responsável pelo massacre não é Israel: é a chamada comunidade internacional
2) O mundo árabe isola cada vez mais a Palestina
3. Um massacre com o Irão na mira
4. O papel dos Estados Unidos, União Europeia e NATO
5. A causa próxima: colonização e limpeza étnica
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
A designação de «Opção Sansão», à luz do «Livro dos Juízes» do Velho Testamento, conduz-nos ainda para a hipótese de «suicídio» de Israel, se for necessário para «acabar com o mundo», citando Sharon, no caso de o país ter de enfrentar um ataque que represente uma ameaça existencial. De acordo com a lenda, Sansão, juiz de Israel, provocou a própria morte ao usar a sua força para derrubar uma coluna de um templo dos filisteus em Gaza, esmagando todos os ocupantes no correspondente desabamento do edifício. Os filisteus, povo de «bárbaros incivilizados» segundo a leitura sionista do Antigo Testamento – há coisas que nunca mudam em três mil anos – eram os «inimigos de Israel», que governaram territórios na orla mediterrânica onde se situam cidades ao sul da actual Telavive como Asquelom, Ecron e Gaza. Os seus domínios faziam fronteira com os Estados de Israel e de Judá desde 1100 anos antes de Cristo, existindo uma situação de guerra permanente na região. Em traduções portuguesas da Bíblia, Filisteus e Palestinos são sinónimos, pelo que, simbolicamente, Sansão suicidou-se para esmagar os inimigos palestinianos.
O governo actual de Israel, intérprete de uma doutrina que pretende sequestrar o judaísmo e o resto do mundo de acordo com delírios de grandeza divinos e extraterrenos, como reconhecem experientes ex-dirigentes israelitas, ameaça a vida no planeta com recurso a instrumentos bem reais e exterminadores como são as armas nucleares em seu poder. E no planeta nada acontece para o travar. Pelo contrário, aqueles que continuam a achar-se com o direito, também mais ou menos sobrenatural, de governar o mundo cultivando a guerra e asfixiando o conceito de paz, continuam a dar-lhe a mão (e as armas) e a caminhar a seu lado – o que, em boa verdade, faz todo o sentido, ainda que ameace a vida de oito mil milhões de pessoas.
E, por favor, não acreditem em milagres: a simples queda de Netanyahu como primeiro-ministro é o mesmo que tentar curar um cancro terminal com uma aspirina.
Contribui para uma boa ideia
Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz.
O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença.
Contribui aqui