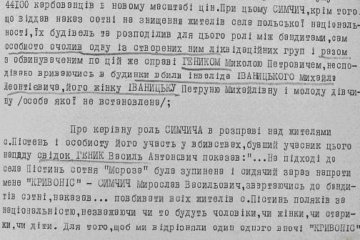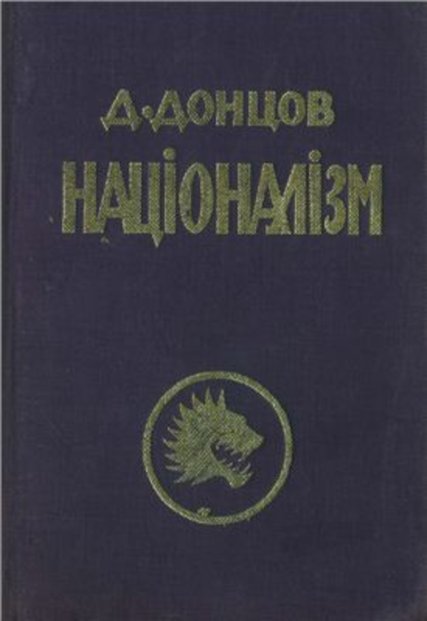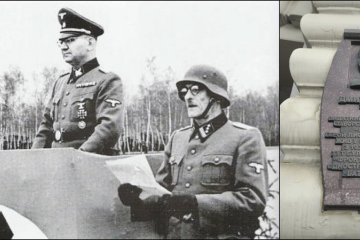Ao olhar desapaixonadamente para a relação entre a Revolução de 25 de Abril de 1974 e o cenário político, social, económico e militar hoje existente em Portugal não será abusivo concluir que o maior engano dos militares revolucionários, ou talvez o seu mais desmedido atrevimento, foi o de terem marcado tão fortemente o movimento transformador com a intenção de instaurar políticas de paz e de independência nacional.
Por alguma razão, a nova classe política emergente a partir de Novembro de 1975 os quis mandar rapidamente para os quartéis. Paz e soberania nacional não estavam, como hoje se percebe, nos programas dos políticos com ambições de poder que então já se perfilavam para tomar conta do 25 de Abril e torneá-lo à sua maneira, de acordo com as instruções dos patrocinadores externos. Não contavam, é certo, com o fulgor e a rapidez com que o povo se uniu ao MFA, fazendo seu o programa dos corajosos militares e defendendo-o nas ruas, nos locais de trabalho e nas organizações populares nascentes, começando assim a modelar verdadeiramente um novo país.
Os ambiciosos políticos que pouco ou nada fizeram para abalar os alicerces do fascismo, e que ainda hoje têm pudor em qualificar assim o regime beato-salazarista, foram inegavelmente apanhados de surpresa pela súbita dinâmica militar e popular. O carácter verdadeiramente revolucionário e de ruptura que começou a ser afirmado no próprio dia 25 de Abril trocou as voltas aos que ainda em pleno período da «primavera marcelista», nas margens do regime ou em exílios bastante cómodos e tranquilos, tomaram posições para tirar proveito de uma desejada «evolução na continuidade».
«Não contavam, é certo, com o fulgor e a rapidez com que o povo se uniu ao MFA, fazendo seu o programa dos corajosos militares e defendendo-o nas ruas, nos locais de trabalho e nas organizações populares nascentes, começando assim a modelar verdadeiramente um novo país.»
Contavam que o poder lhes chegasse às mãos durante essa fase, logo que fosse possível isolar os «ultras» e «duros» da ortodoxia salazarista, no quadro de uma democracia parcialmente pluripartidária e parlamentar abençoada pelos Estados Unidos e a NATO, na qual os «donos disto tudo» não sofressem quaisquer danos e incómodos graças a uma transição suave e cordata feita sem acordar o povo. Nessa restaurada democracia de uma «nova república» não deveriam caber o Partido Comunista Português e outras correntes antifascistas que pudessem representar uma oposição real susceptível de inquietar o atlantismo e, sobretudo, perturbassem os interesse do império e a «civilização ocidental».
As normas oficiais e, sobretudo, clandestinas da Aliança Atlântica nessa matéria eram (e são) taxativas e custaram até a vida ao primeiro-ministro italiano Aldo Moro, apesar de ser democrata-cristão: na Europa Ocidental nenhum partido comunista poderia aproximar-se da órbita de qualquer governo; se os comunistas continuassem ilegais, melhor seria. A perseguição permanente e incansável da classe política em funções e do respectivo aparelho de propaganda contra o PCP durante as últimas cinco décadas, recorrendo a métodos sujos e inegavelmente inspirados no «antigo regime» para o fazer desaparecer do Parlamento, é a variante dessa estratégia seguida desde que o partido foi legalizado.
Do romantismo ao golpe
A História ensina-nos que os movimentos efectivamente revolucionários e transformadores estão muitas vezes à mercê da ingenuidade, do idealismo e de algum romantismo dos seus principais actores, confiantes na justiça e na razão das suas causas perante as correntes contra-revolucionárias; estas, passada a fase inicial de choque, não tardam em reorganizar-se na base da experiência, do golpismo, do medo, boato, intimidação, violência, mentira e da ausência total de princípios. Sem esquecer a sua capacidade de se mimetizar para se inserir nos círculos revolucionários com o objectivo de os dividir e minar.
Tudo isso aconteceu em Portugal, ao longo de quase 600 dias. A aliança entre os militares de Abril e o povo que espontaneamente aderiu ao seu movimento não soube defender-se para avançar na construção de uma democracia em que o poder participativo dos cidadãos não se dissolvesse nas manobras políticas dos que, sequestrando os verdadeiros ideais de Abril, conseguiram simultaneamente dividir os militares, difamar, intimidar, manipular e neutralizar a dinâmica popular. As circunstâncias que diferenciaram a verdadeira revolução de uma palaciana transição de regime foram-se diluindo, com grande envolvimento, ingerência e conspiração dos «nossos amigos e aliados» – conseguindo até arrastar grandes massas para o campo da contra-revolução.
Eis que chegou então o comício de Julho de 1975, antecâmara do golpe de Novembro desse ano, iniciativa montada pelo embaixador norte-americano Frank Carlucci juntamente com Mário Soares e na preparação da qual participaram activamente a entranhada rede de manipulação da Igreja Católica e os partidos de direita, arrebanhando militantes e caceteiros para a Alameda Afonso Henriques, em Lisboa.
Frank Carlucci desempenhou um importante papel no xadrez da contra-revolução em Portugal. Frank Carlucci morreu este domingo, aos 87 anos, na sua casa em McLean, no estado da Virginia. Embaixador dos EUA em Portugal no período do pós-25 de Abril, foi também vice-director da CIA e conselheiro de Segurança Nacional dos EUA. Frank Carlucci desempenhou um importante papel no xadrez da contra-revolucão em Portugal, como mostram, por exemplo, as suas declarações num reencontro com Mário Soares, em Lisboa, sublinhadas pelo Público de 23 de Setembro de 2006: «O Dr. Soares e eu passávamos aqui [no sótão da embaixada] muitas horas a conversar sobre os problemas políticos portugueses, sobre as relações entre os nossos dois países e como seria possível fazer de Portugal uma democracia de tipo ocidental. Falávamos horas e horas...» Também reveladoras das actividades de Carlucci em Portugal são as declarações de Otelo Saraiva de Carvalho (Referencial n.º 100), referindo-se ao falecido militar de Abril Vítor Alves: «Quando Frank Carlucci veio para Portugal, para substituir Nash Scott, trazia obviamente o teu nome em agenda para ligação com os militares moderados do MFA. Imagino a satisfação que Carlucci deve ter sentido quando, antes de ser tornado público no Jornal Novo, lhe apresentaste em primeira mão o “Documento dos Nove”.» Por fim, relembrando as acções de violência e de terrorismo promovidas pelas forças reaccionárias para dar combate aos democratas e às forças mais empenhadas na defesa do 25 de Abril, importa reler o seguinte excerto do livro O Segredo do 25 de Novembro, do historiador José Freire Antunes, sobre o chamado verão quente de 1975: «Nas águas turvas do descontentamento pescam o MDLP e o ELP. Frotas de exilados, com estímulos da direita europeia, fazem a sua “cruzada branca” contra a “opressão vermelha”. Ensinam a fabricar coktails molotov nos seus panfletos. Querem transformar Lisboa numa “cidade-mártir”. Ateiam incêndios, põem bombas, matam comunistas, conspiram nos seminários e nas sacristias. Pagam a marginais e antigos quadros do Exército. O CDS e o PPD são a capa legal desses núcleos. Mais eficazmente, porém, o catolicismo é o cimento ideológico dessa voragem. A Igreja é a grande triunfadora deste ardente Verão. É certamente para brindar a essa vitória que Frank Carlucci, o dinâmico embaixador dos Estados Unidos, vai fazer a volta dos bispos. De 3 a 6 de Novembro, encontra-se com os bispos de Viseu, Vila Real, Braga.» Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença.Nacional|
Morreu Carlucci, um dos artífices da contra-revolução

Contribui para uma boa ideia
O comício foi oficialmente «do PS», organizado no terreno pelo actual secretário-geral da ONU, António Guterres (boas acções merecem melhores recompensas). Mário Soares, com a verve mais agressiva que nunca, e também a mais fiel à sua essência política e pessoal, chamou «paranóicos» ao primeiro-ministro Vasco Gonçalves e ao secretário-geral do PCP, Álvaro Cunhal, recorrendo ele próprio à paranóia mais corrente em Portugal fazendo crer que o país estava sob «a ameaça de uma ditadura comunista». Tese com caboucos de farsa cujo êxito dos efeitos tóxicos gerados terá sido decisivo na promoção de Carlucci a director da CIA e que, ao ser inventada como pretexto para o golpe de 25 de Novembro de 1975, falsificou definitivamente a História «oficial» de Portugal. A receita mistificadora está a ser intensamente reavivada em Portugal, prometendo fazer dos 50 anos do 25 de Novembro uma contundente ofensiva sem limites contra o essencial da Revolução de Abril e as forças consequentemente antifascistas, sobretudo o Partido Comunista Português.
Na Alameda gritou-se orquestradamente «se este não é o povo, onde é que está o povo?», substituindo o povo de Abril pelo povo de Novembro – que a partir daí desapareceu completamente do cenário de intervenção política e deixou de ter qualquer papel nas decisões com real influência na vida dos cidadãos. Ou seja, o tal povo de Novembro, concebido em formato de figuração de uma super-produção hollywoodesca, serviu de instrumento para nos amarrar a uma classe política estrangeirada e apátrida que, na verdade, odeia os militares de Abril e serve de tapete às ditaduras da NATO e da União Europeia.
«Ou seja, o tal povo de Novembro, concebido em formato de figuração de uma super-produção hollywoodesca, serviu de instrumento para nos amarrar a uma classe política estrangeirada e apátrida que, na verdade, odeia os militares de Abril e serve de tapete às ditaduras da NATO e da União Europeia.»
O tempo e essa classe política que a partir de 25 de Novembro de 1975 tomou conta dos destinos da nação – anulando-a – têm contribuído, cada um à sua maneira, para corrigir e apagar os supostos anacronismos e os alegados «desatinos» do movimento revolucionário, esmagando a ilusão da «populaça» quando esta, senhora das ruas e verdadeiramente representada nos órgãos de poder, chegou a pensar que podia e devia ter voz activa nas decisões políticas, sociais e económicas do país.
Os contornos dessa classe política com identidade e vida próprias apareceram publicamente pela primeira vez no comício da Alameda, ainda assim demasiado tarde para alguns que tentaram entronizá-la logo em Setembro de 1974 e em Março de 1975; essa elite que, sem qualquer verdadeiro controlo democrático, assumiu a «vocação para governar», teve até agora cinco décadas para formatar o país segundo as normas inquestionáveis da democracia liberal e ocidental ditadas pelos interesses imperiais e coloniais.
Começa a «correcção»
As privatizações, que não tardaram a iniciar-se depois de instaurada a «normalidade democrática» novembrista, permitiram que os donos da economia e das finanças recebessem de volta, a preços praticados em qualquer feira da ladra, os bens que as nacionalizações lhes levaram em tempos de «insanidade» popular: enquanto os latifundiários, os respectivos herdeiros e outras castas que não resistiram aos apelos do ruralismo, do turismo e da ecologia fashion tomaram conta dos montes e das planícies do Ribatejo e do Ribatejo, desintoxicando-as de quaisquer vestígios nocivos da Reforma Agrária. Até que agora ali chegou o Chega para assegurar que esta mudança ciclópica – para citar Marcello, padrinho de Marcelo xenófobo – se processe como deve ser, à moda do antigamente, realidade de que os alentejanos e ribatejanos de todas as gerações não tardarão a aperceber-se.
«As privatizações, que não tardaram a iniciar-se depois de instaurada a "normalidade democrática" novembrista, permitiram que os donos da economia e das finanças recebessem de volta, a preços praticados em qualquer feira da ladra, os bens que as nacionalizações lhes levaram em tempos de "insanidade" popular (...).»
O desenvolvimento destes caminhos para a plena entrada em vigor da democracia liberal, movimento que alguns mal intencionados qualificam como «contra-revolução», teve não só o apoio mas também a ajuda e quantas vezes o protagonismo das instâncias internacionais «nossas amigas e aliadas», solidariedade que, naturalmente, se aplica apenas à classe política porque esta conhece, define e fomenta com rigor absoluto o que o povo deseja, o que merece, quais as suas necessidades e como deve comportar-se. Por isso ouvimos tantas vezes os governantes, políticos, banqueiros, grandes patrões, analistas, jornalistas de referência sentenciar que «os portugueses sabem», os «portugueses querem», «os portugueses nunca permitiriam» e outras certezas e representatividade só ao alcance das elites, genericamente conhecidas como «o arco da governação». Estatuto que, a bem dizer, dispensaria as eleições porque, mais coisa menos coisa, sabemos os resultados que irão dar, com maior ou menor «estabilidade política», problemazinho que, caso surja, se resolve ao sabor de manigâncias para as quais a classe política já nasceu ensinada.
Cravo vermelho ao peito…
As instâncias internacionais foram generosas para com este recanto lusitano desde os primeiros minutos revolucionários. A sua presença, física ou apenas como espectro, fez-se sentir em cada momento das transformações, com especial esmero por parte da NATO e da Embaixada dos Estados Unidos da América, a funcionar como centro operacional de conspirações e acções em relação às quais a História real – não a oficial – já tem hoje poucas dúvidas, incluindo quanto aos protagonistas nacionais e internacionais, encabeçados pelo diligente embaixador Carlucci; o qual celebrou nos seus aposentos com o seu mais chegado colaborador, Mário Soares, os passos bem sucedidos da contrarrevolução.
Só o espírito benfazejo do atlantismo e de Carlucci & CIA permitiram travar os «desmandos» do 25 de Abril, obra de um povo indomável que acreditava nas possibilidades de construir um futuro melhor depois dos anos de chumbo salazaristas.
As invocações do 25 de Abril que hoje se observam em salamaleques políticos, comentários afascistados, narrativas e relatos alarves de ignorância, quando não insidiosos de veneno, dispendiosas campanhas de cartazes outdoors e outras tropelias afins parecem verdadeiros milagres, mas não passam de lamentáveis exercícios de hipocrisia, de pretextos para atacar, com espírito novembrista, as forças e personalidades mais consequentes da Revolução. Celebra-se a Revolução e, ao mesmo tempo, defende-se o fascismo económico neoliberal; saúda-se o programa do MFA e festeja-se o desaparecimento de Portugal na voragem federalista europeia; lembram-nos o fim da guerra colonial, mas não escondem o contentamento pelas oferendas de milhões de milhões de dólares e euros ao nazismo ucraniano, que patrocinam e armam, e pelo envio de tropas portuguesas para outras novas guerras coloniais.
O poder genuíno, em Portugal, esteve sempre e continua nas mãos de PS e PSD, em coligação ou numa alternância fraudulenta em regime semelhante ao de partido único, de partido-Estado. «Só deve obter-se informação de uma fonte fiável. A nossa é a única verdade» A classe política em Portugal, arrogante na sua mediocridade, megalómana na sua pequenez, sempre a querer mostrar-se na primeira fila dos desmandos que deixam o mundo à beira de uma catástrofe irrecuperável, não passa de um raminho mais ou menos irrelevante, mas muito irresponsável, de uma estrutura tentacular financeira, económica, militar e política que tem a ambição de tomar conta do mundo, transformando-o na sua quinta globalista. Prepotente internamente, a classe política em Portugal é de uma subserviência irreprimível perante os gestores transnacionais, ao ponto de se tornar apátrida e vender à corrupta e ultraminoritária nata oligárquica globalista a dignidade, os interesses, as riquezas naturais, os recursos humanos, industriais, agrícolas e piscatórios, a sanidade ecológica, a própria cultura do povo e do país. A democracia real não se consuma sem participação e intervenção popular. A democracia tem de ser, naturalmente, participativa. E participar, para que não haja equívocos, não é apenas votar de vez em quando. «A política, na sua ‘dignidade, utilidade e fecundidade’ não pode ser asilo de incapazes (…) A política é para os políticos» Novembro pariu um monstro: a classe política. A «classe política», como ela própria se define com uma presunção assente em vocação inquestionável, direito natural, pergaminhos herdados de mil e uma linhagens sagradas, imaculados dotes democráticos – e a prosaica ganância de poder, deve acrescentar-se – começou a ganhar a forma que hoje ostenta em Portugal a partir do momento em que foi dada a primeira grande machadada na dinâmica popular criada pela Revolução de 25 de Abril de 1974. O 25 de Abril e o derrube do fascismo não resultaram da acção de uma qualquer classe política. Foram obra do Movimento das Forças Armadas e da mobilização imediata, espontânea e fulgurante do povo, precisamente para pôr termo aos desmandos de uma classe política, a salazarista, que tratou o país e as suas gentes como coisas próprias e sem prestar contas a ninguém. As transformações por que passou a sociedade portuguesa durante os meses seguintes ao Movimento dos Capitães também não precisaram de qualquer classe política. A iniciativa popular e as linhas programáticas definidas pelos militares do Movimento das Forças Armadas traçaram caminhos, muitos deles inovadores, para estabelecer uma democracia de todos e para todos na qual a vontade do povo nunca deixasse de contar e de estar presente. Abriam-se as portas de uma democracia coerente com a sua definição: o poder do povo. «O 25 de Abril e o derrube do fascismo não resultaram da acção de uma qualquer classe política. Foram obra do Movimento das Forças Armadas e da mobilização imediata, espontânea e fulgurante do povo, precisamente para pôr termo aos desmandos de uma classe política, a salazarista, que tratou o país e as suas gentes como coisas próprias e sem prestar contas a ninguém» O período em que a participação popular determinou o essencial das decisões políticas e económicas dispensou, portanto, qualquer mecanismo de governação que se aparentasse com uma «classe política». Quando esta ressurgiu como o único centro de poder no qual o povo se limita a delegar, sem depois ter mais qualquer intervenção ou controlo no desenvolvimento e desfecho do processo de decisão, a democracia encontrou uma barreira tanto mais autoritária quanto mais fortes forem a luta e as reivindicações populares. A classe política, como demonstra a história dos seus comportamentos, afunila a democracia, põe-na «a salvo» da vontade do povo, acabando rotineiramente por asfixiá-la. Fecha as portas à genuína democracia. A liberdade reencontrada graças à Revolução de Abril foi o instrumento essencial da mudança política que associou o pluralismo dos partidos à componente militar libertadora e à criatividade popular, manifestando-se esta através de uma teia de associações de base vocacionadas para intervirem, a vários níveis, na estruturação do novo poder, na recriação do Estado, na transparência das empresas e nas tomadas de decisão. Porque a democracia real não se consuma sem participação e intervenção popular. A democracia tem de ser, naturalmente, participativa. E participar, para que não haja equívocos, não é apenas votar de vez em quando. Uma particularidade notável dessa fase foi o facto de os partidos políticos recém-criados – e outros que não tinham então mais de um ano de vida – sentirem ainda necessidade de reflectir as vontades dos seus militantes e apoiantes, vendo-se assim obrigados a associar a própria sobrevivência e a conquista de espaço político-eleitoral à genuína auscultação das bases. O impacto social do 25 de Abril fez com que os recém-criados partidos tivessem uma componente popular significativa – ainda que a contragosto dos seus fundadores e dirigentes, que preferiam massas eleitorais sossegadas, acriticamente seguidoras e obedientes, de preferência pouco ou nada esclarecidas. «Na sequência do 25 de Abril, em suma, desenhava-se uma democracia em que os partidos seriam uma parte essencial da estrutura de decisão, mas não os donos absolutos do poder. No entanto, a componente vingativa e revanchista que abocanhou o golpe de 25 de Novembro de 1975 cortou cerce essa perspectiva, apesar dos apelos à moderação lançados por alguns militares lúcidos. Anunciava-se já o embrião de uma nova classe política» Não era ainda chegado o tempo, que não demorou, em que os aparelhos dos novos partidos passaram a decidir tudo em confraria restrita, marginalizando a base militante, até extingui-la. A transformação gradual para alcançar a «estabilização» funcional dos mecanismos de decisão de cada um deles nem sempre foi e é pacífica, naturalmente, porque o número de cargos públicos, privados e partidários é sempre menor do que o número de candidatos às mordomias – e quase nunca chega para satisfazer a gula das clientelas. Na sequência do 25 de Abril, em suma, desenhava-se uma democracia em que os partidos seriam uma parte essencial da estrutura de decisão, mas não os donos absolutos do poder. No entanto, a componente vingativa e revanchista que abocanhou o golpe de 25 de Novembro de 1975 cortou cerce essa perspectiva, apesar dos apelos à moderação lançados por alguns militares lúcidos. Anunciava-se já o embrião de uma nova classe política. Foi possível identificar prematuramente os traços da grande família política em formação, sequiosa de poder, na manifestação anti-25 de Abril realizada na Alameda Afonso Henriques alguns dias antes do golpe de 25 de Novembro de 1975 e já fazendo parte da conspiração. PS, PSD, CDS, grupúsculos «maoístas» e sectores terroristas órfãos do salazarismo como o ELP e o MDLP arrebanharam multidões para o evento, atemorizando-as com a iminência de uma «ditadura comunista» – sem dúvida, as provocações de bandeira falsa e as teorias da conspiração não são apenas coisas de hoje. O ambiente criado nessa noite, contudo, parecia mais a irrupção vingativa de um conclave de espectros salazaristas do que os primeiros passos de uma nova classe política vocacionada para «institucionalizar a democracia». Esse contexto sombrio marcou desde logo, e muito pela negativa, o carácter da classe política agora em funções: arrogante, intolerante, irresponsável, culturalmente indigente, vingativa, de um cinismo cruel e uma hipocrisia doentia, mentirosa contumaz, permanentemente tentada pelo autoritarismo interno e a subserviência externa. Os últimos anos expuseram, porém, um traço de carácter ainda mais desumano e repugnante da classe política: o segregacionismo, a xenofobia e o racismo, que andaram disfarçados durante muito tempo em discursos e atitudes cobardemente demagógicas embrulhadas em virtuosas palavras. O tratamento criminoso e mortal que é dado aos refugiados africanos e do Médio Oriente tentando escapar das guerras coloniais/imperiais e das consequências trágicas de séculos de colonização ocidental pôs finalmente a nu a classe política que se define como farol da civilização. «‘A política para os políticos’ tornou-se, de modo contumaz e propagandístico, o slogan da tirania fascista retomado pela remoçada estrutura governante; e o povo, deixando-se anestesiar por um conformismo indutor de uma inércia auto-flageladora, apressou-se a engolir esse anzol da propaganda, cumprindo-se assim um primeiro passo para o apodrecimento do futuro: a clivagem entre o país político e o país real. Foi o momento em que voltaram a roubar a voz ao povo» O cenário ficou ainda mais revelador quando chegou a guerra da Ucrânia, em 2013/2014, ocasião em que o mesmo «Ocidente» apostou o bem-estar dos seus cidadãos, a economia, a vida de centenas de milhares de pessoas e até a sobrevivência do planeta Terra na defesa de um regime articulado por saudosos de Hitler, racista e supremacista, empenhado em «matar tantos sub- humanos quanto puder». Será possível apoiar militarmente e sem reservas, em nome da «democracia», um regime destes sem ser cúmplice das atrocidades que pratica? Naquela já longínqua noite de Novembro de 1975, o dr. Mário Soares e o embaixador Carlucci, dos Estados Unidos da América – em vésperas de se tornar director da CIA –, supervisionaram o ajuntamento golpista da Alameda Afonso Henriques. Olhando o processo em retrospectiva histórica deve dar-se-lhes o crédito de serem os pais da classe política que modelou e gere actualmente este protectorado a rogo dos Estados Unidos e seus satélites. Indubitavelmente uma certeira relação de causa e efeito. Bastou chegar ao primeiro governo constitucional, com o dr. Soares à cabeça, uma consequência lógica e merecida do processo de «correcção» do 25 de Abril, para a expressão «classe política» voltar a ser invocada como instrumento normal, imprescindível e único do poder político, agora sim considerado democrático. E para que, desde logo, a sua afirmação fosse plena e sem estorvos era necessário devolver os militares às casernas e o povo ao seu redil de rebanho obediente e sossegado. «A política para os políticos» tornou-se, de modo contumaz e propagandístico, o slogan da tirania fascista retomado pela remoçada estrutura governante; e o povo, deixando-se anestesiar por um conformismo indutor de uma inércia auto-flageladora, apressou-se a engolir esse anzol da propaganda, cumprindo-se assim um primeiro passo para o apodrecimento do futuro: a clivagem entre o país político e o país real. Foi o momento em que voltaram a roubar a voz ao povo. Com os militares nos quartéis, de onde – acabado o tempo de nojo da guerra colonial – foram convidados a sair para fazer guerras coloniais/imperiais da NATO na Jugoslávia (incluindo Kosovo), Iraque, Afeganistão, África Central e o mais que ainda receamos estar para ver; com o povo no seu lugar de governado, alheado, quanto muito silenciosamente revoltado – como antigamente – e muitas vezes sem saber o que fazer com o boletim de voto sazonal, a classe política sentiu condições para avançar no sentido que sempre desejou e para o qual nasceu: enterrar o 25 de Abril. Na altura chamaram a este processo o do ingresso do país na «democracia ocidental», que era a sua «vocação natural» na antecâmara de uma «desejada» integração europeia – considerada «desígnio nacional» sem que aos cidadãos fosse dada qualquer oportunidade para se pronunciarem sobre isso. A Europa «estava connosco», garantiam os chefes e a propaganda do regime, pelo que, para o comum dos portugueses, embalado na vaga de «orgulho» e de gratidão devida à aceitação na elite dos poderosos, não havia perigo de o país cair numa armadilha, que afinal já estava montada e para a qual foi traiçoeiramente empurrado – pela classe política. «À «democracia ocidental» chama-se hoje «democracia liberal», o que, a bem dizer, para o cidadão tanto faz porque a repercussão das suas vontades, necessidades e interesses nas decisões nacionais continua a ser a mesma: nula. Limita-se a sofrer os efeitos do capitalismo selvagem, o neoliberalismo, contidos na inocente e tão prometedora como mistificadora palavra «liberal» A desnecessária adjectivação da democracia e do regime foi também uma inerência da pertença à NATO, organização de que esta nova «democracia ocidental» fazia parte desde os tempos em que era uma ditadura fascista. Uma transição sem nada de intrigante ou contraditório, sabendo nós como a NATO se comporta. À «democracia ocidental» chama-se hoje «democracia liberal», o que, a bem dizer, para o cidadão tanto faz porque a repercussão das suas vontades, necessidades e interesses nas decisões nacionais continua a ser a mesma: nula. Limita-se a sofrer os efeitos do capitalismo selvagem, o neoliberalismo, contidos na inocente e tão prometedora como mistificadora palavra «liberal». Assim sendo, nenhuma pessoa precisa de invocar, e muito menos reclamar, os seus desejos e direitos porque, graças à classe política e aos seus apêndices, isso seria uma desnecessária perda de tempo. Não ouvimos assegurar a toda a hora, desde o presidente e o primeiro-ministro ao mais engalanado pivot de televisão ou o mais douto comentador e analista, que «os portugueses sabem…», «os portugueses conhecem…», «os portugueses estão cientes…», «os portugueses desejam»… «os portugueses nunca permitiriam…», «os portugueses jamais perdoariam»? Ora se tão poucos sabem tanto de tantos, se a elite do regime conhece de maneira tão segura – sem enganos nem dúvidas – o que pensam e querem os portugueses, nada há nada de mais cómodo para o povo. Nem precisa de abrir a boca, basta-lhe de vez em quando deitar o papelinho na urna para garantir a «legitimidade da democracia». Deve depois recolher-se ao permanente estado sonâmbulo e salazarento onde se aprende que «a minha política é o trabalho», mesmo que seja precário, sem direitos ou nem sequer exista. «[...] se tão poucos sabem tanto de tantos, se a elite do regime conhece de maneira tão segura – sem enganos nem dúvidas – o que pensam e querem os portugueses, nada há nada de mais cómodo para o povo. Nem precisa de abrir a boca, basta-lhe de vez em quando deitar o papelinho na urna para garantir a «legitimidade da democracia». Deve depois recolher-se ao permanente estado sonâmbulo e salazarento onde se aprende que «a minha política é o trabalho», mesmo que seja precário, sem direitos ou nem sequer exista» A classe política, enfim, está hoje onde sempre quis estar, exercendo o direito exclusivo que considera pertencer-lhe: o do poder absoluto. Pura ilusão, como ela mesma sabe. O que existe é uma estratégia de engano burilada com a cumplicidade, o conhecimento perfeito do seu papel e a fidelidade inteira da própria classe política à voz do verdadeiro dono: o poder financeiro, especulativo e económico transnacional e globalista, o carrossel do neoliberalismo. A «democracia liberal» extinguiu o povo; é somente um instrumento operacional da ditadura financeira e económica que ainda sonha em governar o mundo inteiro. Tudo decorre, com os inevitáveis mas sempre sanáveis desaguisados, num ambiente de grande família, ampliada graças aos parentescos com o aparelho mediático convenientemente privatizado (incluindo o que restou mantendo a falsa chancela de «público»), as associações patronais (das quais faz parte um «sindicato» inventado para as servir), os padrinhos da economia e os barões das finanças, os lordes da advocacia, os purpurados da igreja (a Concordata continua em vigor?), sem esquecer os torcionários da troika, os sociopatas do Banco Central Europeu e da Comissão Europeia. Uma família muito alargada, afinada e unida na convergência das suas práticas; uma grande família ou, levando em consideração a teia mafiosa onde se move, uma verdadeira famiglia, una vera famiglia. A classe política molda-se como uma medusa, é um corpo monstruoso e viscoso que se adapta à dinâmica das circunstâncias, à cadência dos oportunismos, às medidas que considera necessárias para atingir os objectivos, desde a liberalidade rigorosamente vigiada, a que chama «liberdade», até ao autoritarismo puro e simples, o fascismo, se for preciso. Esta versatilidade, fruto da instabilidade em que o mundo se move, tem aspectos dignos de uma sumária reflexão. Existindo o liberalismo, a casta política detectou a ameaça do seu suposto contrário, o «iliberalismo». Não existem elementos suficientes para apurarmos se a classe política transnacional entende ou não o «iliberalismo» como uma forma de democracia, talvez transviada, inquinada, atrevida no sentido em que se permite desafinar no seio do coro bem comportado. Percebe-se, apreciando objectivamente o fenómeno, que afinal se trata de fazer a mesma política, recorrendo a métodos talvez menos ortodoxos, para alcançar os mesmos resultados – o primado da economia neoliberal. Porém, esta conclusão não é absoluta, ou toda a regra tem excepção. Por exemplo, sendo o regime da Hungria «iliberal», da mesma maneira que o da Polónia – aproximando-se este mais do fascismo – as cátedras onde se avalia a pureza «liberal» são mais tolerantes e totalmente cooperantes com o sistema de Varsóvia. Haverá iliberalismo liberal? Deixemos a reflexão por aqui. Não pode esperar-se coerência nos vigilantes do «liberalismo» quando afinal este sistema arrisca a própria existência numa aliança guerreira com a governação nazi ucraniana, que considera um «modelo de democracia». Se ainda houver quem ache este quadro enigmático, acredite que é facílimo de decifrar. O que faz mover a classe política, no fundo, é o desprezo pelas pessoas, a sua utilização como instrumentos para explorar e deitar fora. No cumprimento dessa tarefa predatória está a razão de ser da sua existência e, por conseguinte, a sua sobrevivência. A classe política é inimiga do povo e permite-se recorrer a todos os métodos que sejam necessários para o conter anestesiado. De modo a que a especulação e a roda do casino financeiro não tenham sobressaltos mesmo quando chegam as crises. O povo será então resgatado da inexistência e chamado a resolvê-las. A este processo de tortura chama-se «austeridade» – que aliás se tornou permanente. «O que faz mover a classe política, no fundo, é o desprezo pelas pessoas, a sua utilização como instrumentos para explorar e deitar fora. No cumprimento dessa tarefa predatória está a razão de ser da sua existência e, por conseguinte, a sua sobrevivência. A classe política é inimiga do povo e permite-se recorrer a todos os métodos que sejam necessários para o conter anestesiado» Como entidade informe, a classe política não coincide com o universo político, embora conspire em permanência para que assim seja. E a «política» praticada pela «classe», apresentada como uma ciência extraída de uma espécie de mundo ocultista e apenas acessível aos «eleitos» – não confundir com os escolhidos pelo povo se as eleições fossem verdadeiramente livres –, nada tem a ver com uma política genuína: a gestão do nosso dia-a-dia pelo povo, em nome do povo e nos interesses do povo. Uma política em que a simplicidade do bom senso, o conhecimento da vida e da dinâmica social, a experiência acumulada de lutas e conquistas ao longo de séculos e a vontade de combater as desigualdades e desumanidades bastam para desmascarar as engenhocas mistificadoras e as ficções enganosas próprias de uma falsa ciência, tóxica, fundamentada em realidades virtuais ou simplesmente desejadas por aprendizes de feiticeiros. Em boa verdade, os «politólogos», na sua esmagadora maioria, são analfabetos quando o que está em causa é realmente a política ao serviço dos cidadãos e da dignidade das suas vidas, de acordo com os interesses da esmagadora maioria das pessoas. Os «politólogos» a quem deram voz pública como professores do povo são, afinal, videntes narcísicos, íntimos da verdade absoluta e que, abolindo as pessoas das suas fábulas académicas – a Academia reflecte cada vez mais a cultura embrutecedora e exploradora que é um dos pilares da classe política – conhecem em cada momento, porque se «mestraram» ou «doutoraram» para isso, o que interessa ao cidadão, o que este deseja e como pode alcançá-lo. Desde que não seja, como é óbvio, um looser, um perdedor, porque então a «meritocracia» tecnocrática fá-lo-á arrepender-se de estar vivo. Não, em definitivo a política não é para os políticos; é das pessoas e para as pessoas. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Para tentar apropriar-se do mundo, o aparelho tentacular imperial suprimiu o direito internacional e colocou no seu lugar a «ordem internacional baseada em regras», que são desconhecidas, variáveis e dependem dos humores das administrações dos Estados Unidos da América, país que gere esta monstruosa estrutura criminosa e sem lei. A oligarquia globalista que engoliu Portugal como nação define-se a si própria como o «mundo ocidental», depositário único da civilização, dos direitos humanos e da democracia, não admitindo contraditório ou a existência de qualquer outro ordenamento mundial, ainda que sustentado pelo direito internacional centralizado na ONU. Daí a célebre e feliz frase de Borrell, figura exemplar da «política ocidental»: «a Europa (pode ler-se o Ocidente) é o jardim que a barbárie do resto do mundo pretende destruir». É neste «jardim» que Portugal anda perdido. Porque a formatação de uma classe política é volúvel por natureza, em Portugal a sua evolução também não tem sido linear desde Novembro de 1975, exibindo como marca indelével nada recomendável as condições golpistas que lhe deram vida. No entanto, há um núcleo estrutural que permanece inabalável, ancorado na convergência de comportamentos e objectivos entre o PS e o PSD, a que às vezes chamam «Bloco Central»; uma aliança informal que dispensou pelo caminho os resquícios de ideologia quando se unificou à luz dos preceitos do Consenso de Washington, o diktat do neoliberalismo, o capitalismo selvagem, hoje a fórmula única e reconhecida de capitalismo. (Caro Professor John Maynard Kaynes, boa tentativa; porém, capitalismo e neoliberalismo são palavras diferentes para significar exactamente a mesma coisa e ambas são incompatíveis com qualquer inquietação ou programa social e humanista). Outra característica da classe política portuguesa desde a sua génese é o facto de não integrar o PCP, o partido mais antigo do país, o único que lutou – e luta – contra o fascismo e que nunca deixou de se rever na dinâmica e nas conquistas populares alcançadas com a Revolução de Abril, defendendo-as em todas as circunstâncias. Nesta situação existe, por um lado, uma natural autoexclusão porque uma hipotética integração dos comunistas no circo político, tal como ele se comporta, exigiria destes a adopção da política predatória e autocrática do poder – uma impossibilidade absoluta. Por outro lado, é uma exclusão imposta pelas «obrigações» de Portugal para com os «seus amigos e aliados». «[…] há um núcleo estrutural que permanece inabalável, ancorado na convergência de comportamentos e objectivos entre o PS e o PSD, a que às vezes chamam «Bloco Central»; uma aliança informal que dispensou pelo caminho os resquícios de ideologia quando se unificou à luz dos preceitos do Consenso de Washington» Não é novidade, e hoje está mais do que demonstrado, como se abordará aqui em próxima ocasião, que a NATO – e a CEE/União Europeia por arrastamento – não permitem a aceitação de comunistas na área de governo, mesmo que ganhem eleições, aliás um princípio muito criativo da «democracia liberal». A hipótese não é académica: o Partido Comunista Italiano venceu umas eleições gerais e, em outras ocasiões, esteve muito próximo disso, o que levou o então primeiro-ministro, o democrata-cristão Aldo Moro, a aceitar o seu apoio para que o governo pudesse funcionar com maioria parlamentar. Depois disso, em Março de 1977, Aldo Moro foi assassinado pelas «Brigadas Vermelhas», um heterónimo dos serviços secretos militares italianos interligados com a Gládio, um exército terrorista clandestino da NATO, braço armado do anticomunismo e da ditadura neoliberal. Como já se escreveu em ocasiões anteriores: eles não hesitam em matar, como foi testemunhado em 1990, a propósito do caso Moro, pelo veterano político italiano Giulio Andreotti, várias vezes primeiro-ministro em representação da Democracia Cristã. As suas fundamentadas revelações sobre a selvática «estratégia de tensão» no país desenvolvida pela NATO nos anos setenta e oitenta do século passado, essencialmente contra os comunistas italianos, não deixam dúvidas sobre o que é a «democracia liberal», ou «ocidental», interpretada pela NATO. O respeito pela vida humana não é o limite. A regra da segregação anticomunista imposta pela Aliança Atlântica não admite excepções. O entendimento muito conjuntural entre o PS e o PCP no quadro dos acordos que Paulo Portas, um ícone da faceta conspiradora e propagandista da classe política, qualificou como «geringonça», não constituiu qualquer «cedência» ou «distracção» da NATO porque não incidiu sobre a globalidade do processo governativo – como ficou demonstrado na ocasião do rompimento. Quase todas as organizações políticas que passaram pela Assembleia da República integraram ou integram a classe política, a grande maioria em situação de alguma marginalidade em relação ao poder executivo, com excepção do CDS (agora substituído por uma hidra de duas cabeças – Salazar e Pinochet, Chega e Iniciativa Liberal) venerada pelo aparelho mediático, «democraticamente» acolhida e respeitada pela restante congregação, que não hesita em tentar cativá-la com ademanes de namoro. Há também os casos de organizações que servem como uma espécie de reserva, entram e saem da classe política, em amável cumplicidade, conforme as conveniências de umas e outra. O poder genuíno, porém, esteve sempre e continua nas mãos de PS e PSD, em coligação ou numa alternância fraudulenta em regime semelhante ao de partido único, de partido-Estado. As sobrevalorizadas «divergências» entre ambos com que os media nos entretêm, quase sempre em ambiente teatral, não interferem minimamente nas decisões de fundo do sistema de poder. E quando estão em causa deliberações de cariz económico e social, sobretudo contra o trabalho, os trabalhadores, os reformados e os desprotegidos em geral, a afinidade é completa, são gémeos impossíveis de distinguir porque a cartilha neoliberal, a que juraram fidelidade em vez da Constituição da República, assim o impõe. «A regra da segregação anticomunista imposta pela Aliança Atlântica não admite excepções. O entendimento muito conjuntural entre o PS e o PCP no quadro dos acordos que Paulo Portas, um ícone da faceta conspiradora e propagandista da classe política, qualificou como «geringonça», não constituiu qualquer «cedência» ou «distracção» da NATO porque não incidiu sobre a globalidade do processo governativo – como ficou demonstrado na ocasião do rompimento» Por isso, aquelas minudências adoradas pelos «politólogos» quando nos distraem com os seus joguinhos manobrando em tabuleiro imaginário as tendências de «esquerda» (o PS, obviamente), «extrema-esquerda» (o PCP, como dogma), «centro», «esquerda radical», «centro-esquerda», «esquerda-centro», «centro-direita», direita mais ou menos moderada ou extrema (mas nunca fascista, entenda-se) fazem parte das encenações recorrentes em que todos os participantes estão efectivamente de acordo mas, quando se enfronham seriamente no seu papel de «adversários políticos», conseguem parecer deveras engalfinhados. É a «política» da classe política para que se cumpram os preceitos «democráticos» e um pluralismo próprio da «democracia liberal» no qual os opinantes oficiais da grei em TV’s, rádios e jornais de «referência» pertencem esmagadoramente ao PS e ao PSD, ou então unicamente ao PSD e até ao agónico CDS. Por vezes, mas não com os «cachets» reservados aos mestres da adivinhação e da prestidigitação – iluminados videntes sabe-tudo que dispensam contraditório – abrem-se espaços de exibição para o Bloco de Esquerda e o Chega/Iniciativa Liberal. Haja pluralismo. O neoliberalismo, como instrumento do imperialismo e do colonialismo globalista, parece ter começado a abanar à medida que a ordem mundial unipolar vai perdendo terreno. O mundo está a encolher para o Ocidente, esse conceito geopolítico que ignora limites geográficos e pretende submeter o resto do mundo às suas «regras» e «valores partilhados», entre os quais o militarismo, o desprezo pelas pessoas, o expansionismo, a rapina de recursos naturais, a submissão ao casino financeiro e a um papel-moeda de que se desconhece o valor real, a cultura da guerra, a civilização única e cada vez mais alienante. Direitos humanos e democracia-liberal? Bem, direitos exclusivos de uns humanos que são bastante mais humanos que os outros, a esmagadora maioria; e democracia realmente neoliberal, quer isso dizer assegurada por rituais cumpridos segundo guiões capazes de garantir o domínio absoluto das oligarquias e a financeirização da sociedade de modo a que as pessoas sejam mais objectos que sujeitos. A maioria vota de tempos a tempos nos «vocacionados» para o poder que garantem esse desfecho, recomendados com recurso a métodos tão ilegais como asfixiantes pela propaganda institucional e a comunicação social de orientação única; o remanescente serve para compor o ramalhete do pluralismo virtual e pronto, respeita-se assim o único regime político aceitável e acima de qualquer crítica. «O mundo está a encolher para o Ocidente, esse conceito geopolítico que ignora limites geográficos e pretende submeter o resto do mundo às suas “regras” e “valores partilhados”» O mundo está a encolher para o Ocidente por ser essa a ordem natural das coisas uma vez que, em boa verdade, nenhum império sobreviveu às leis do tempo e às dinâmicas da História; e também por causa dos comportamentos do próprio Ocidente perante a guerra que em 2014 levou até à Ucrânia, embora queira fazer acreditar que o conflito se iniciou apenas em 24 de Fevereiro deste ano. Essa é mais uma mentira numa realidade de mentiras em que o próprio Ocidente vive, chegando a acreditar nela; e certamente por isso estamos a assistir a sucessivas rajadas nos próprios pés, acelerando o processo de transformação mundial e condenando o concílio dos senhores do mundo a um processo gradual de decomposição. Apesar de a União Europeia ser conhecida como uma entidade antidemocrática – gerida por executivos não eleitos – autoritária, austeritária, ao serviço de uma percentagem ínfima da sociedade e desprezando os povos com uma arrogância cada vez mais ditatorial, será difícil encontrar na sua história uma clique dirigente tão incompetente e incapaz como a actual – onde ninguém se salva. Esta coincidência que não surpreende, uma vez que a chamada «classe política» é cada vez mais um palanque para medíocres convencidos, gera resultados muito mais trágicos do que em circunstâncias comuns porque se manifesta num momento crucial para a Europa e o mundo; uma época em que não será aconselhável proceder sem estratégia, à deriva, cumprindo ordens ditadas por interesses alheios e contraditórios, com a agravante de essa casta apodrecida o fazer com uma agressividade raivosa e irracional num cenário quase exclusivamente de faz-de-conta. E, contudo, é o futuro de todos e do planeta que está em causa. Num momento em que sobretudo algumas publicações norte-americanas e britânicas ditas de «referência» começam a reconhecer que a guerra na Ucrânia parece não estar a decorrer segundo os planos e a propaganda ocidental, os dirigentes da União Europeia mantêm-se em negação dessa provável realidade e insistem no reforço das sanções à Rússia e no envio de armas para o regime falido de Kiev e o aparelho nazi que o sustenta. Ouvem-se, é certo, alguns apelos à realização de negociações de paz, designadamente da Itália, mas não passam ainda de vozes a pregar no deserto. A insistência na guerra continua a ser a perigosa aposta da casta dirigente europeia, sempre subserviente ao gang belicista que controla o teleponto do presidente Biden, ignorando até a voz avisada e experiente do dinossauro Henry Kissinger apelando à realização de negociações no prazo máximo de dois meses. «a chamada «classe política» é cada vez mais um palanque para medíocres convencidos, gera resultados muito mais trágicos do que em circunstâncias comuns porque se manifesta num momento crucial para a Europa e o mundo; uma época em que não será aconselhável proceder sem estratégia, à deriva, cumprindo ordens ditadas por interesses alheios e contraditórios» Kissinger sabe, como o sabem também os militares ucranianos que, à revelia de Zelensky e dos corpos nazis, tentam chegar a negociações com Moscovo, que o prolongamento da guerra torna cada vez mais sombrio o futuro da Ucrânia e dos interesses europeus e norte-americanos apostados em «enfraquecer a Rússia». Pode chegar-se ao limite de as necessárias e fundamentais iniciativas diplomáticas chegarem tarde de mais para a dinâmica militar russa, situação que será um triunfo caído dos céus para os círculos mais nacionalistas, reaccionários, expansionistas e neoczaristas de Moscovo capazes de superar o próprio Putin nessas tendências. O maior aliado desses extremistas continua a ser o socialista que faz de chefe da «diplomacia» da União Europeia, Josep Borrell, para quem a guerra em curso só tem solução militar. Uma sentença que continua a prevalecer em Bruxelas. A obsessão de impor sucessivos pacotes de sanções contra a Rússia é outro sinal da vocação suicida dos dirigentes da União Europeia e que afectará duramente os povos dos Estados membros e de todo o continente, que não as oligarquias e respectivos serventes. A incompetente mas arrogante presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Layen, disse há poucos dias que a União Europeia não iria cortar a importação de petróleo da Rússia para não desestabilizar o mercado e provocar aumentos de preços que iriam «financiar a máquina de guerra de Moscovo», um argumento que, em teoria, faria algum sentido. Porém, nos dias a seguir e ao cabo de uma acesa discussão, o Conselho Europeu decidiu, numa notável atitude coerência, aprovar o corte da maior parte das importações de petróleo russo. A decisão foi tão acalorada e difícil que logo surgiram os federalistas do costume, mais federalistas ainda que os federalistas, a defenderem a abolição do sistema de consenso para tomada de decisões no Conselho Europeu para que não aconteçam hesitações em situações tão transcendentes. Pois bem, os chefes de Estado e de governo da União Europeia decidiram que a partir do próximo Natal será suspensa a importação de 65% do petróleo russo. Os restantes 35%, que chegam pelo oleoduto Druzhba, também serão alvo de restrições com as quais se comprometeram a Alemanha e a Polónia. Se assim não for, os nazis de Kiev já ameaçaram bombardear a secção do oleoduto que passa pela Ucrânia. Parece tudo fácil: a União Europeia deixa de importar petróleo da Rússia e vai buscar as quantidades equivalentes a outras fontes, nem que seja à Venezuela, país a quem impôs sanções e roubou o ouro, para que tudo volte a funcionar como dantes. E, como diz o volátil primeiro-ministro de Portugal, os preços dos combustíveis voltarão à normalidade quando acabar a guerra na Ucrânia. Uma grosseira falsificação da realidade sentenciada com a maior desfaçatez. Os dirigentes europeus são, no mínimo, irresponsáveis ou ignorantes e mentirosos, ou tudo ao mesmo tempo, porque as coisas não funcionam assim. Vale a pena reflectir um pouco sobre o que está em jogo para lá da simplicidade de cortar o petróleo russo e substituí-lo por outro. E tudo apenas em seis meses. É muito duvidoso que a União Europeia consiga encontrar as quantidades de petróleo necessárias no mercado internacional e num período tão apertado de tempo. Por outro lado, a economia europeia funciona há décadas com base no petróleo russo barato e abundante, com características físicas e químicas há muito conhecidas e imutáveis, fluindo regularmente nas quantidades necessárias e sem interrupções. As refinarias, o aparelho industrial, a petroquímica, os transportes, os sistemas de aquecimento e a produção de derivados – gasolina, gasóleo, combustíveis para motores de avião, benzeno e outros – dos países da União Europeia estão há décadas afinados para trabalhar com as características do petróleo russo importado. «a economia europeia funciona há décadas com base no petróleo russo barato e abundante, com características físicas e químicas há muito conhecidas e imutáveis, fluindo regularmente nas quantidades necessárias e sem interrupções. As refinarias, o aparelho industrial, a petroquímica, os transportes, os sistemas de aquecimento e a produção de derivados – gasolina, gasóleo, combustíveis para motores de avião, benzeno e outros – dos países da União Europeia estão há décadas afinados para trabalhar com as características do petróleo russo importado» Tipos de petróleo oriundos de várias outras fontes e regiões, as misturas que venham a ser feitas entre eles, a inconstância e a variabilidade dessas próprias misturas e o desconhecimento que ainda existe quanto às suas características – isto no pressuposto de que seja encontrada no mercado a quantidade suficiente para abastecimento regular e constante – implicam uma reconversão dos aparelhos petrolífero e industrial europeus, a que devem adicionar-se as adaptações de transporte, de portos, do armazenamento e de toda a logística exigida para a transformação. E quando se fala de preços, esqueçamos o petróleo russo barato: as sanções impostas pelo Ocidente já colocaram o petróleo bruto bem acima dos 100 dólares por barril e elevaram os preços da energia nos Estados Unidos e na Europa para os níveis mais altos em 40 anos. Trata-se, relembra-se, apenas de um ponto de partida para preços que poderão ser estratosféricos em relação aos valores habituais, principalmente quando o petróleo russo for abolido, consequência a somar às decorrentes da perturbação dos mercados de gás natural devido, mais uma vez, à obsessão sancionadora dos dirigentes norte-americanos e europeus. Tendo em consideração o elevado número de variantes desconhecidas para tentar substituir o petróleo russo é impossível calcular até onde chegará a espiral dos preços da energia. Dizem os especialistas que a mudança radical do tipo de petróleo consumido na União Europeia implica gastos de milhões de milhões de euros e trabalhos para muitos anos, não para seis meses; e que as transições prometidas para as energias renováveis não passam ainda de piadas postas a circular pelos novos/velhos oligarcas convertidos à «economia verde» como novo ramo da selvajaria neoliberal. E não esqueçamos também que os veículos eléctricos são carregados com energia gerada essencialmente por combustíveis fósseis, em busca dos quais continua acesa a corrida em todo o mundo - e certamente por muitos anos. As promessas de substituição dos produtos petrolíferos são, por ora, historinhas para ninar ingénuos. Por este andar, devido a impossibilidade de substituir automaticamente o petróleo russo, dentro de meses o Ocidente mergulhará ainda mais na crise económica, na instabilidade dos fluxos energéticos; e a inflação, que alguns dizem agora ser passageira, implicará situações dolorosas na sociedade, sobretudo nos extratos mais desfavorecidos. Não por causa da «guerra de Putin» mas das sanções irracionais contra a Rússia impostas pelos dirigentes europeus e que se viram contra os povos europeus. Na guerra económica, onde «as coisas estão a correr mesmo muito mal», na opinião do editor de Economia do The Guardian, Larry Elliott, os dirigentes europeus não se limitam a dar tiros no pé. Outros saem-lhes pela culatra. E comprar petróleo à Líbia no mercado negro gerido por milícias terroristas ou adquirir à Índia petróleo que este país comprou à Rússia, mas agora com os preços multiplicados a uma potência bem elevada, são hipóteses bem à medida das brilhantes e desnorteadas cabeças dos nossos dirigentes. «Por este andar, devido a impossibilidade de substituir automaticamente o petróleo russo, dentro de meses o Ocidente mergulhará ainda mais na crise económica, na instabilidade dos fluxos energéticos; e a inflação, que alguns dizem agora ser passageira, implicará situações dolorosas na sociedade, sobretudo nos extratos mais desfavorecidos» Quanto à Rússia, segundo reconhecem publicações europeias como The Economist e o The Guardian, e até o New York Times nos Estados Unidos, nunca ganhou tanto dinheiro com a venda de petróleo, apesar de comercializar menos e de fazer descontos nos negócios com a China e a Índia. Sanções à Rússia? Vejamos as conclusões de The Economist: «A venda de petróleo e gás para a maior parte do mundo continua ininterruptamente. O superavit comercial deve bater recordes nos próximos meses; em 2022 o superavit em conta corrente, que inclui comércio e alguns fluxos financeiros, pode chegar a 250 mil milhões de dólares (15% do PIB de 2021), mais do dobro dos 120 mil milhões» do ano passado. Agora a palavra à CBS norte-americana: apesar do roubo das reservas cambiais russas no estrangeiro, «o rublo é a moeda com melhor desempenho do ano – ganhou mais de 40% ao dólar desde Janeiro», principalmente a partir do momento em que foi indexado ao ouro e não à divisa norte-americana. Além disso, ainda segundo a mesma fonte norte-americana, «o comércio de recursos naturais (russo) está em alta, embora haja quebra no volume de exportações – mas o aumento dos preços mais que compensa as quedas». Quando ao gás natural, diz o francês Les Echos citando o Citibank, que a Rússia pode ganhar mais 100 mil milhões de dólares do que no ano passado, por causa das subidas de preços decorrentes das sanções, apesar das quais «os 27 da União Europeia continuam a enviar 200 milhões de dólares por dia para a Gazprom». Simon Jenkins, colunista do The Guardian, chegou à seguinte conclusão: «enriquecendo em vez de empobrecer, Moscovo está a deixar os europeus com falta de gás e os africanos sem comida». A asserção é parcialmente verdadeira. Mas arrasta com ela um outro mito, o da responsabilidade da Rússia pela «fome no mundo», que a realidade livre da propaganda desmente com toda a facilidade. A narrativa sobre o agravamento da fome no mundo por causa da guerra na Ucrânia, sobretudo em consequência da actuação russa, é uma das mais descabeladas linhas de propaganda em circulação. Então a fome no mundo não é uma situação sistémica resultante das práticas coloniais e imperiais, das guerras e destruições conduzidas maioritariamente pela NATO e seus membros, dos atentados ambientais, da utilização predatória de grandes áreas de terrenos agrícolas em países em desenvolvimento pelas transnacionais da agroindústria, da inutilização de terras aráveis pela corrida entre as grandes potências na caça aos recursos minerais, da desertificação decorrente das más práticas contra os ecossistemas? Nada disso. A fome agrava-se porque, garante a opinião única, a Rússia impede a comercialização dos cereais ucranianos. É um dogma. Façamos então contas e arrolemos alguns factos reais. «O trigo representa 20% dos produtos alimentares comercializados, segundo a FAO, pelo que a quota real ucraniana é de 0,5%, isto é, pouco mais do que nada. Entretanto, segundo órgãos oficiais dos Estados Unidos, os 20 milhões de trigo ucraniano representam somente exportações potenciais: na realidade, a quantidade comercializável para o estrangeiro não ultrapassa os seis a sete milhões de toneladas» O mundo produz anualmente 800 milhões de toneladas de trigo e diz-se que a Ucrânia, considerada apenas o oitavo maior produtor, está pronta para exportar 20 milhões de toneladas, ou seja, 2,5%. O trigo representa 20% dos produtos alimentares comercializados, segundo a FAO, pelo que a quota real ucraniana é de 0,5%, isto é, pouco mais do que nada. Entretanto, segundo órgãos oficiais dos Estados Unidos, os 20 milhões de trigo ucraniano representam somente exportações potenciais: na realidade, a quantidade comercializável para o estrangeiro não ultrapassa os seis a sete milhões de toneladas. Irrelevante, portanto: a falta do trigo ucraniano tem uma contribuição nula para o aumento da fome. Acresce que o governo de Kiev tem elevadas responsabilidades nas dificuldades para a exportação do trigo produzido no país. As suas tropas minaram os portos que controlam no Mar Negro, principalmente o de Odessa e os mais próximos, e afundaram embarcações para barrar o acesso de navios às instalações. A Rússia e a Turquia dispuseram-se a desminar as águas e Moscovo comprometeu-se a criar e respeitar corredores humanitários para exportação de cereais. O presidente Zelensky e a sua corte nazi nem querem ouvir falar do assunto. Entretanto a Rússia desminou os portos de Mariupol e Berdiansk, que conquistou aos terroristas do Azov, e disponibilizou-os para a navegação internacional, incluindo embarcações ucranianas, através de corredores humanitários. Kiev continua a rejeitar. O governo ucraniano pode também exportar trigo – e consta que está a fazê-lo – através do Danúbio e da Roménia; através da Hungria; igualmente através da Polónia, desde que se façam acertos nas bitolas ferroviárias. E também poderia fazê-lo pelo território da Bielorrússia com acesso aos portos do Báltico. Mas essa via está barrada pelas sanções impostas contra Minsk. Seja como for, a questão do «congelamento» do trigo ucraniano é um falso problema e sem qualquer interferência na situação alimentar mundial. É fruto de uma propaganda doentia. Já a questão do trigo, dos fertilizantes e dos compostos para fertilizantes russos tem realmente impacto na alimentação europeia e mundial; porém, o governo russo não tem qualquer responsabilidade na situação. Os produtos apenas não são comercializados devido às sanções impostas pelo Ocidente a Moscovo, nada mais do que isso. A Rússia, o maior exportador mundial, teria capacidade para comercializar 37 milhões de toneladas de trigo este ano e 50 milhões em 1922/23. Contudo, é natural que nem todo esse volume fique retido em território russo porque a maior parte do mundo não aderiu às sanções e está disponível para encontrar maneiras de as contornar – tanto mais que não têm qualquer legalidade e não foram assumidas através da ONU. Trata-se apenas de «regras» arbitrárias impostas pelo Ocidente colonial. Subvertê-las é um acto de inteligência, resistência – e de sobrevivência. «Já a questão do trigo, dos fertilizantes e dos compostos para fertilizantes russos tem realmente impacto na alimentação europeia e mundial; porém, o governo russo não tem qualquer responsabilidade na situação. Os produtos apenas não são comercializados devido às sanções impostas pelo Ocidente a Moscovo, nada mais do que isso» Mas as sanções impostas à Rússia perturbam, de facto, o panorama alimentar mundial e em África sente-se já, por exemplo, a falta de fertilizantes e de potássio para fertilizantes. É natural que assim seja: Moscovo representa um quarto do comércio mundial de fertilizantes; e a Rússia e a Bielorrússia, igualmente submetida a sanções, são responsáveis por 45% dos fertilizantes potássicos. Mais uma vez, sejamos claros e objectivos: as dificuldades agravadas sentidas na situação alimentar mundial não decorrem da «guerra na Ucrânia» mas das sanções impostas à Rússia pelo Ocidente geopolítico – menos de 15% da população mundial. É natural, portanto, que cresça no mundo o interesse de cada vez mais países numa nova ordem mundial multipolar ancorada na afirmação crescente de potências com a Rússia e a China. As medidas práticas de contestação da ditadura do dólar e de instituições imperiais como o FMI e o Banco Mundial surgem e reforçam-se através de novas formas de cooperação regionais e transnacionais; e as transacções comerciais e os movimentos financeiros com base em commodities, matérias-primas e outros recursos naturais começaram a substituir o dólar. É a tentativa de restaurar uma economia internacional com base em recursos tangíveis e não em papel verde impresso às toneladas e à medida das necessidades especulativas de uma sociedade financeirizada em que os oligarcas jogam em casinos globalistas de onde a economia virtual expulsou praticamente a economia real assente em riqueza palpável. Na recente cimeira do Fórum Económico Mundial, o cenáculo do neoliberalismo, não foi apenas Kissinger quem deitou água gelada na euforia arrogante do globalismo ortodoxo e do «Great Reset», o «grande reinício» para impor um neoliberalismo «renovado» em bases «ecológicas». James Diman, representante do gigante bancário JP Morgan, vaticinou que «um furacão económico está a chegar». O neoliberalismo, como instrumento do imperialismo e do colonialismo globalista, parece ter começado a abanar à medida que a ordem mundial unipolar vai perdendo terreno. São sinais significativos de que o Ocidente geopolítico entrou em decomposição. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Desgastaram-se os rótulos partidários, apagou-se o pouco que restava de ideologia, a própria palavra «democracia» já quase não se ouve, os partidos com «vocação para governar» (Paulo Portas dixit) esbateram fronteiras entre si, a classe política instaurou o regime único, um partido operacionalmente único, um sistema económico-financeiro-político único – o capitalismo selvagem – o pensamento único, a opinião única, neste caso a partir do momento em que a comunicação social caiu globalmente no regaço privado, por generosidade do Estado, onde a chamada informação não passa de um simples artigo de consumo fabricado unicamente para dar lucro e fazer propaganda do poder. É a classe política em funções, arremetendo sem freios contra os interesses das pessoas e do país. Nestas condições foi possível que todos os passos transformadores para erradicar o 25 de Abril fossem dados sem qualquer auscultação popular, sem o povo ser verdadeiramente informado do que estava a passar-se e quais as consequências. Assim aconteceu com a anexação pela CEE e depois pela União Europeia; com os tratados federalistas reduzindo Portugal ao papel de protectorado de entidades transnacionais não eleitas que extravasam o espaço europeu; com a substituição do escudo por uma moeda que continua a espalhar miséria entre os portugueses; com as privatizações fraudulentas e «amiguistas» de sectores base e históricos do aparelho produtivo nacional; com a venda a retalho das parcelas lucrativas da economia portuguesa; com a participação em guerras ilegais de agressão e a doação de armas a um regime que espezinha a democracia; com a liquidação da indústria e da agricultura portuguesas, cancelando deliberadamente o seu potencial por obediência ao diktat europeu; com o abandono da soberania e da independência nacional, inclusivamente perdendo o controlo sobre o conteúdo do Orçamento de Estado de cada ano; com a transformação antinacional do tecido social e económico português. «No meio desta avalancha de medidas extremamente nocivas para a população em geral, a classe política assaltou e destruiu também a Reforma Agrária com um ódio demente, uma sanha pidesca e operações terroristas próprias do banditismo sociopata. […] O Alentejo, tratado desta maneira, deixou de ser o «celeiro de Portugal». Agora, os cereais, o pão e a alimentação em geral dos portugueses dependem quase totalmente de dispendiosas importações. Os bens alimentares tornaram-se vítimas dos caprichos do divino mercado, mais ainda quando este se «autoregula» ao ritmo de sanções idiotas, criminosas e ilegais» No meio desta avalancha de medidas extremamente nocivas para a população em geral, a classe política assaltou e destruiu também a Reforma Agrária com um ódio demente, uma sanha pidesca e operações terroristas próprias do banditismo sociopata. Percebeu-se que a violência sem lei, a arrogância e a essência fascista dos sectores latifundiários e seus servidores nos centros de poder não tinham desaparecido; mantinham-se activos e prontos a restaurar métodos salazaristas nos campos do Alentejo e Ribatejo. Em 27 de Setembro de 1979, a GNR assassinou a tiro dois trabalhadores agrícolas na herdade de Vale do Nobre, no concelho alentejano de Montemor-o-Novo: José Geraldo «Caravela, de 57 anos, e António Casquinha, de apenas 17. Morreram da mesma maneira que Catarina Eufémia, abatida em Baleizão 25 anos antes, pela mesma GNR. Os métodos da «democracia ocidental» irmanaram-se com os da sua antecessora salazarista, na ocasião para aplicar a famigerada «lei Barreto», uma obra da governação do dr. Soares em aliança com os gangues de latifundiários. O antigo ministro da Agricultura, António Barreto, transformado entretanto, e com toda a justiça, numa espécie de filósofo oficial do regime, comentou em 2010 os acontecimentos de 1979 explicando que «foi preciso usar alguma violência controlada». Recordando a velha máxima salazarista que aconselhava «um safanão dado a tempo», ministros de Salazar não diriam melhor. O Alentejo, tratado desta maneira, deixou de ser o «celeiro de Portugal». Agora, os cereais, o pão e a alimentação em geral dos portugueses dependem quase totalmente de dispendiosas importações. Os bens alimentares tornaram-se vítimas dos caprichos do divino mercado, mais ainda quando este se «autoregula» ao ritmo de sanções idiotas, criminosas e ilegais. Que a classe política adopta em piloto automático, seguindo as ordens dos seus superiores mesmo sabendo que agravam ainda mais a vida difícil da maioria das famílias. Foi a traição à Constituição assumida deliberadamente, e como sistema, pela «classe política» nascida do novembrismo que marcou o lamentável percurso de Portugal até ao estado degradante em que se encontra. Durante as últimas décadas, uma «classe política» sem referências humanistas, volúvel e estrangeirada – o adjectivo mais adequado é apátrida –, usurpou a democracia e montou um regime económico, político, social e mediático em Portugal no qual se comporta como uma entidade marginal em relação à Constituição que jurou respeitar. À entrada das celebrações do 50.º aniversário da Revolução de 25 de Abril de 1974, o povo português é governado segundo práticas anti-constitucionais. Passaram-se 47 anos sobre a aprovação da Constituição da República, mas da efeméride poucos se lembraram. A data foi ignorada pelos poderes públicos, a «classe política» continuou a comportar-se como se tal coisa não existisse, a «sociedade civil» acha que tem muito mais com que preocupar-se; apenas algumas organizações cívicas – «sectores afectos ao 25 de Abril», como se diz na CNN em tom de quem fala de extraterrestres – evocaram a vigência, a actualidade e o carácter normativo da lei das leis do país. Em boa verdade, será mesmo que a Constituição existe? Serve realmente como base de funcionamento do regime político, económico e social ou, para os órgãos de poder, não passa de um estorvo para cumprir ou desrespeitar consoante as circunstâncias que lhes interessam? Da Constituição da República fala-se quando chega algum veto de Belém sobre um assunto específico, quantas vezes avulso e aleatório transformado em matéria transcendente pela promiscuidade entre a comunicação social e algumas agendas políticas, fazendo então mexer o sonolento Tribunal Constitucional. Ou então emerge episodicamente através das mesmas traficâncias político-mediáticas quando o assunto é a sua própria revisão, deixando-se bem claro que o intuito é fabricar um texto constitucional à medida dos interesses, caprichos e arbitrariedades do regime estrangeirado, em vez de ser este a respeitar a Lei Fundamental do país. Ou seja, uma política à la carte para as ganâncias oligárquicas de sempre e para quem a Constituição de Abril se atravessou abusivamente nos caminhos atapetados da Constituição salazarista de 1933. Ganâncias, essas, entretanto transnacionalizadas ao ritmo dos objectivos totalitários do globalismo, que sempre foram determinados por interpretações da Lei Fundamental promulgada em 25 de Abril de 1976 segundo os apetites revanchistas a que deram largas a partir de 25 de Novembro de 1975. Foi essa traição à Constituição assumida deliberadamente, e como sistema, pela «classe política» nascida do novembrismo que marcou o lamentável percurso de Portugal até ao estado degradante em que se encontra: nem «soberano», nem «indivisível» – porque fundido e apagado em instâncias antidemocráticas como a União Europeia e a NATO – e apenas formalmente correspondendo ao «poder do povo». A legalidade democrática foi subvertida. Note-se que a democracia não necessitou de ser adjectivada na Constituição em vigor, a não ser pelo termo «participativa»; no entanto, a «classe política» que usurpou esse poder soberano aos portugueses, mantendo-o como refém, designa o sistema como «democracia liberal», isto é, uma mistela praticamente esvaziada do seu conteúdo democrático, ignorando ostensivamente os princípios libertadores do 25 de Abril, importada dos «amigos» e «aliados» que anularam o direito internacional ao instituírem uma «ordem internacional baseada em regras» receitadas de Washington – a quem se deve a paternidade do próprio novembrismo. A releitura da Constituição da República, que se recomenda a todos os cidadãos para recordarmos, reactivarmos e defendermos a riquíssima e bem viva base de trabalho e mobilização legada pelo 25 de Abril de 1974, deve fazer-se cotejando-a, a todo o momento, com a realidade de hoje em Portugal. É verdade que se trata de um roteiro penoso e revoltante tendo em conta a prática dos poderes políticos desde o primeiro governo constitucional ao actual; porém, ao mesmo tempo trata-se de um exercício aconselhável para definir as acções de cidadania indispensáveis de modo a que o constitucionalismo seja reposto no país. E não, a revisão constitucional não é a solução, mas sim o respeito íntegro pela Constituição em vigor. Portugal deixará assim de ser uma potencial cópia de «parceiros» e «aliados»? É natural que assim seja: o 25 de Abril também foi único, está vivo e não é cópia de coisa alguma. «Note-se que a democracia não necessitou de ser adjectivada na Constituição em vigor, a não ser pelo termo "participativa"; no entanto, a "classe política" que usurpou esse poder soberano aos portugueses, mantendo-o como refém, designa o sistema como "democracia liberal"» Não é a Constituição que tem de ser revista; o regime é que tem de ser devolvido pelo povo às suas origens constitucionais, sistematicamente espezinhadas. Não é tolerável qualquer enviesamento do espírito da Constituição em vigor, definido desde logo no preâmbulo, sob pena de permitirmos que o 25 de Abril seja definitivamente enterrado, como pretende a «classe política» para, no fundo, terminar o que Novembro começou e os «amigos» e «aliados» impõem. Com tais «amigos» dispensam-se os inimigos. O processo de revisão constitucional e os projectos apresentados por PSD, IL e Chega mostram que o objectivo é dar cobertura constitucional à política de direita, mutilando e subvertendo a Constituição. O projecto de revisão constitucional apresentado pelo PSD, em linha com o seu protagonismo na imposição ao País de uma política de retrocesso social e declínio económico, revela um conjunto de propostas de carácter antidemocrático e evidencia uma colagem aos posicionamentos mais reaccionários e demagógicos assumidos pelo Chega e a IL. O processo de revisão constitucional em marcha é determinado pelo ataque ao regime democrático e aos direitos fundamentais, um objectivo bem evidente nos projectos dos partidos de direita, nomeadamente quando definem como alvo as liberdades democráticas e os direitos consagrados pela Constituição, na sequência do 25 de Abril. Aliás, das propostas que apresentam emergem as que branqueiam o fascismo, admitem a limitação de liberdades, através da facilitação do recurso ao estado de excepção e da devassa de informações relativas às comunicações dos cidadãos por parte dos serviços de informações. Mas também as propostas que admitem o regresso da «fichagem» de pessoas e famílias com a recolha de informações pessoais e que procuram condicionar o pluralismo limitando as possibilidades de representação institucional, para além das que reabilitam o recurso a penas perpétuas e tratamentos cruéis ou degradantes para os condenados. O PSD, o Chega e a IL apresentam também propostas que visam a eliminação de direitos das comissões de trabalhadores, a liquidação de direitos sociais na saúde, educação, habitação e procuram restringir os recursos do Estado para o cumprimento das suas funções sociais. Ao dar o seu aval a este processo de revisão constitucional, o PS assume uma opção com consequências graves na vida nacional, agravada pelo facto de o seu projecto também admitir a possibilidade de limitação de liberdades e a devassa de informações relativas às comunicações dos cidadãos por parte dos serviços de informações. Uma situação que abre a porta a um eventual entendimento com o PSD e do qual pode resultar a subversão da Constituição da República. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. O preâmbulo estabelece que a Constituição «corresponde às aspirações reais do país» assegurando «o primado do Estado de direito» e a abertura do «caminho para uma sociedade socialista» no sentido de «um país mais livre, mais justo e mais fraterno». O espírito de Abril sintetiza-se nestas poucas palavras, suficientes, porém, para expurgar do cenário político, económico e social em Portugal aquilo a que chamam «democracia liberal», realmente uma artimanha corrupta neoliberal que vai esbatendo qualquer exercício democrático. Deduz-se com facilidade que, logo após a implantação dos «governos constitucionais», o caminho seguido desde o soarismo e o cavaquismo ao passismo/portismo e costismo, passando por outros lamentáveis ismos como o guterrismo, socratismo e barrosismo/santanismo, com chancela PS ou PSD e respectivas coligações fraternas, tem sido contrário ao definido pela Constituição. A governação do país nos últimos 47 anos é uma permanente guerra contra o espírito e a letra da Lei Fundamental do país em matérias tão fulcrais como a soberania e independência nacional, a prática da democracia, a participação popular, o respeito pelas pessoas, a família, o trabalho, a economia, a habitação, educação e saúde, a juventude, cultura, a liberdade de opinião e imprensa, sem esquecer o desprezo pelos mais idosos, a “peste grisalha”, definição própria da sociopatia cultivada no PSD e adjacências, entre as quais o pequeno gauleiter doutorado em traulitada hooliganística futeboleira. «Não é a Constituição que tem de ser revista; o regime é que tem de ser devolvido pelo povo às suas origens constitucionais, sistematicamente espezinhadas.» Ou seja, as práticas e os comportamentos dos governos são anti-constitucionais. E o órgão fiscalizador, o Tribunal Constitucional, permite-o por inércia e omissão principalmente em relação ao espírito bem claro da Constituição – ou não emanasse ele da clique de duas caras, PS e PSD, senhora do tráfico de influências no interior da tribo da «classe política». No curso da leitura do articulado constitucional é impossível não encalhar, até pelas circunstâncias da actualidade, nas tropelias cometidas em relação ao conteúdo do artigo 7.º, sobre as relações internacionais. Qualquer semelhança entre o texto constitucional e as práticas governamentais seria pura coincidência, que nem sequer se verifica. Aqui se recomendam os princípios do respeito pela «independência nacional», os «direitos humanos» e «dos povos», a «igualdade entre os Estados», a «solução pacífica dos conflitos internacionais», a «não ingerência nos assuntos internos dos outros Estados», a «abolição do colonialismo, do imperialismo e de quaisquer outras formas de agressão», a «dissolução dos blocos político-militares», o «estabelecimento de um sistema de segurança colectiva, com vista à criação de uma ordem internacional capaz de assegurar a paz e a justiça nas relações entre os povos». Não cabe aqui esmiuçar todos estes aspectos porque cada leitor e leitora encontrará facilmente riquíssimos exemplos das violações grosseiras dos princípios lembrados. Uma nota apenas: cultiva-se a paz enviando tropas e armamento para guerras ilegais, coloniais e de rapina? Basta citar, sem necessidade de ser exaustivo, o desrespeito activo dos governos constitucionais portugueses pelos direitos de povos como o palestiniano, o do Saara Ocidental, os que são vítimas de guerras apoiadas por Portugal – com participação directa em algumas delas como Jugoslávia, Afeganistão, Iraque, Ucrânia e África Central – os da Síria, do Iémen, da Somália, da Líbia; pelos deveres objectivos rejeitados perante os milhões de refugiados desses conflitos e da subsistência do colonialismo; e a inércia perante tantas outras situações degradantes que Portugal olimpicamente ignora como a fome, a deslocação forçada, o roubo de terras e riquezas naturais de centenas de milhões de pessoas em todo o mundo. As causas desta situação, num quadro geral ameaçador como nunca para a existência do planeta, são o poder imperial e unipolar dos Estados Unidos da América, o correspondente colonialismo em que a União Europeia está enterrada sem quaisquer escrúpulos, o reforço do único bloco militar – que tem ambições expansionistas de cariz global –, a prevalência da «ordem internacional» norte-americana «baseada em regras» à revelia do próprio direito internacional; a estas circunstâncias, cuja rejeição exige coragem e dignidade que não estão ao alcance de governantes vegetativos e sem brio nacional, soma-se a militarização operacional e cultural da sociedade ditada pelos senhores da guerra ao serviço das oligarquias sustentadas, em grande parte, pelas intoxicantes actividades mediáticas e de entretenimento, pela indústria da morte, a mais florescente do globo a par da produção e tráfico de estupefacientes – muitas vezes fundindo-se e confundindo-se. Avaliemos os comportamentos dos governos portugueses em relação a cada um destes aspectos e ficamos claramente identificados sobre o grau de incompatibilidade entre as suas práticas e a Constituição da República. Ilustremos ainda o teor das actuações governamentais através de exemplos aparentemente avulsos mas que funcionam como marcos indisfarçáveis da guerra contra a Lei Fundamental do país. É o caso do acolhimento nos Açores da cimeira que lançou a invasão e guerra de destruição contra o Iraque, em 2003, com base em mentiras hoje universalmente reconhecidas, mas que, nem por isso, deixaram de funcionar como modelo para outras agressões; do reconhecimento e até acolhimento do fascista Juan Guaidó como «presidente» da Venezuela na sequência de uma tentativa de golpe de Estado operada pelos Estados Unidos; da participação portuguesa no roubo de ouro e de parcelas da reserva de divisas da Venezuela, das reservas monetárias russas em bancos europeus, de fundos do Banco Central do Afeganistão; da agressão aos interesses e qualidade de vida dos portugueses em consequência das sanções ilegais e arbitrárias contra a Rússia impostas por exigência, logo cumprida, dos Estados Unidos da América; do apoio e conivência com sanções criminosas e ilegais contra vários povos como os do Irão, Venezuela (prejudicando centenas de milhares de emigrantes portugueses), Afeganistão, Síria, Iraque: não se ouviu em Lisboa ou nos círculos internacionais uma qualquer palavra portuguesas de repulsa quando a secretária de Estado norte-americana, Madeleine Albright, declarou que o assassínio de meio milhão de crianças iraquianas por causa das sanções internacionais ao regime de Bagdade «valeu a pena». Em relação ao(s) bloco(s) militar(es), os governos portugueses fazem exactamente o contrário do que determina a Constituição: em vez de trabalharem no interior da NATO pela sua dissolução e a procura de soluções pacíficas para os conflitos, preferem exibir-se entre os mais proeminentes apoiantes das políticas de guerra e votam favoravelmente sempre que cada novo país é anexado pela aliança, reforçando o seu carácter agressor e expansionista. O artigo 275.º da Lei Fundamental dita que as Forças Armadas «estão ao serviço do povo português». Na realidade não estão: submetidas, naturalmente, ao poder político tornaram-se um ramo quase exclusivamente ao serviço da NATO e de aventuras militares da União Europeia. Ora os interesses do povo português nada têm a ver com o expansionismo e as guerras da NATO e o colonialismo da União Europeia. Sem um autêntico banco central, sem moeda, sem poder sobre os mecanismos determinantes da economia e comércio; sem autorização para decidir, em última instância, sobre o Orçamento de Estado; submetido a fiscalizações periódicas sobre despesa, dívida e défice – pairando a bestialidade da troika, FMI e Banco Mundial sobre a vida das instituições, das famílias e dos cidadãos; com indústria, agricultura – a extinção da produção de cereais é revoltante – e pescas residuais e estruturas fundamentais do Estado dissolvidas no magma federalista não assumido mas que molda a União Europeia; com a jurisdição sobre as Forças Armadas depositada pelo governo no aparelho belicista da NATO; com a privacidade dos cidadãos e os mecanismos da chamada «segurança nacional» entregues a instituições policiais transnacionais sem rosto, nada transparentes e que desembocam, regra geral, no aparelho de espionagem universal montado pelos Estados Unidos da América, Portugal não passa de um holograma, uma insignificante província do espaço territorial federalizado da Europa, gerido por figuras obscuras, não eleitas, ao serviço de oligarquias apátridas transnacionais. Até a pobre bandeira foi obrigada a partilhar os espaços públicos com o pavilhão federalista. Volta Miguel Vasconcelos, estás perdoado. «Em relação ao(s) bloco(s) militar(es), os governos portugueses fazem exactamente o contrário do que determina a Constituição: em vez de trabalharem no interior da NATO pela sua dissolução e a procura de soluções pacíficas para os conflitos, preferem exibir-se entre os mais proeminentes apoiantes das políticas de guerra e votam favoravelmente sempre que cada novo país é anexado pela aliança, reforçando o seu carácter agressor e expansionista.» Acresce que a banca nacional deixou de o ser porque foi engolida pelos complexos financeiros e especulativos sem fronteiras; e a opinião pública é formatada pelos conglomerados monopolizadores dos terminais de comunicação – e também sem fronteiras. Bem pode a Constituição da República determinar «a não concentração da titularidade dos meios de comunicação social». O que existe, na realidade, é um monopólio do controlo das mentes manobrado por centrais de propaganda transnacionais e globalistas. Saberão muitos e renomados jornalistas de hoje, capazes de confundir deontologia com um tratamento dentário, que a Constituição lhes garante a «intervenção na orientação editorial dos respectivos órgãos de comunicação social»? E que a liberdade de expressão e informação «não pode ser impedida ou limitada por qualquer tipo ou forma de censura»? O tempo do lápis azul dos abrutalhados coronéis já lá vai; agora o terrorismo censório é muito mais sofisticado, extremamente nocivo mas provavelmente indolor para a maioria da população. Resta assim pouco espaço para ser cidadão português em Portugal ou em qualquer outra parte do mundo, sem que, por outro lado, exista aquilo a que convencionou chamar-se «cidadania europeia», uma das várias falácias em que as franjas branqueadas do nazismo alemão associadas aos fanáticos arautos dos «Estados Unidos da Europa», todos amarrados pelas obrigações prescritas pelo Plano Marshall, formataram a «integração Europeia» quando a II Guerra Mundial ainda não tinha arrefecido. Ora nada disto encaixa na Constituição da República, que deixa bem claro e fundamentado o princípio de que a independência nacional não é negociável. Nem mesmo em caso de revisão, como pode ler-se no artigo 288.º. Recorde-se o que estabelece o artigo 3.º – 1 e compare-se com a realidade pouco atrás exposta: «A soberania, una e indivisível, reside no povo, que a exerce segundo as formas previstas na Constituição». E no parágrafo seguinte (2) lê-se que o «Estado subordina-se à Constituição e funda-se na legalidade democrática». Onde está a subordinação à Constituição? Onde pára a «legalidade democrática», dependendo sempre, em última instância, de instituições autocráticas como a União Europeia e a NATO? Em termos dessa mesma legalidade democrática, o Estado – ou melhor, a confraria da «classe política» – nem ao menos recorreu à faculdade prevista no artigo 161.º: A Constituição «não prejudica a possibilidade de convocação e efectivação de referendo sobre a aprovação de tratado que vise a construção e aprofundamento da união europeia». Passaram, entretanto, a adesão à Comunidade Económica Europeia, Maastricht, a abolição da moeda nacional e a imposição do euro e o Tratado de Lisboa sem que os cidadãos portugueses pudessem dizer uma única palavra sobre essas decisões que acabaram por moldar as suas vidas de maneira nociva. «Constituição» e «legalidade democrática» são, pelos vistos, compromissos obrigatórios mas descartáveis. O regime funciona de maneira anti-constitucional. O governo, o chefe de Estado e a maioria obrigatória na Assembleia da República – o regime manieta as organizações políticas que não acatam o neoliberalismo como ideologia única – assanham-se ainda mais contra a Constituição em matéria de economia. O artigo 80.º, na alínea a) determina que haja «subordinação do poder económico ao poder político». A partir da violação grosseira desta cláusula, os poderes políticos mergulham num pântano de fraude e desenvolvimento das desigualdades sociais onde florescem os mais ricos dos mais ricos. As maiores vítimas da economia à qual a «classe política» se verga são os trabalhadores, os pequenos e médios agricultores, as pequenas e médias empresas, no fundo aqueles que criam riqueza mas são desprezados pelos que vivem e governam ao serviço do casino financeiro. O neoliberalismo como regime único e indiscutível espezinha a Constituição, mas isso é o que menos incomoda a parasitária casta dirigente e os seus patrões sem pátria. Este quadro faz, naturalmente, tábua rasa do conteúdo da alínea b) do mesmo artigo 80.º, que estabelece a «coexistência do sector público, do sector privado e cooperativo», sabendo todos nós que o Estado está impedido de concorrer em termos de igualdade e funciona para servir o sector privado tanto através das privatizações dos sectores mais lucrativos da economia – note-se que a TAP, agora que começou a dar lucro, já tem horizonte para passar a empresa privada e sem bandeira –, como da canalização de toneladas de euros dos nossos impostos para as contas dos patrões; sobretudo os mais chantagistas, quando começam a carpir que estão em dificuldades, ou seja, quando os volumes obscenos de lucros não atingem as alucinantes metas pretendidas para transferir offshore depois de «pagarem» os impostos em paraísos fiscais. «Aumentar o bem-estar social, económico e de qualidade de vida das pessoas», «operar as necessárias correcções das desigualdades na distribuição da riqueza e desenvolvimento», «eliminar progressivamente as diferenças económicas e sociais entre a cidade e o campo, o litoral e o interior» são normas constitucionais cuja simples citação permite entender a marginalidade institucional de quem nos governa. Para o poder representam somente pias intenções. Há mais circunstâncias comprovativas do absurdo governamental: por exemplo (artigo 81.º f), o Estado «deve assegurar o funcionamento eficiente dos mercados», «contrariar as formas de organização monopolista» e «reprimir os abusos de posição dominante». Como? O Estado «assegurar» qualquer coisa no «mercado», entidade intocável, endeusada por se regular a si própria como dogmatiza o neoliberalismo oficial? Contrariar os monopólios, isto é, desmontar, por exemplo (não exaustivo) as situações na distribuição alimentar, na actividade livreira, no domínio da comunicação audiovisual? Poderia a «civilização ocidental» tolerar heresias deste tipo? O que dizer então sobre a exigência de «propriedade pública dos recursos naturais (quando até as águas se privatizam por simples vontade de autarquias) e dos meios de produção, de acordo com o interesse colectivo»? Não será que nessa matéria, e como regra geral, o interesse privado, e não o colectivo, é quem mais ordena no país? A Constituição reserva, por exemplo, as estradas e as vias férreas nacionais para «o domínio público». Domínio que passa a ser uma farsa quando se entregam esses bens do povo a concessões privadas contra o povo, o mesmo acontecendo com os aeroportos (embora não sejam explicitamente citados), a distribuição de energia eléctrica, as telecomunicações, explorações mineiras e bens naturais e históricos como praias e monumentos. Tal como as parcerias público-privadas (PPP), principalmente na saúde, são agressões ao Estado e aos cidadãos, mais uma arma disparando contra o Serviço Nacional de Saúde, filho dilecto da Constituição mas depauperado de uma maneira que os poderes desejam irremediável – pelo menos tendo em conta as práticas à vista de todos. E será que os investimentos estrangeiros contribuem para «defender a independência nacional e os interesses dos trabalhadores», como ordena a Constituição? De que maneira as máfias do tipo da Altice, da Vinci e outras poderiam estar presentes no país respeitando estas normas – elas que medram sem leis e fazem o que querem de governos sem coluna vertebral? Interesses dos trabalhadores. Observemos então o desprezo com que são tratados pelos inimigos da Lei Fundamental. «Todos têm direito ao trabalho», lê-se no artigo 58.º, certamente para surpresa do imenso exército de desempregados, trabalhadores precários, contratados a prazo, despedidos sem justa causa, escravos rurais, da construção e outras situações todas elas ilustrativas de como o poder económico-político preza «os direitos humanos». Quando as pessoas não passam de números, dados estatísticos e ferramentas económicas a quem se exige o máximo de eficácia com um mínimo de retribuição que outro comportamento poderia esperar-se? Também é constitucionalmente obrigatória «a execução de políticas de pleno emprego». Impossível! O neoliberalismo não vive sem uma imensa bolsa de desempregados. Além disso, o trabalho deve ser organizado «de forma a facultar a realização pessoal e a permitir a conciliação da actividade profissional com a vida familiar». Sem esquecer que «trabalho igual salário igual» e «a retribuição do trabalho» deve ser assegurada «de forma a garantir uma existência condigna»; além de o Estado «dever adaptar uma política tendente a estabelecer um sistema de renda compatível com o rendimento familiar e de acesso à habitação própria». As práticas governamentais impondo, de facto, congelamento de salários e pensões (e a perda constante do seu poder de compra), cargas horárias esclavagistas, políticas desumanas de turnos de trabalho atropelam deliberadamente a Constituição, artigo após artigo. Agora o executivo distribui migalhas irrisórias quando lhe apetece, tudo como fuga à obrigação constitucional de promover salários dignos. Comentários dispensam-se, a comparação simples entre a Lei Fundamental e a realidade é elucidativa. Anote-se apenas que a constante «liberalização do mercado de trabalho», sempre insaciável para as associações patronais e seus serviçais no Parlamento e no governo, sendo doutrina básica do neoliberalismo não cabe na Constituição. Da mesma maneira são absolutamente vazias de conteúdo, exercícios de propaganda cruel e sintomas graves de sociopatia, as homílias dos poderes públicos garantindo a dignidade e o bem-estar das famílias. Por exemplo, onde estão a promoção «da independência social e económica dos agregados familiares» e da «conciliação da actividade profissional com a vida familiar»? E «o direito à segurança económica das pessoas idosas»? «As práticas governamentais impondo, de facto, congelamento de salários e pensões (e a perda constante do seu poder de compra), cargas horárias esclavagistas, políticas desumanas de turnos de trabalho atropelam deliberadamente a Constituição, artigo após artigo. Agora o executivo distribui migalhas irrisórias quando lhe apetece, tudo como fuga à obrigação constitucional de promover salários dignos.» Ainda em relação ao trabalho, recordem-se normas constitucionais como «as comissões de trabalhadores exercem o controlo de gestão nas empresas», «participam no processo de reestruturação das empresas», na «legislação do trabalho e dos planos económico-sociais que contemplam os respectivos sectores». Ou, como determina o artigo 89.º, «a participação efectiva dos trabalhadores na gestão do sector público». Surpresa das surpresas: tem de haver um «limite máximo da jornada de trabalho» e «é garantida aos trabalhadores a segurança no emprego, sendo proibidos os despedimentos sem justa causa ou por motivos políticos e ideológicos». Um cemitério de letras mortas. «O poder político pertence ao povo e é exercido nos termos da Constituição», determina o artigo 108.º. O primeiro-ministro e os membros do governo leram isto? Os deputados da maioria obrigatória conhecem esta norma básica do seu estatuto? Ao chefe de Estado, que jurou «cumprir e fazer cumprir a Constituição», escaparam-lhe estas palavras, talvez perdidas algures no meio das suas leituras enciclopédicas? «Povo», na verdade, já não existe, desmembrado entre «público» (algo que assiste mas não intervém), contribuintes e consumidores. Assim como os trabalhadores se transformaram em «colaboradores» – companheiros de jornada dos patrões, membros da santa família empresarial, recompensados com gorjetas de boa vontade pingando dos lucros sem os danificar. O povo, nos termos da Constituição, elege os seus representantes para exercerem o poder; e nas eleições e campanhas eleitorais há «igualdade de oportunidades e tratamento das diversas candidaturas». A sério? Relembrem-se das campanhas eleitorais, das respectivas coberturas nos meios de comunicação social, dos debates selectivos onde se parte do princípio de que apenas dois partidos (com alguns apêndices conjunturais) – unificados pela ideologia neoliberal – podem ser contemplados com o exercício do verdadeiro poder governativo e parlamentar. O «arco da governação», como um acérrimo inimigo da Constituição, Paulo Portas, definiu nos tempos do protectorado da troika. Avaliem as maneiras díspares como os partidos são tratados pelo aparelho político-económico-mediático, endeusados ou insultados consoante se identificam ou não com o regime único, e extraiam conclusões. Assim sendo, o cidadão vota de tempos a tempos, condicionado pela distorção do ambiente envolvente de maneira favorecer os partidos «vocacionados» para o poder – que ignoram os seus próprios programas de governo talvez ainda mais do que a Constituição – e perde imediatamente a pista do seu voto, utilizado a belo prazer pela «classe política» e o sistema económico-político-mediático do fundamentalismo capitalista. Um território pantanoso, opaco, onde a democracia se vai afundando. Não havendo igualdade de oportunidades não há democracia real; talvez seja isso a «democracia liberal», na verdade neoliberal e residualmente democrática. O único adjectivo para qualificar a democracia usado na Constituição é o de «participativa», coisa a que o neoliberalismo, vivendo de apascentar carneiros, é alérgico. Entre democracia participativa e democracia liberal vai a diferença entre Abril e o modelo importado, delineado depois de Novembro pela continuidade harmónica entre o soarismo (socialismo «na gaveta», chegada do FMI e primeira liberalização laboral, com instauração, designadamente, dos contratos a prazo a que prometera não recorrer) e o cavaquismo (revanchismo das reprivatizações e regresso da cleptocracia oligárquica das seitas financeiras do antigamente). A integração europeia, sem consulta aos portugueses, a subserviência sem escrúpulos à NATO e o lançamento da moeda nacional para o lixo fizeram o resto até ao estado degradante, belicista e anti-constitucional em que vivemos. «Não havendo igualdade de oportunidades não há democracia real; talvez seja isso a "democracia liberal", na verdade neoliberal e residualmente democrática.» Provavelmente, a situação mais humilhante para o povo português e a independência nacional é a obrigação de o Orçamento de Estado, instrumento fundamental para decidir sobre a vida de todos os cidadãos, só ter existência «legal» depois de receber a chancela da Comissão Europeia. O artigo 161.º da Constituição determina: É competência política e legislativa da Assembleia da República «aprovar as leis das grandes opções dos planos nacionais e o Orçamento do Estado, sob proposta do governo». No entanto, quem tem a última palavra na validação do documento são os tecnocratas de Bruxelas que ninguém elegeu e actuam como meras correias de transmissão dos potentados económico-financeiros transnacionais que asseguram a «civilização ocidental». Os mecanismos autocráticos, totalitários mesmo, sobrepõem-se às vias democráticas, a ditadura da UE liquida a independência nacional. O processo é perverso porque a elaboração e aprovação do Orçamento pelo governo e o Parlamento estão viciadas à partida pelo facto de a lei ter de passar obrigatoriamente, em derradeira instância, pelas malhas inquisitoriais dos obscuros gabinetes da Comissão. Nem que para isso tenham de cair governos. Agora que começam a celebrar-se os 50 anos de Abril é altura propícia para restaurar princípios da Revolução, de conteúdo verdadeiramente popular, que não se extinguiram, apenas estão amordaçados. É possível encontrá-los a todos na Constituição: por isso o regime usurpador a odeia e pretende extirpar da realidade nacional, substituindo-a por outra copiada dos manuais neoliberais. Esta é a fronteira em que os portugueses se encontram: entre a Constituição e o capitalismo autocrático e sem lei; entre a independência nacional e a sabujice aos «amigos» e «aliados»; entre o 25 de Abril e os que pretendem erradicá-lo de vez. Defender a Constituição com unhas e dentes é talvez uma das últimas barreiras contra a selvajaria revanchista, neoliberal e autocrática. É um objectivo que exige disponibilidade, coragem e o abandono do torpor induzido de maneira a alcançar uma mobilização essencial para que Portugal recupere a dignidade, o povo de Abril volte a ser povo e a ter o poder, então sim em democracia sem adjectivos, a não ser o de «participativa». Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Em paralelo, este processo transformador para «corrigir» os «excessos» de Abril desenvolveu-se ultrajando leis básicas da República, como a lei eleitoral e, sobretudo, a Constituição da República, deliberadamente desprezada – um fortíssimo testemunho do sequestro a que a democracia está submetida pela classe política. A classe política é o poder, ou melhor, apropriou-se dos instrumentos de poder e da própria democracia, transformada assim em caricatura de si própria, evocada e invocada com modos circunspectos ou cinicamente risonhos em discursos falsos e manipuladores. As eleições têm um invólucro democrático dentro do qual o partido-Estado, recorrendo ao universo dos seus agentes mediáticos, propagandistas, financeiros e aos mecanismos que pôs ao seu serviço no aparelho de Estado, mina as regras eleitorais de modo a impor seus eleitos, «vendidos» como detergentes a cidadãos iludidos. Para que a margem de erro seja mínima em relação aos resultados pretendidos, o sistema de poder recorre a sondagens habilidosas, algumas sem pudor em martelar as estatísticas. Os votos são tratados como lixo, os programas partidários e a propaganda da classe política são praticamente ilegíveis e carregados de impossibilidades, promessas ocas, inutilizáveis até como papel sanitário. A classe política é o porreirismo, o amiguismo, o compadrio, o nepotismo, a corrupção automatizada, a cleptomania incurável, a mentira como hábito, a mistificação como inerência, a hipocrisia como estilo de comunicação, a burla e a crueldade sociais como sistema. Há assentos na classe política que são transmissíveis de geração em geração dentro da mesma família, mesmo que o rótulo político seja diferente. As transferências dentro da mistela partidária processam-se consoante o sentido de oportunidade e de previsão de cada qual quanto a cargos ambicionados quer no governo ou nas estruturas do aparelho de Estado, agora usado, para todos os efeitos, como se fosse um modesto balcão criado para servir e financiar a soberana iniciativa privada. O próprio António Costa foi em peregrinação até Kiev para doar 250 milhões de euros sacados sem anestesia aos contribuintes portugueses, os quais, entretanto, continuam submetidos a esmolas ocasionais, enquanto os salários já cheiram a bafio. Comecemos com factos elementares que, se não o são, deveriam ser do conhecimento de todos os portugueses. O ministro russo da Defesa anunciou muito recentemente que os tanques enviados por Portugal para a Ucrânia estão entre a dezena e meia, ou mais, dos «Leopards 2» que as tropas russas transformaram em sucata em menos de um mês da «contra-ofensiva» ucraniana. Mais um lote de «armas maravilha» da NATO a caminho do ferro-velho. Segundo notícias que em Portugal correm à boca pequena, vá lá saber-se porquê, o governo português é dos mais activos – parece mesmo integrar uma «task force» nesse sentido – nas tramas em curso na União Europeia para concretizar o confisco das reservas externas russas com o alegado objectivo de subsidiar a «reconstrução» da Ucrânia, o país que os próprios dirigentes europeus continuam a destruir, alimentando a guerra com dinheiro e armas e opondo-se a qualquer hipótese credível de suspender e resolver o conflito. Há uns meses, o próprio primeiro-ministro António Costa foi em peregrinação até Kiev para doar a Volodymyr Zelensky, o chefe do regime ucraniano de sustentação nazi, 250 milhões de euros sacados sem anestesia aos contribuintes portugueses, os quais, entretanto, continuam submetidos a esmolas ocasionais, enquanto os salários já cheiram a bafio de tão antigos que são e os preços não param de trepar por mais manigâncias que os ministros façam com o IVA. E ainda falta o que vem a caminho, o efeito tecnofascista da senhora Lagarde em nome do Banco Central Europeu que ninguém elegeu. As situações enunciadas correspondem, como dirá qualquer membro da classe política, ao respeito dos nossos compromissos para com os «parceiros internacionais» e as organizações transnacionais que Portugal integra – à revelia dos portugueses, que nunca foram consultados sobre essas adesões e pertença. Deduz-se, portanto, que o governo, a maioria do Parlamento, o Palácio de Belém devem estar orgulhosos, com emocionada sensação de dever cumprido, perante os restos mortais dos enjeitados tanques, mesmo que, como era previsível, de nada tenham servido durante a sua efémera e derradeira viagem. Não é opção, é uma ordem «baseada em regras»: a lei do «excepcionalismo» de âmbito planetário gerido pela única nação «indispensável». E dizem os comentadores autorizados que não existe imperialismo. Os nossos dirigentes, tanto os que têm envergadura imperial como os seus súbditos, para quem a soberania nacional é coisa arcaica própria de mentes estagnadas, repetem sem descanso, martelando a cabeça dos cidadãos como no método tradicional de ensino da tabuada, que agimos em função dos «nossos valores partilhados». Nós, o garboso Ocidente, senhores do planeta e dos espaços siderais por mandato divino e usucapião fundado em séculos de expansão e extorsão, assim administrando a «civilização». «Nossos valores partilhados» nas bocas dos fundamentalistas ocidentais é todo um programa de dominação, um conceito de ordem mundial assente num único poder centralizado com ambição a tornar-se global e incontestado. Se olharmos o mundo à nossa volta nestes dias assustadores, equipados com lucidez, independência de raciocínio e dose cada vez mais elevada de coragem, concluiremos que a aplicação desses «valores» – a palavra certa é imposição – funciona como um gigantesco exercício de manipulação que transforma princípios universais, humanos, inquestionáveis e comuns a muitas e diversificadas culturas num poder minoritário, de índole mafiosa e níveis de crueldade que vão da mentira institucionalizada à generalização da guerra, passando pelo roubo como forma de governo e de administração imperial/colonial. A este aparelho que pretende impor uma realidade paralela àquela em que vivemos chama-se «ordem internacional baseada em regras», um catálogo de normas de comando voláteis, casuísticas, não escritas e a que todo o planeta deve obedecer cegamente, sem se interrogar nem defender. «Ordem internacional baseada em regras» é o código imperial que veio soterrar o direito internacional e transformar as organizações mundiais que devem aplicá-lo em órgãos que rodopiam à mercê das «regras» de cada momento, manipulados, desvirtuados e instrumentalizados segundo as conveniências do funcionamento da realidade paralela. Poucos princípios preenchem tanto as prédicas dos dirigentes mundiais e seus apêndices às escalas regional e nacional do que liberdade e democracia. Uma liberdade para expandir globalmentee, porém com uma definição muito específica e padrões limitados pelas «regras» da única ordem internacional permitida. A liberdade prevalecente, e que condiciona todas as outras, acaba por ser a da propriedade privada e da inexistência de restrições ao funcionamento do mercado. Todas as restantes alavancas que devem fazer funcionar o mundo assentam neste princípio inquestionável que faz da justiça social uma aberração, transforma em servos a grande maioria dos seres humanos, converte as organizações internacionais e a generalidade dos governos nacionais em instrumentos dos casinos financeiros e das oligarquias económicas sem pátria, fronteiras ou limites comportamentais. Uma liberdade condicionada pela ditadura do lucro e a vassalagem ao dinheiro. Este conceito dominante de liberdade, a liberdade de extorsão própria da realidade em que de facto vivemos, é desde há muitos séculos um alicerce da «civilização» ocidental – a única reconhecida para efeitos de relações internacionais. A ordem «baseada em regras» é extremamente exigente e vigilante em relação a esta mãe de todas as liberdades e, se necessário for, não hesita em recorrer à guerra para a restaurar lá onde estiver ameaçada. «Todas as restantes alavancas que devem fazer funcionar o mundo assentam neste princípio inquestionável que faz da justiça social uma aberração, transforma em servos a grande maioria dos seres humanos, converte as organizações internacionais e a generalidade dos governos nacionais em instrumentos dos casinos financeiros e das oligarquias económicas sem pátria, fronteiras ou limites comportamentais.» Com a democracia acontece mais ou menos a mesma coisa. Só existe um único formato que permite instituir o «poder do povo», mesmo que depois o povo em nada se identifique e beneficie com a interpretação da sua vontade que dela fazem os eleitos. É mais ou menos assim, segundo o padrão «representativo» determinado pelo Ocidente: de x em x anos criam-se festivais ditos políticos onde vigoram a violação tácita da igualdade de exposição de opiniões, a manipulação da informação e das chamadas «sondagens» e a divisão ostensiva e «institucionalizada» entre os partidos com «vocação para governar» e os outros; ensinados assim a «decidir», as maiorias de eleitores escolhem em «liberdade» os seus preferidos, garantidamente aqueles aplicam a doutrina oficial «democrática», nestes tempos o capitalismo na sua arbitrariedade plena, o neoliberalismo. Exemplo desta democracia no seu grau máximo de evolução é a União Europeia: neste caso os cidadãos nem precisam de «escolher» os dirigentes máximos da organização, simplesmente nomeados para não haver erros nem desvios à doutrina governativa oficial e única; e supondo que os eleitores «escolhem» directamente o Parlamento Europeu, este tem poderes limitados para não perturbar o trabalho arbitrário dos não eleitos ao serviço dos seus patrões. Quanto aos Estados Unidos, o paradigma democrático a que deve obedecer-se num mundo unipolar, a escolha imposta aos cidadãos limita-se a dois aparelhos mafiosos de poder que agem em formato de partido único. Sendo esta a democracia que funciona como farol, segundo as sentenças abalizadas dos mestres da opinião única, todas as outras devem seguir tendencialmente o mesmo caminho. Não é opção, é uma ordem «baseada em regras»: a lei do «excepcionalismo» de âmbito planetário gerido pela única nação «indispensável». E dizem os comentadores autorizados que não existe imperialismo. Daí que os praticantes da democracia ocidental, a única, tenham ainda como missão fiscalizar os exercícios democráticos através do mundo. Por isso a União Europeia, por exemplo, arroga-se o direito de «aceitar» ou não os referendos nos quais as populações do Donbass decidiram juntar-se à Rússia. «A ordem "baseada em regras" é extremamente exigente e vigilante em relação a esta mãe de todas as liberdades e, se necessário for, não hesita em recorrer à guerra para a restaurar lá onde estiver ameaçada.» Trata-se, afinal, de aplicar o princípio de reconhecer as eleições e consultas populares que dão o resultado pretendido pelo Ocidente e rejeitar as outras cujos eleitores decidiram de forma não tolerada pelos vigilantes da ordem internacional, como se tivessem violado as «regras» mesmo cumprido os mecanismos processuais das votações instituídos como únicos. É à luz desse entendimento discriminatório que os Estados Unidos e os seus satélites não reconhecem resultados eleitorais na Venezuela, na Nicarágua, na Rússia, por exemplo, mas assinam por baixo a legitimidade de fraudes como nas Honduras, de golpes como no Brasil, Paraguai, Bolívia, Ucrânia, Paquistão (só alguns dos mais recentes) ou a designação como presidentes de indivíduos que nem sequer concorreram a eleições – o caso de Juan Guaidó na Venezuela. A democracia ocidental é, como se prova, bastante elástica em casos que chegam a roçar o absurdo e muito restritiva no reconhecimento de actos eleitorais legítimos, porém menos convenientes para os interesses dos «excepcionalismo». É uma questão de exercício do poder internacional que o Ocidente julga possuir à luz de «regras» casuísticas determinadas consoante os interesses de uma «civilização» que não envolve mais de 15% da população mundial. «É à luz desse entendimento discriminatório que os Estados Unidos e os seus satélites não reconhecem resultados eleitorais na Venezuela, na Nicarágua, na Rússia, por exemplo, mas assinam por baixo a legitimidade de fraudes como nas Honduras, de golpes como no Brasil, Paraguai, Bolívia, Ucrânia, Paquistão (só alguns dos mais recentes) ou a designação como presidentes de indivíduos que nem sequer concorreram a eleições – o caso de Juan Guaidó na Venezuela.» Recorrendo a exemplos muito actuais, eis como a «democracia ocidental» é peculiar no próprio Ocidente. Robert Habeck, ministro da Economia da Alemanha, colosso cada vez mais reduzido a um tapete de Washington, garante que não lhe interessa a opinião do eleitorado, o essencial é que a Rússia seja derrotada pela Ucrânia. E Josep Borrell, o «ministro dos negócios estrangeiros» da União Europeia, que ninguém elegeu, determina que os cidadãos europeus «têm de pagar o preço» necessário para «derrotar a Rússia». Ora aqui estão «regras» que corrigem a própria democracia padrão. O mesmo Borrell, espanhol e também socialista, é claríssimo na interpretação dos «nossos valores partilhados». Considera que na vida internacional há, evidentemente, «dois pesos e duas medidas»: os nossos, os «correctos», e os dos outros, atributos daquilo que George W. Bush qualificou como «a barbárie». Pedra de toque dos «nossos valores partilhados», os direitos humanos traçam a grande fronteira entre o Ocidente «civilizado» e os outros – 85% da população mundial. Direitos humanos são, por sinal, valores que ilustram a preceito a tese de Borrell sobre dois pesos e duas medidas: nós sabemos o que são direitos humanos, os outros não. «E Josep Borrell, o «ministro dos negócios estrangeiros» da União Europeia, que ninguém elegeu, determina que os cidadãos europeus «têm de pagar o preço» necessário para "derrotar a Rússia". Ora aqui estão "regras" que corrigem a própria democracia padrão.» Os principais acontecimentos da actualidade permitiram até refinar o conceito de direitos humanos a partir da clarificação entre seres humanos e entes sub-humanos – distinção baseada nas práticas de Volodimyr Zelensky, por sua vez inspirada nos conceitos purificadores de Stepan Bandera e seus pares, pais e heróis do regime ucraniano de Kiev, no seu tempo colaboradores dos nazis alemães em massacres de dezenas de milhares de seres humanos – talvez deva escrever-se sub-humanos. As nações europeias dançam a música tocada por Zelensky segundo partitura das «regras» de Washington, para que os russos do Donbass e os russos em geral, sub-humanos por definição dos nazis que mandam em Kiev, sejam devidamente sacrificados tal como vinha a acontecer, metodicamente, como resultado de uma guerra iniciada há oito anos. A «democracia ocidental» apostando o que tem e não tem, a própria vida dos cidadãos por ela regidos, para que um regime nazi liquide sub-humanos é um cenário apropriado para quem defende os direitos humanos acima de tudo? É o aval para a conversão do nazismo à democracia ou, antes de tudo, a demonstração de que a «democracia ocidental» segue na direcção do inferno do fascismo? O que nada tem de ilógico, pois foi o fascismo que embalou no berço a ditadura neoliberal que dá forma ao regime financeiro-económico-político dominante em termos internacionais, exercido com ambições globalistas e totalitárias e que, em última instância, dita a «ordem internacional baseada em regras». Governantes, comentadores, analistas e outros formatadores da opinião única incomodam-se quando, a propósito da situação no Donbass, se recordam as atrocidades cometidas pelos Estados Unidos e a NATO, ou respectivos braços mais ou menos informais, nas guerras – algumas delas «humanitárias» – levadas até à Jugoslávia, Afeganistão, Iraque, Somália, Líbia, Síria, Iémen. Sem esquecer o caso exemplaríssimo do Kosovo, onde os Estados Unidos e a União Europeia praticaram uma secessão territorial sem qualquer consulta às populações envolvidas e entregaram o governo a terroristas fundamentalistas islâmicos especializados em múltiplos tráficos, todos eles rigorosamente respeitadores dos direitos humanos, como está comprovado. A arrogância, o autoconvencimento suicida e a subserviência doentia dos dirigentes da União Europeia perante o diktat norte-americano transformou a guerra na Ucrânia no acontecimento fatal para a comunidade. A Europa Ocidental tem apenas mais 20 a 30 anos de democracia; depois disso deslizará sem motor e sem leme sob o mar envolvente da ditadura (…) Willy Brandt, polémico mas suficientemente lúcido para não fechar pontes em plena guerra fria, era um estadista, espécie entretanto desaparecida como os dinossauros. Governou nos tempos em que se pensava existir uma coisa chamada «social-democracia», que durante as últimas décadas também «deslizou sem motor e sem leme» para a selvajaria neoliberal, a ditadura da economia sobre a política, passo decisivo para a extinção da democracia – como estamos a perceber. Brandt não era um bruxo; limitou-se a reflectir sobre perspectivas a médio prazo com base na percepção, leitura objectiva das realidades, experiência e intuição que não lhe faltavam porque era um praticante de política, actividade que é um direito geral de cidadania entretanto «promovida» a uma espécie de «ciência oculta» actualmente apenas ao alcance de uma seita de predestinados com capacidade para governar, dominada pela arrogância, a frieza desumana, a irresponsabilidade e a mediocridade, particularidades afinal essenciais num regime autoritário. «A guerra na Ucrânia, efectivamente travada entre a NATO e a Rússia, contribuiu para trazer à superfície os sinais inequívocos da ascensão da ideia de um mundo polifacetado no qual direitos nacionais plenos até agora violentamente reprimidos pelos poderes coloniais e imperiais do Ocidente se afirmam de modos bastante concretos, operacionais e explícitos. Esse é o combate existencial do nosso tempo» As palavras do antigo chanceler alemão, proferidas pouco antes de deixar o cargo, projectam-se na actualidade de maneira tão evidente como inquietante. Acertam em cheio no «deslizamento» da Europa para a ditadura política, completando-se assim o cenário aberto pelo totalitarismo da economia (ditadura do mercado), embora mantendo aparências formais em matéria de direitos cívicos, entretanto ferozmente vigiados e combatidos passo-a-passo por meios antidemocráticos. Esta Europa, desde que assumiu a forma dominante de União Europeia como expressão do poder oligárquico e braço político da NATO, reforça a visão etnocentrista de uma pax imperial assente em nações «aliadas» orientadas pelo dogma mítico segundo o qual a paz generalizada será encontrada como resultado final de múltiplas guerras «defensivas» e «humanitárias». O chamado Ocidente criará assim as condições propícias para a implantação do globalismo neoliberal, de preferência gerido por um governo único e obviamente totalitário tal como postulam há muito o veterano guru imperialista Henry Kissinger, o conspirativo Grupo de Bilderberg e mais recentemente o Fórum Económico Mundial, instrumento das oligarquias sem pátria que representam menos de um por cento da população mundial e dos expoentes políticos que as servem. Os fundamentos deste modelo imperial pressupõem a continuação do funcionamento inquestionável de uma ordem unipolar mundial, ou «ordem internacional baseada em regras» dirigida de Washington e contornando o direito internacional reconhecido pela esmagadora maioria das nações do mundo. Para a garantir existem 800 bases militares norte-americanas distribuídas pelo mundo, reforçadas com o policiamento permanente dos mares, uma estrutura que tem um papel indispensável na pretendida «globalização da NATO». «Daí os esforços necessários para criar e aproveitar cada oportunidade de paz. Embora a «paz» esteja proscrita e os seus defensores sejam olhados como perigosos dissidentes da narrativa única própria de uma ditadura como a que, há quase meio século, o ex-chanceler alemão Willy Brandt anteviu para a Europa» Apesar disso, essa ordem sente-se ameaçada. A guerra na Ucrânia, efectivamente travada entre a NATO e a Rússia, contribuiu para trazer à superfície os sinais inequívocos da ascensão da ideia de um mundo polifacetado no qual direitos nacionais plenos até agora violentamente reprimidos pelos poderes coloniais e imperiais do Ocidente se afirmam de modos bastante concretos, operacionais e explícitos. Esse é o combate existencial do nosso tempo, em que a ideia do «fim dos Estados-nação» de que se apropriou a oligarquia globalista sem pátria se confronta com a crescente afirmação de relações mais justas e igualitárias entre nações soberanas, independentemente dos seus sistemas políticos. E não, soberanismo não se confunde com nacionalismo e muito menos com populismo. Como é próprio dos conflitos existenciais, sobretudo este que envolve capacidades e estratégias de extermínio global, a situação actual é aterradora. As declarações de um e outro lado encarando a hipótese «limitada» de recurso a esse tipo de armas revelam a irresponsabilidade, a inconsciência e até a loucura sociopata de quem as profere. Sabendo nós que não se trata de casos isolados e de simples ameaças, mas de balões de ensaio induzindo a ideia de que as partes em confronto estão indisponíveis para comprometer-se com a rejeição do uso desses «argumentos» fatais para a humanidade. Daí os esforços necessários para criar e aproveitar cada oportunidade de paz. Embora a «paz» esteja proscrita e os seus defensores sejam olhados como perigosos dissidentes da narrativa única própria de uma ditadura como a que, há quase meio século, o ex-chanceler alemão Willy Brandt anteviu para a Europa. As ditaduras, porém, são absolutistas mas não absolutas. Existem sempre meios de as driblar e derrotar se houver vontade e união para isso. A primeira grande vítima do combate de âmbito global em curso é a União Europeia. Morreu, mas ninguém a informou disso. O seu monstruoso aparelho burocrático e autoritário em modo de realidade paralela funciona em piloto automático, agora definitivamente orientado de Washington, como intermediário privilegiado do tráfego – e tráfico – de armas para alimentar a guerra na Ucrânia; e também como esbirro federalista dos povos do continente às ordens da insaciável oligarquia neoliberal. A União Europeia desapareceu enquanto comunidade com identidade própria, que nunca foi muita. Teve uma síncope na crise financeira de 2008, que procurou combater através da tortura de países governados por apátridas invertebrados e com recurso a instrumentos coloniais. Esteve novamente à beira da morte em 2019 com a hecatombe do pretenso combate colectivo contra a Covid, mais um episódio de salve-se quem puder, cada um por si. Não havendo duas sem três, a União Europeia finou-se agora devido ao comportamento na guerra da Ucrânia convertendo-se, sem reservas nem reticências e com muito afã, num indisfarçado instrumento de mão de Washington e numa ramificação menor da NATO. Já aplanara o caminho nessa direcção há oito anos, ao comparticipar na entronização golpista de um regime nazi em Kiev. «A primeira grande vítima do combate de âmbito global em curso é a União Europeia. Morreu, mas ninguém a informou disso. O seu monstruoso aparelho burocrático e autoritário em modo de realidade paralela funciona em piloto automático, agora definitivamente orientado de Washington» Hoje, o zombie da União Europeia já nem se debate no poço sem fundo em que caiu devido ao modo como abordou a questão ucraniana. A führer Van der Leyen, plagiadora da sua tese de medicina, eleita a pior ministra da Defesa de sempre na Alemanha e admiradora confessa de Erwin Rommel, marechal de campo de Hitler na sua conveniente vertente mítica «anti-III Reich», insiste em cumprir as ordens do decadente presidente Biden para liquidar os ucranianos e arrasar a Ucrânia. O seu escudeiro socialista Borrell, cada vez mais ridicularizado mas sempre perigoso, deveria fazer um voto de silêncio para não agravar ainda mais a situação. É por estes caminhos que a Comissão Europeia, entidade não eleita que gere uma estrutura desumana e feroz sobretudo contra os mais desfavorecidos, caminha agora fantasmagoricamente – mas ainda e sempre cruel. Aos Estados membros, liberais, iliberais ou assim-assim compete obedecer, esvaziar os arsenais de todas as armas e enviá-las para a Ucrânia, meter as mãos nos bolsos dos contribuintes para financiar com centenas de milhões de euros o corrupto e nazi Zelensky. Em contrapartida, devem obrigar os seus povos, através de mecanismos totalitários de manipulação, coacção e chantagem, a aceitar impavidamente os efeitos das sanções impostas à Rússia – ilegais segundo o direito internacional – enterrados numa crise em que o pior ainda está para vir. Willy Brandt sabia do que falava mesmo que os tempos e as circunstâncias fossem bastante diferentes da realidade actual. Certamente porque os traços desviantes em relação ao discurso oficial, a hipocrisia e o cinismo enganador dos povos já então se manifestavam como tendências que são intemporais. «A guerra e a maneira etnocêntrica, xenófoba e mistificadora como a União Europeia a encarou impondo sanções arbitrárias à Rússia, obedecendo a Washington convencida de que o mundo «iria atrás», funcionou apenas, afinal, dentro dos 27 e no universo muito limitado de países que compõem o chamado Ocidente» A arrogância, o autoconvencimento suicida e a subserviência doentia dos dirigentes da União Europeia perante o diktat norte-americano transformou a guerra na Ucrânia no acontecimento fatal para a comunidade. A guerra e a maneira etnocêntrica, xenófoba e mistificadora como a União Europeia a encarou impondo sanções arbitrárias à Rússia, obedecendo a Washington convencida de que o mundo «iria atrás», funcionou apenas, afinal, dentro dos 27 e no universo muito limitado de países que compõem o chamado Ocidente – conceito que é um alter-ego dos Estados Unidos imperiais. O resto do mundo, cerca de 85 da população mundial, assumiu posições próprias, mais ou menos diferenciadas e desafiantes das ordens emanadas de Washington. Ao mesmo tempo as sanções impostas à Rússia contribuíram para gerar outras consequências perversas, além do efeito de boomerang contra os povos dos países que as impuseram. As transformações no mundo com sentido multipolar foram aceleradas pelas novas circunstâncias; daí que seja possível observar como países de outros continentes, com maiores ou menores envergaduras económicas, se juntam em recém-criadas organizações regionais e transnacionais, algumas delas ainda embrionárias, harmonizando interesses próprios, abrindo novas vias de comunicação e de transporte, intercambiando matérias-primas, commodities e outros bens da economia real, tangível, tanto quanto possível à margem do casino financeiro de ambição globalista e do dólar cada vez mais contaminado pela financeirização e a dependência da economia virtual. São relações novas ou ampliadas estabelecidas em condições mais equilibradas e igualitárias, livres de imposições de obediência e das obrigações desiguais próprias das relações até agora dominantes, de índole colonial e imperial. A nova realidade emergente atrai cada vez mais países que estão a redescobrir a importância da soberania e se atrevem a desafiar o Ocidente como nunca o fizeram. Na recente Cimeira das Américas, dirigentes de várias nações disseram ao presidente dos Estados Unidos coisas que ele jamais pensou ouvir; os países ribeirinhos do Mar Cáspio decidiram, em cimeira recente, reforçar a soberania regional, declarando as águas livres de navios da NATO; os presidentes do Irão, da Turquia e da Rússia acordaram modos de cooperação, sobretudo na Síria, que têm como objectivo trabalhar pela saída das tropas norte-americanas deste país, acabando assim com o roubo de petróleo; o presidente norte-americano foi à Arábia Saudita mendigar a redução dos preços do petróleo nos mercados internacionais, mas não passou de Jeddah e as suas súplicas não foram atendidas; ao invés, o encontro do ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov, com os dirigentes da Liga Árabe, foi considerado um êxito. Entretanto, o artista da moda e chefe do regime nazi de Kiev não conseguiu pregar a sua homilia à cimeira do Mercosul depois de, há algumas semanas, ter sido escutado por apenas quatro dos 55 chefes de Estado da União Africana. Há realmente cada vez mais mundo para lá da Ucrânia e do Ocidente. E o New York Times já se «esquece» de falar da guerra da Ucrânia em algumas das suas edições. Então o que resta, nestas circunstâncias, da defunta União Europeia? Ou mesmo da Europa, alargando o conceito à antevisão de Willy Brandt? Observa-se, por exemplo, que a democracia é cada vez mais um invólucro desgastado de sistemas económicos e políticos com notáveis tiques ditatoriais. Aliás no Leste europeu, desde a Polónia às Repúblicas do Báltico, tão acarinhadas pela NATO e a União Europeia, os regimes de índole fascista e xenófoba são indisfarçáveis. Na Letónia e na Estónia os cidadãos de origem russa são de segunda categoria, não podem votar, não têm direitos sociais, são párias na sua pátria. Zelensky não inventou nada. Como se percebe, foram instalados regimes de apartheid no interior da União Europeia sem registo de qualquer escândalo por parte da comunicação social corporativa, sempre tão vigilante e de dedo em riste. «A guerra e a maneira etnocêntrica, xenófoba e mistificadora como a União Europeia a encarou impondo sanções arbitrárias à Rússia, obedecendo a Washington convencida de que o mundo «iria atrás», funcionou apenas, afinal, dentro dos 27 e no universo muito limitado de países que compõem o chamado Ocidente» Então, para defender um regime nazi até às últimas consequências – que não se anunciam promissoras – a União Europeia decidiu «cancelar» a Rússia, isto é, prescindir das suas relações políticas e, sobretudo, económicas e comerciais com este país. E fê-lo numa ocasião em que Moscovo já decidira estrategicamente uma ancoragem prioritária com mira no Oriente, abrindo-se daí, ainda mais, para a Ásia, a África e a América Latina. Quem ganha e quem perde com esta opção, que não é uma versão da história do ovo e da galinha? Uma pergunta que os lunáticos de Bruxelas e das restantes capitais dos 27 não fizeram a si próprios antes de investirem com tudo (já só falta a bomba nuclear), e praticamente sem rectaguarda, contra a Rússia. A Europa é um continente envelhecido, uma manta de retalhos que se vai cosendo por conveniência e apenas para imagem externa, um espaço de inércia crescente dominado por uma burocracia retrógrada apesar de digitalizada, mergulhado numa autoimagem arrogante e desligada da realidade mundial. Carece de produtos básicos de alimentação, de matérias-primas essenciais, da maioria dos recursos fundamentais estratégicos, sobretudo fontes de energia e de autonomia tecnológica, sector em que, no que toca a desenvolvimento e inovação, começa a estar a anos de luz não só dos Estados Unidos mas também, e principalmente, da Ásia. O que resta da indústria europeia é subsidiário e dependente do exterior. A questão do abastecimento energético, porém, ilustra como nenhuma o delírio incontrolável de Bruxelas e da maioria dos seus satélites. Para prescindir do petróleo da Rússia, barato e há décadas calibrado para as necessidades europeias, a senhora Van der Leyen pratica mendicidade com países que maltrata e sanciona, como a Venezuela e o Irão, e promete soluções inexistentes a curto e médio prazo. Quanto ao gás natural, está disponível para comprá-lo em estado líquido aos Estados Unidos, em quantidades muito insuficientes e por preços quatro a cinco vezes superiores ao russo, apesar de ser produzido pelo método altamente poluente de fractura hidráulica (fracking). Para que haja uma noção do que aí vem anote-se que o gás natural estava a 200 dólares por mil metros cúbicos antes das sanções, situando-se agora entre os 1500 e 1800 dólares pelos mesmos mil metros cúbicos – sete a nove vezes mais. Além disso, a presidente da Comissão Europeia assegura, com o ar mais solene deste mundo, que está para mais breve do que supomos a autossuficiência energética com moinhos de vento e painéis solares. Pode acrescentar-lhe a produção de gás resultante do tratamento de lixo, dejectos de passarinhos e suínos. Boa sorte com isso. À cautela, conhecendo muito bem a incompetência dos seus subordinados na Comissão e governos adjacentes, os patrões recomendam a restauração do funcionamento das centrais a carvão para tentarem refrear a hecatombe económica que começa a sentir-se, por exemplo, no gigante alemão. O combate às alterações climáticas, claro, pode esperar – aliás como sempre. «A questão do abastecimento energético, porém, ilustra como nenhuma o delírio incontrolável de Bruxelas e da maioria dos seus satélites. Para prescindir do petróleo da Rússia, barato e há décadas calibrado para as necessidades europeias, a senhora Van der Leyen pratica mendicidade com países que maltrata e sanciona, como a Venezuela e o Irão, e promete soluções inexistentes a curto e médio prazo» A Europa transformou-se numa aberração cultural, aceitou que as suas culturas com origens milenares fossem contaminadas e asfixiadas pelo pior dos exemplos, a plastificação dos ambientes criativos pelos mais medíocres centros norte-americanas de propaganda de um «way of life» postiço, estupidificante, monolítico. A «classe política» e a comunicação social corporativa recriaram-se nesse formato e as consequências estão à vista numa opinião única militarizada, hipnotizada pela violência, numa sociedade de vigilância, coacção e bufaria, num entretenimento idiota, alienante e intoxicante onde avulta a programação televisiva uniformizada de cariz preferencialmente alarve. A Europa é provavelmente o único continente que não consegue ser autossuficiente do ponto de vista económico. Mas decidiu isolar-se agarrada ao capote do Tio Sam. No entanto, o espaço para funcionamento dos mecanismos coloniais já não é o que era à medida que a maioria das nações do mundo acordam para novas realidades de relacionamento; a invulnerabilidade militar já teve os seus dias; é cada vez mais difícil roubar os bens alheios: talvez o ouro da Venezuela e do Afeganistão, os fundos soberanos venezuelanos e as reservas cambiais russas sejam os derradeiros assaltos tolerados. E que, mais dia menos dia, terão resposta. Os políticos europeus vocacionados para governar através de uma máquina de manipulação que erradicou na prática o pluralismo, o debate e o esclarecimento, recitam discursos vazios de conteúdo, carregados de promessas vãs, manifestam um ostensivo desrespeito pelas pessoas, pelo trabalho, pelos mais idosos; os comentadores tagarelam dislates, mensagens encomendadas, mentiras, quando não é pura propaganda terrorista; desdobram-se em delações e desfazem-se dos derradeiros resquícios de compostura e vergonha quando lhes oferecem uma guerra «civilizacional» – o que acontece em sessões contínuas. A Europa, evidentemente, precisa muito mais da Rússia, país no topo mundial das matérias-primas, dos recursos naturais estratégicos e das reservas de energia essenciais, do que a Rússia necessita da Europa. Pode passar muito bem sem ela. A Europa, porém, insiste nas sanções, condenando os seus povos a carências há muito não sentidas e, para isso, nem será necessário que Moscovo aperte muito o «torniquete da dor». Pela calada, para não perder a pose perante os seus, Bruxelas vai levantando algumas sanções, como a do comércio de titânio, ou então os aviões começariam a ficar em terra. As medidas avulsas, porém, não tocam no fundo das questões, apenas suscitam ainda mais desprezo por parte da Rússia e de muitos outros países para quem a União Europeia deixou de ser entidade «confiável». As sanções à Rússia e o alinhamento na defesa de regimes nazi-fascistas europeus, caminho para a própria degeneração ditatorial, não são corriqueiros tiros nos pés. São armas de suicídio num caminho que não tem volta. Os tempos da velha e nobre Europa e da sua mítica e falsa União já lá vão. Agora o chamado «Velho Continente» não passa de um corpo estranho, um satélite mumificando em redor da estrela cadente do império. Nem sequer pode desejar-se paz à sua alma. Alma não tem; e repudia a paz. José Goulão, Exclusivo AbrilAbril Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. E que autoridade têm os que condenam a anexação do Donbass, com o presidente norte-americano à cabeça, os mesmos que são cúmplices da anexação de quase toda a Palestina e territórios sírios por Israel, do Saara Ocidental por Marrocos, que esfacelaram o Iraque e a Líbia, que roubam ouro e milhões de milhões de dólares ao Afeganistão, à Rússia, à Venezuela, à Líbia, sem esquecer o petróleo da Síria? Na sequência natural da definição dos padrões únicos e civilizacionais dos direitos humanos surgem outros direitos tão ou mais invocados como sagrados, por exemplo o de opinião, o de expressão, o respeito pela privacidade de cada um, a liberdade de informar e ser informado. A situação actual é rica em exemplos de como a «democracia ocidental», o mundo baseado «em regras» e a partilha dos «nossos valores» andam de mãos dadas com o cinismo, a hipocrisia, a mentira pura e simples e o desrespeito pelo ser humano (para já nem falar nos sub-humanos). A pressão sobre as opiniões e a liberdade de pensar torna-se cada vez mais asfixiante, intolerante, adquirindo contornos inquisitoriais. Regra geral, a partir sobretudo da implantação do neoliberalismo durante os últimos 40 anos, as opiniões dissonantes da verdade única e tolerada foram desaparecendo da comunicação social, dos espaços de debate público, das instituições de ensino. O que é silenciado não existe, o comum dos mortais habituou-se a viver com os conceitos que recebe de enxurrada, quase sem tempo para pensar, se tiver preocupação e cuidado em não perder o hábito de fazê-lo. A individualidade, a faculdade de pensar fundiram-se e dissolveram-se no interior de um imenso rebanho de repetidores de verdades absolutas e incontestáveis que, não poucas vezes, agridem e alienam a sua condição de cidadãos livres e com direitos. O processo não é estático – evolui no pior sentido, o da agressão de um direito essencial do ser humano, que é o de pensar pela própria cabeça e partilhar as reflexões e conhecimentos com os outros. Os acontecimentos acuais, designadamente a guerra na Ucrânia e o envolvimento profundo e cúmplice do Ocidente institucional no apoio ao regime de inspiração nazi de Kiev, transformou a estratégia de silenciamento das opiniões dissonantes numa perseguição de índole totalitária. Pensar de maneira diferente tornou-se um delito, uma colaboração com entidades maléficas, um atrevimento inaceitável e, por isso, submetido a difamações, ameaças de agressão e às mais rasteiras calúnias públicas. Enquanto a comunicação social se tornou refém da propaganda terrorista. «A individualidade, a faculdade de pensar fundiram-se e dissolveram-se no interior de um imenso rebanho de repetidores de verdades absolutas e incontestáveis que, não poucas vezes, agridem e alienam a sua condição de cidadãos livres e com direitos.» Nesta «civilização cristã e ocidental», incapaz de cortar o cordão umbilical com o imperialismo e o colonialismo, sobrevivem reconhecidamente os resquícios inquisitoriais. Que se afirmam com veemência crescente ao ritmo de uma fascização que os horizontes não afastam. Neste contexto, os «nossos valores partilhados» são cada vez mais instrumentos para criação de uma ficção que arrasta perversamente os seres humanos em direcções contrárias aos seus próprios interesses. Trata-se de uma armadilha que é, ao mesmo tempo, um esforço desesperado para tentar impedir o fim da era do poder unipolar, que parece inevitável – mas pode ser travado por uma guerra de proporções e consequências catastróficas. Os «valores partilhados» autodefinidos como um distintivo da pretensa superioridade humanista e civilizacional do Ocidente, e que são fundamentos da arrogância de pretender dar lições a outros povos, culturas e civilizações, são, afinal, universais; não têm donos, proprietários, muito menos polícias e esbirros. E as civilizações não estão hierarquizadas: classificá-las num qualquer ranking entre bondade e maldade, legitimidade e ilegitimidade, correcção e erro é um perigoso jogo de cariz xenófobo – o que parece incomodar cada vez menos os orgulhosos, prepotentes e fundamentalistas praticantes e adeptos da suposta superioridade ocidental, De facto, no Ocidente esses tão invocados «nossos valores partilhados» estão sequestrados, pelo que é fácil subvertê-los e usá-los perversamente como instrumentos para ludibriar e neutralizar o espírito crítico da grande maioria dos cidadãos. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Conclui-se também que Portugal está na linha da frente no roubo de dinheiro que pertence a outros países ainda que, ouvindo altos responsáveis alemães e o chefe da diplomacia austríaca, não haja qualquer mecanismo do «Estado de direito», mesmo à luz da trapaceira «ordem internacional baseada em regras», que permita tal apropriação, portanto fraudulenta. A lista de países roubados já vai longa: Líbia (32 mil milhões de dólares que se sumiram para parte incerta), Irão, Venezuela (mais de 20 toneladas de ouro e milhões de dólares), Iraque (os números reais do saque são incalculáveis), Síria (e a rapina prossegue sob forma de milhares de barris de petróleo diários), Afeganistão (dez mil milhões de dólares do Banco Central) e a Rússia (300 mil milhões de dólares, dois terços dos quais nos cofres da União Europeia). Portugal já meteu as mãos nos dinheiros e ouro da Venezuela e deseja ardentemente fazer o mesmo com os da Rússia. Para que se respeite a «justiça» e se recompense um regime que esfrangalha livros, proíbe partidos políticos, persegue e executa opositores, promove perseguições étnicas cultivando a xenofobia e o racismo, silencia meios de comunicação, venera como padrinhos os monstros nazis cúmplices de Hitler e não hesita, como está à vista de quem consegue ver, em chacinar o seu povo num matadouro que se recusa a suspender. «A lista de países roubados já vai longa: Líbia (32 mil milhões de dólares que se sumiram para parte incerta), Irão, Venezuela (mais de 20 toneladas de ouro e milhões de dólares), Iraque (os números reais do saque são incalculáveis), Síria (e a rapina prossegue sob forma de milhares de barris de petróleo diários), Afeganistão (dez mil milhões de dólares do Banco Central) e a Rússia (300 mil milhões de dólares, dois terços dos quais nos cofres da União Europeia).» Por ironia do destino, ou pelas virtudes inatas do neoliberalismo, os frutos da rapina à Rússia destinam-se afinal a subsidiar o maior fundo mundial de investimento, o norte-americano BlackRock, ao qual Zelensky vendeu a Ucrânia em Maio, retirando assim a Kiev qualquer papel activo na gestão da energia, indústria, infra-estruturas, tecnologia de informação, economia, finanças e o remanescente da agricultura do país. São 8,5 biliões (milhões de milhões) de dólares para o Fundo de Reconstrução da Ucrânia criado pelo BlackRock com o objectivo declarado de «reconstruir» o país, conhecido como um paraíso da corrupção. De notar que a junta golpista no poder em Kiev já antes tinha entregado um terço da área agrícola do país a gigantes mundiais do agronegócio, sobretudo norte-americanos como a Cargill e a Syngenta, e também alemães – Bayer e BASF. Os 11 milhões de hectares ucranianos agora nas mãos dos impérios dos transgéneros, dos cultivos que esterilizam o solo e impedem uma agricultura sustentável, equivalem ao total das terras cultiváveis na Alemanha. Portugal tem intervenção directa e indirecta nestas situações, que se entrelaçam e são extraídas de um contexto global degradante, quase sempre com o voluntarismo de quem procura compensar, através do espalhafato provinciano, o desprezo com que é olhado e tratado pelos «parceiros», sabendo que têm sempre aqui um menino obediente e cumpridor. Ou, como dizia o dr. Soares, patrono real e honorário do estado a que as coisas chegaram, um «bom aluno». Os exemplos abordados, como uma infinidade de outros que se esbatem numa historiografia mítica e corrupta e numa comunicação social que aboliu a liberdade de imprensa quando se transformou em património das grandes corporações nacionais e internacionais, revelam que as instituições do Estado português geridas por uma classe política apátrida e autoritária – como aqui será descodificado muito em breve – abdicaram da soberania da nação. A palavra soberania, aliás, foi sendo abandonada até se transformar hoje no sinónimo de um conceito maldito acusado de atentar, como invoca a opinião única, contra a modernidade, a ordem natural do neoliberalismo e de perturbar de maneira cada vez mais inconveniente o caminho para o globalismo, quiçá do transumanismo. Soberania transformou-se, segundo os moldes engendrados pelas centrais de controlo e manipulação da informação, num sinónimo de reaccionarismo, conservadorismo, de ideias retrógradas, confundindo-se, no limite, com nacionalismo e populismo. Tudo isso «sob as ordens de Putin». Soberania e neoliberalismo, o regime financeiro, económico e político que formata o globalismo totalitário como futuro antevisto pelo «Ocidente civilizado», são conceitos absolutamente antagónicos. Nos tempos de hoje tornaram-se mesmo inimigos, literalmente em pé de guerra. Soberania transformou-se, como se diz muito frequentemente, num «divisor de águas». Se quem não está connosco está contra nós, quem defende Estados soberanos, independentes e coloca os seus povos acima de interesses globais que, regra geral, lhes são estranhos, é contra o progresso, a civilização, a democracia, os direitos humanos, em suma, ousa combater o globalismo neoliberal – um acto de traição. O chefe de Estado oferece a própria insígnia da Liberdade a uma figura à medida dos negros tempos portugueses em que, a exemplo da Ucrânia de hoje, os partidos políticos de oposição eram proibidos, os antifascistas penavam na cadeia ou eram assassinados. «Penso que não cegámos, penso que estamos cegos, Cegos que não vêem, cegos que, vendo, não vêem» (José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira) Os governantes dos Estados Unidos e os seus subordinados, os dirigentes da União Europeia, veneram uma marioneta chamada Volodymyr Zelensky, manipulada pelos senhores da guerra, pelos oligarcas planetários, pela indústria da morte, pelos esbirros do nazifascismo como ideologia de sonho do neoliberalismo globalista. Foi inventado como presidente da Ucrânia por um oligarca chamado Ihor Kolomoysky, que financiou a sua transição de um papel de ficção televisiva para uma realidade gerida por uma estrutura nazi que nunca renegou de maneira convincente a herança de Hitler e dos seus colaboracionistas genocidas ucranianos. O mesmo oligarca que pagou a criação e sustenta os grupos de assalto e de choque nazis como frente terrorista e de guerra do regime. Zelensky é um irresponsável inchado como o sapo da fábula que leva perigosamente a sério o papel em que é sustentado e manobrado por gente com poder mundial ainda mais irresponsável que ele – e que joga com a existência do planeta e a sobrevivência da humanidade. Volodymyr Zelensky, a criatura, dá sinais de querer escapar pontualmente aos seus criadores brincando com as toneladas de instrumentos de morte e os milhões de milhões de dólares/euros que estes lhe enfiaram nos bolsos, boa parte em trânsito para negócios imobiliários e contas offshore; agora parece ter tomado o freio nos dentes e arriscar tudo numa fuga suicida para a frente. Ao seu serviço, generosamente pagos com dinheiro nosso, estão mais de centena e meia de fabricantes transnacionais de mentiras, fake news e estratégias de engano designados como «agências de comunicação». A mais recente visita do ditador de Kiev aos principais areópagos da «democracia europeia» foi uma ópera bufa onde ressoou a cacofonia dos desencontros mútuos na perseguição cada vez mais desesperada de um objectivo que balança perigosamente entre o fracasso e o elevadíssimo risco de um extermínio humano nunca visto no planeta. Entre os uivos de perseguição contra quem ainda resiste à zombificação da opinião única lançados pela autocrata Von der Leyen, o Parlamento Europeu serviu de palco ao puxão de orelhas a toda a União Europeia que Zelensky não se coibiu de dar no papel de «defensor da democracia» e de «toda a Europa». A marioneta dos nazis que governam a Ucrânia fala e esbraceja sem limites, satura as comunicações por Zoom e outras plataformas do género para arengar as falas de um guião escrito por mentirosos profissionais em parlamentos e onde quer que se juntem mais de dois chefes de Estado e de governo de qualquer continente; e, em boa verdade, os sociopatas de Bruxelas e das capitais dos 27 começam a não saber muito bem o que fazer com ele, soterrados, além disso, sob o diktat de Washington. É longo o desfile dos «heróis nacionais» ucranianos proclamados pelos dirigentes do actual regime e que, directamente ou como colaboracionistas, fizeram parte do aparelho nazi de extermínio. O maior cego é aquele que não quer ver Em Outubro do ano passado, o Parlamento e o presidente da Ucrânia proclamaram como «herói nacional» ucraniano um indivíduo de nome Miroslav Simchich, que completou 100 anos neste mês de Janeiro1. Simchich, que morreu no passado dia 18, é uma personagem de culto do regime de Kiev e foi agraciado como figura militar e pública pelos «seus méritos na formação do Estado ucraniano e pelos muitos anos de actividade política e social frutuosos». Miroslav Simchich (Krivonis) é um nazi, um criminoso de guerra. Foi destacado dirigente da entidade terrorista designada Organização dos Nacionalistas Ucranianos, mais conhecida por OUN, e do seu braço armado, o Exército Insurgente da Ucrânia (UPA). Estes grupos tiveram como um dos fundadores e figura de referência o conhecido colaboracionista nazi Stepan Bandera, nome identificado como um dos principais dirigentes e proselitista do chamado «nacionalismo integral» ucraniano, inspiração ideológica dos grupos terroristas de inspiração nazi que enquadram os actuais governo e Estado ucranianos. O objectivo contido na palavra de ordem institucional proclamada pela UPA, associado à doutrinação do nacionalismo integral, era «um Estado ucraniano etnicamente puro ou morte». No período a seguir à Segunda Guerra Mundial, Bandera instalou-se na Alemanha ao serviço do MI6 e da CIA, respectivamente serviços secretos britânicos e norte-americanos. A reciclagem «democrática» de bandidos nazis foi um método utilizado pelos Estados Unidos, potências ocidentais2 e, posteriormente, pela NATO, de uma maneira sistemática e sustentada. Bandera é, como não podia deixar de ser, «herói nacional» da Ucrânia: estátuas distribuídas por todo o país, marchas anuais em sua honra, sobretudo em Lviv, romagens oficiais ao seu túmulo; recentemente, a principal avenida de Kiev foi rebaptizada com o seu nome. Para os nazis de hoje na Ucrânia, uma das referências míticas é a Divisão Galícia3, unidade da UPA associada de maneira lendária ao culto actual de Bandera4 que a partir de 19435 lutou ao lado das tropas hitlerianas ocupantes da União Soviética6. Estudar a biografia do criminoso de guerra e novo «herói nacional» da Ucrânia Miroslav Simchich não é uma tarefa linear, sobretudo através da internet, porque numerosos sites sobre o assunto, especialmente os relacionados com os massacres de polacos, judeus, resistentes ucranianos, russos e soviéticos em geral, cometidos entre 1941 e 1945, estão censurados sob mensagens advertindo que se trata de «páginas de conteúdo perigoso». Investigar a história, conhecer mais sobre os pesadelos que encerra pode, ao que parece, fazer mal aos cidadãos. Abundam, pelo contrário, as informações sobre as actividades «heróicas» de Simchich contra o Estado soviético e lamentos sobre os longos anos que passou, por conta delas, «nos campos de trabalho bolcheviques». Há teses e investigações, porém, que escapam à malha censória, sobretudo os trabalhos que foram executados por alguns professores norte-americanos de universidades elitistas da Ivy League, como a de Yale. O professor Keith A. Darden, precisamente de Yale, conversou com Simchich e ouviu-o proclamar que «os objectivos nacionais justificavam as formas mais extremas de violência e considerável sacrifício»7. Entre a Primavera de 1941 e o Verão de 1943, a OUN (B), organização comandada por Stefan Bandera depois de uma cisão com a facção Melnik, considerada «moderada», e a UPA dedicaram-se a uma metódica limpeza étnica dos polacos das regiões da Volínia e da Galícia Oriental8. Tratava-se de «purificar», na perspectiva ucraniana, os territórios soviéticos então sob ocupação alemã e que, de acordo com as suas previsões e desejos, seriam integrados numa Ucrânia independente com a vitória da Alemanha Nazi. No primeiro ano da presença alemã no território ucraniano soviético a OUN exortou os seus membros a participarem no extermínio de pelo menos 200 mil judeus na região da Volínia. Além disso, criou a Milícia Popular Ucraniana, que realizou pogroms por sua própria iniciativa e colaborou com os invasores alemães a prender e executar cidadãos polacos, judeus, comunistas, soviéticos e resistentes em geral9 Ainda antes do início da Grande Guerra, os nacionalistas integrais da Ucrânia realizaram frequentes pogroms durante os quais assassinaram dezenas de milhares de compatriotas com origem judaica. Simchich explicou que os participantes nas chacinas não manifestavam quaisquer remorsos pelos seus actos, apesar de as vítimas serem quase exclusivamente civis – homens, mulheres e crianças, tanto fazia. Cumpriam, disse, a divisa da OUN segundo a qual «a nossa única diplomacia é a arma automática»10. Como se percebe, olhando para o que se passa hoje, há coisas que nunca mudam para as cliques ucranianas nacionalistas/nazis. Os terroristas da OUN(B)/UPA guiavam-se pelo decálogo da organização, bastante elucidativo em termos programáticos. O sétimo mandamento reza assim: «Não hesitar em cometer o maior crime se o bem da causa assim o exigir». O oitavo mandamento recomenda que se olhem «os inimigos com ódio e perfídia»; e o décimo estipula que os ucranianos devem «aspirar a expandir a força, a riqueza e dimensão do Estado ucraniano mesmo através de meios que transformem os estrangeiros em escravos». Transcorreram oitenta anos, mas o tempo não passou por sucessivas gerações de nacionalistas integrais ucranianos até à actual. Consultemos a lei dos povos indígenas promulgada há um ano pelo presidente Volodymyr Zelensky, herói de todo o Ocidente, e ali se inscreve a discriminação e a recusa de direitos aos não-ucranianos, como por exemplo o ensino e o uso das línguas pátrias e a proibição de meios de comunicação nesses idiomas. Nos termos da mesma lei, só os cidadãos considerados ucranianos «têm o direito de desfrutar plenamente de todos os direitos humanos e de todas as liberdades fundamentais».11 As crianças são formadas, desde tenra idade, no espírito segregacionista e xenófobo dessa lei; nos livros escolares oficiais ensina-se, por exemplo, que «os russos são sub-humanos». Miroslav Simchich [Krivonis], orgulha-se de ter sido pessoa destacada nos massacres de 1941 a 1943, comandando as unidades que dizimaram as aldeias polacas de Pistyn e Troitsa12 13 e ordenando pessoalmente o assassínio de mais de cem pessoas entre polacos, judeus e ucranianos. O cariz da OUN(B)/UPA, organização da qual se consideram herdeiros os vários grupos nazis que controlam o actual governo de Kiev, pode avaliar-se também pelo facto de entre os ucranianos dizimados estarem não apenas resistentes ao nazismo, mas também membros da facção dissidente de Melnik, OUN(M), mais inclinada para negociações e alinhada ideologicamente com o fascismo italiano. Mais de cem mil polacos da Volínia, Galícia Ocidental e até de Kiev foram chacinados entre 1941 e 1944 em consequência da colaboração íntima operacional entre as tropas de assalto nazis envolvidas na invasão da União Soviética e as organizações de inspiração banderista/nacionalismo integral. Com eles foram assassinados ainda dezenas de milhares de judeus, resistentes ucranianos, cidadãos soviéticos, húngaros, romenos, ciganos, checos e de outras nacionalidades que manchavam a «pureza» nacional ucraniana. No «domingo sangrento», 11 de Junho de 1941, unidades da OUN arrasaram cerca de 100 aldeias polacas da Volínia, incendiaram as casas e assassinaram pelo menos oito mil pessoas – homens, mulheres e crianças. Os ocupantes alemães receberam ordens para não intervir; porém, oficiais e soldados das tropas nazis forneceram armas e outros instrumentos para o massacre em troca da partilha do saque. Outro dos acontecimentos mais sangrentos desta limpeza étnica foi o massacre de Babi Yar, em 29 e 30 de Setembro de 1941, no qual mais de 30 mil judeus, prisioneiros de guerra e resistentes soviéticos foram fuzilados num desfiladeiro então nos arredores de Kiev por acção conjunta das Waffen SS e de grupos nazis/nacionalistas que afirmavam defender a independência do seu país. Duzentos mil polacos fugiram para regiões mais a Ocidente logo no início das matanças; oitocentos mil seguiram posteriormente o mesmo caminho, aterrorizados pela cadência e a crueldade das operações, na sequência das quais nada restava dos agregados populacionais invadidos, incendiados e saqueados. O número de cem mil mortos é calculado pelo Instituto de Memória Nacional da Polónia, ciente de que a organização de Bandera decidiu, em Fevereiro de 1943, expulsar todos os polacos da Volínia para obter «um território absolutamente puro». Pelo que o colaboracionismo absoluto da Polónia de hoje com um regime que tem as suas raízes nestas práticas genocidas é um insulto à memória de todos os cidadãos polacos e de outras nacionalidades vítimas desta limpeza étnica. Escrevem autores norte-americanos com investigações dedicadas a estes acontecimentos que a partir de Março de 1943 «unidades da UPA montaram um esforço concertado para aniquilar as populações polacas da Volínia e depois da Galícia Oriental». Nessa vertigem de morte nem os cidadãos polacos que pretendiam negociar foram poupados, logo assassinados a sangue-frio. A UPA foi oficialmente fundada em 14 de Outubro de 1942. Muito significativamente, 14 de Outubro tornou-se o dia das Forças Armadas na actual Ucrânia «democrática». Perguntaram ao «herói nacional» da Ucrânia Miroslav Simchich quantos russos matou ao longo da vida, ao que ele respondeu: «tantos quanto o tempo que tive para isso». Hoje, aquele que ficou conhecido como «o maior carrasco de polacos vivo», é «cidadão honorário» de Lviv e de Kolomyia, a terra da sua naturalidade, onde tem uma estátua com três metros de altura. Em 2009, o regime de Kiev, ainda mesmo antes do golpe de Maidan, dedicou-lhe o filme «heróico-patriótico» intitulado A Guerra de Miroslav Simchich. Note-se que os Estados Unidos e a Alemanha Federal recorreram no pós-guerra à experiência de Bandera e dos seus sequazes para efeitos de guerra fria. O habitual. O escritor e crítico literário Dmytro Dontsov14 é considerado o pai do nacionalismo integral «de características ucranianas», aparentado – mas único – com o movimento integralista que percorreu a Europa a partir da segunda década do século XX. Conviveu com o francês Charles Maurras, que terá figurado entre os inspiradores do ditador Oliveira Salazar, seguindo depois cada um o seu caminho embora coincidindo ideologicamente no essencial: Maurras identificou-se com o colaboracionismo hitleriano do governo pétainista de Vichy e Dontsov instalou-se temporariamente na Alemanha de Hitler: o ovo do nacionalismo integral ucraniano desenvolveu-se na serpente do nazismo, complementaridade que se tornou marcante até hoje. Grupos que controlam o actual governo da Ucrânia, como o Azov, o Aidar, o C-14, Svoboda, Sector de Direita e outros, com as respectivas milícias paramilitares e unidades integradas nas Forças Armadas regulares do país, consideram-se herdeiros da linha ideológica fundamentalista traçada por Dontsov e Bandera, miscigenando o nacionalismo integral com o nazismo, circunstância que se tornou operacional através das chacinas étnicas em território polaco-ucraniano a partir do início da invasão da União Soviética pelas tropas hitlerianas. A ambição de uma Ucrânia com uma população «pura» e «homogénea» não se extinguiu nos dias de hoje, como é patente pelas operações de limpeza étnica e genocídio da minoria russa da região do Donbass desencadeada após a chamada «revolução de Maidan» em 2014; a qual, segundo o chefe do grupo C-14, Yehven Karas, não teria passado «de uma parada gay» se não fosse o envolvimento das organizações de inspiração nazi como a sua. Uma carnificina afinal contra um povo «não-indígena» – respeitando a terminologia da legislação de Zelensky – que só foi travada com a intervenção das forças militares da Federação Russa a partir de 24 de Fevereiro de 2022. Citando o vice-primeiro-ministro ucraniano Alexey Reznikov, «povos indígenas e minorias nacionais não são a mesma coisa». Dito de outra maneira: nos termos da lei, perante qualquer tribunal, os não-ucranianos não podem invocar «o direito de usufruir plenamente de todos os direitos humanos e todas as liberdades fundamentais». Em resumo, racismo, apartheid institucionalizado no regime mais querido dos Estados Unidos e dos governos e instituições autocráticas da União Europeia. Exceptuando talvez Israel onde – sem ser coincidência – o apartheid também floresce. Dontsov tinha um ódio obsessivo por judeus e ciganos e fez com que essa tendência marcasse a fundação da OUN, que resultou da fusão dos grupos nacionalistas integrais de Stepan Bandera com a União dos Fascistas Ucranianos. A corrente nacionalista integral ucraniana baseava-se, como algumas outras, na deificação da nação, no tridente hierarquia, sangue e disciplina e na estratificação horizontal da sociedade entre nativos e não-nativos. Onde teria ido Volodymir Zelensky definir os parâmetros da sua actualíssima lei dos povos indígenas? Tal como hoje se aprende nas escolas do regime de Kiev, Dontsov ensinou no seu livro Nacionalismo, de 1926, que «os russos não pertencem à espécie de Homo Sapiens». Dmytro Dontsov foi buscar as suas teses sobre as origens do povo ucraniano «puro» à entrada dos varegues, um povo viking então oriundo da Suécia, nos territórios das actuais Ucrânia, Rússia e Bielorrússia no fim do século IX. Deslocaram-se através dos rios da Europa Oriental, fundaram a cidade de Novgorod – na Rússia – e depois o Reino de Kiev. Os verdadeiros ucranianos teriam assim uma origem nórdica e não eslava. O povo varegue era conhecido também como rus, termo que terá dado origem às palavras russo e Rússia. Rus vem, ao que parece, de linguagens nórdicas antigas e ainda hoje significa «Suécia» em alguns países da região como Estónia e Finlândia. Na sua obra, Dontsov associa a «pureza» ucraniana aos nórdicos e protogermânicos e à sua suposta superioridade rácica sobre os eslavos, sobretudo os eslavos orientais ou «pretos da neve», em linguagem pejorativa – os russos. Combater a Rússia, segundo o pai do nacionalismo integral ucraniano, «é um papel histórico que estamos destinados a desempenhar». Ideia que pormenorizou em 1961 quando, exilado no Canadá, publicou a sua obra O Espírito da Rússia: «O Ocidente, tanto nas Primeira e Segunda Guerras Mundiais, como hoje, não percebeu realmente o que é a Rússia como império, os venenos, destruição moral e cultural que carrega». Seis anos depois envolveu a ideia num espírito místico-religioso ao escrever que «os ucranianos são criados do barro com que o Senhor cria os povos escolhidos». Fervor que levou a actual deputada Irina Farion, do partido do presidente Zelensky, a declarar que «viemos a este mundo para destruir Moscovo». À direita da deputada oradora pode ver-se o assumido nazi Oleh Tyahnybok. Repare-se que, afinal, o problema não é Putin ou o regime político em Moscovo, qualquer que ele seja; o problema é a existência da Rússia e dos russos. O que deixa o Ocidente envolvido numa cruzada étnica, o que aliás é coerente com a sua História. De acordo com a teorização de Dontsov, no ocaso da dinastia de Rurique, monarca varegue que fundou o Reino de Kiev, o povo de origem nórdica foi escravizado pelos russos. De onde poderá deduzir-se que, para os nacionalistas integrais ucranianos, há uma necessidade de vingança contra a Rússia que atravessou séculos de história e está em curso, por exemplo, com a tentativa de limpeza étnica no Donbass. «Há uma ligação ideológica directa entre o regime do III Reich, as organizações e os dirigentes ucranianos que se inseriram ou colaboraram com ele e os comportamentos e actividades actuais dos grupos que se dizem herdeiros daqueles que há oitenta anos foram instrumentos das forças hitlerianas» Para Dontsov o combate à Rússia é o «Ideal Nacional», terminologia adoptada pela rede de grupos nazis que controla o aparelho de Estado. Utilizam o símbolo nazi Wolfsangel de forma invertida, explicam, porque essa posição expressa visualmente as letras I e N de «Ideal Nacional». O facto de a simbologia dos grupos ucranianos coincidir com a nazi tem essencialmente a ver, na sua argumentação, com o facto de ambas as partes terem recorrido a imagens de vigor, valentia e identidade, originariamente nórdicas e vikings. A guerra contra os russos vivendo no território ucraniano, principalmente no Donbass, iniciada em termos militares em 2014, será, portanto, uma expressão do «Ideal Nacional» que tem a sua génese na afirmação da superioridade dos autóctones nórdicos sobre os «ocupantes internos» eslavos, sobretudo orientais – «sub-humanos». A utilização do termo nazi para os grupos nacionalistas integrais ucranianos que sustentam o regime de Kiev parece bastante mais apropriada às circunstâncias do que o de neonazi15. Há uma ligação ideológica directa entre o regime do III Reich, as organizações e os dirigentes ucranianos que se inseriram ou colaboraram com ele e os comportamentos e actividades actuais dos grupos que se dizem herdeiros daqueles que há oitenta anos foram instrumentos das forças hitlerianas. Existe uma herança em linha recta: não há inovação, há continuidade. Então no que diz respeito à «pureza da raça» a sobreposição é absoluta, os conceitos do regime de Kiev, expressos claramente na lei dos povos indígenas de Zelensky, nada trazem de novo ao nazismo. Em Berlim, Dmytro Dontsov ganhou proximidade com o número três do Reich, Reinhard Heydrich, chefe das SS e da Gestapo. Tornou-se então administrador do Instituto Imperial para a Investigação Científica em Praga quando este dignitário nazi assumiu o cargo de «protector da Boémia e da Morávia».16 Estes factos são confirmados por uma investigação conduzida pelo professor Trevor Erlacher, da universidade norte-americana da Carolina do Norte. Reinhard Heydrich, responsável pelo todo poderoso Gabinete Central de segurança do Reich, que superintendia o aparelho repressivo nazi, foi o principal organizador da Conferência de Wansee, em 20 de Janeiro de 1942, durante a qual as mais elevadas estruturas do Reich planearam a «solução final», o extermínio dos judeus. Em 30 de Junho de 1941, sob a cobertura das tropas nazis que ocupavam Lviv, a OUN proclamou na varanda do n.º 10 da Praça Rynek, nesta cidade, a criação do de um Estado ucraniano independente. De acordo com as orientações de Stepan Bandera, o Estado assim fundado assentava no conceito de nacionalismo integral, numa população etnicamente pura, numa língua única, na glorificação da violência e da luta armada. A estrutura orgânica previa o totalitarismo, o partido único e um funcionamento ditatorial. Como presidente do «Conselho de Estado», cargo equivalente ao de primeiro-ministro, foi designado Yaroslav Stetsko, então o chefe operacional da OUN. Stetsko era um nazi e, segundo a ordem natural das coisas, é hoje «herói nacional» da Ucrânia. Se dúvidas houvesse quanto à sua obediência ideológica, no «Acto de Proclamação do Estado Ucrânia» Stetsko declarou solenemente que a nova entidade «cooperará intimamente com a Grande Alemanha Nacional-Socialista sob o comando de Adolph Hitler, que está a criar uma nova ordem na Europa e no Mundo». Uma das primeiras iniciativas do primeiro primeiro-ministro ucraniano foi o envio de uma carta a Hitler, em 3 de Julho de 1941, expressando a sua «gratidão e admiração» pelo início da ofensiva alemã contra a União Soviética. Pouco depois, em Agosto do mesmo ano, enviou uma espécie de «currículo» às autoridades alemãs elogiando o antissemitismo, apoiando o extermínio dos judeus e a «racionalidade» dos métodos de extermínio contraposta à assimilação17. A Academia das Ciências da Ucrânia revela que Stetsko e outros chefes da OUN prepararam acções de sabotagem contra a União Soviética juntamente com os chefes da espionagem alemã, receberam pelo menos 2,5 milhões de marcos para esse efeito e utilizaram aviões do Reich para o desenvolvimento das operações de que foram encarregados pelos nazis. Stetsko tornou-se mais tarde um activo da CIA e até 1986, ano da sua morte, chefiou o Bloco das Nações Anti Bolcheviques, depois Organização Anticomunista Mundial. Para o regime actual de Kiev, a «restauração» do Estado ucraniano, 50 anos depois, só foi tornada possível devido à proclamação de Lviv e a respectiva «ordem nacional» por ela estabelecida. Yaroslav Stetsko é autor do livro Duas Revoluções, o referencial ideológico do partido Svoboda e de outras organizações de inspiração nazi que dominam a estrutura estatal nominalmente chefiada por Zelensky. «Para a autocracia europeia o baptismo das principais ruas das cidades ucranianas com os nomes de criminosos de guerra como Bandera, Stetsko e Shukhevych, a proliferação de estátuas em sua honra são situações banais que casam muito bem com a democracia e a civilização ocidental» O primeiro primeiro-ministro ucraniano tem hoje uma placa de homenagem numa praça de Munique, inaugurada pelo presidente ucraniano «pró-europeu» Viktor Yushenko. Antes disso, em 6 de Maio de 1995, o primeiro presidente da Ucrânia actual, Leonid Kuchma, homenageou o colaboracionista nazi em Munique e deslocou-se às instalações da CIA nesta cidade – onde Stepan Bandera trabalhou durante a década de cinquenta – para visitar a viúva de Yaroslav Stetsko, Slava Stetsko. Foi um encontro de cortesia e de trabalho: traduziu-se na integração na Constituição ucraniana de uma formulação racista de índole nazi – artigo 16.º – segundo a qual «preservar o património genético do povo ucraniano é da responsabilidade do Estado». Data dessa ocasião, e também por iniciativa da viúva de Stetsko, a recuperação e institucionalização nacional do grito «Slava Ukraina, Geroiam Slava», o mesmo que era usado pelas organizações de Bandera. Slava Stetsko foi convidada para proferir os discursos de abertura dos trabalhos do Parlamento Ucraniano (Rada) nas sessões de 1998 e 2002. Como se percebe, isto aconteceu ainda muito antes da «revolução de Maidan», o que revela a profundidade das raízes do nacionalismo integral/nazismo no moderno Estado ucraniano. É longo o desfile dos «heróis nacionais» ucranianos proclamados pelos dirigentes do actual regime e que, directamente ou como colaboracionistas, fizeram parte do aparelho nazi de extermínio, sobretudo desde o início da Operação Barbarossa das tropas hitlerianas contra a União Soviética. Nem sempre as cliques dirigentes ocidentais e a própria oligocracia europeia aceitaram com bonomia estas promoções de exterminadores a «heróis» promovidas por uma «democracia» com a qual a NATO afirma ter «valores comuns». Quando o presidente Yushenko declarou Stepan Bandera como «herói nacional», em 22 de Junho de 2010, o Parlamento Europeu insurgiu-se. Parecia excessivo agraciar o inspirador da Divisão Galícia18, parte das forças armadas hitlerianas responsável por extermínios em massa; não parecia de bom tom endeusar alguém que assassinou em nome da «pureza da raça» e dedicou anos da sua vida a «expurgar» o território da pátria de «todos os não-ucranianos» e judeus. Não, isso não poderia o Parlamento Europeu sancionar. Mas tudo acabou por passar sem que nada de palpável acontecesse. Os deputados das maiorias socialistas e das direitas festejaram depois o golpe da Praça Maidan, encaram tranquilamente as marchas anuais em Lviv e outras cidades celebrando o aniversário de Bandera, aceitam como «resistentes patrióticos» os bandidos nazis, por exemplo o Batalhão Azov, que sequestram populações civis como escudos humanos, que fuzilam soldados ucranianos ambicionando salvar a vida perante a superioridade militar russa, que veneram Stepan Bandera e se orgulham de ter no terrorismo da OUN e da UPA as suas fontes de inspiração. Para a autocracia europeia o baptismo das principais ruas das cidades ucranianas com os nomes de criminosos de guerra como Bandera, Stetsko e Shukhevych, a proliferação de estátuas em sua honra são situações banais que casam muito bem com a democracia e a civilização ocidental. Citando de novo a NATO: «A Ucrânia é uma grande democracia». José Goulão, exclusivo AbrilAbril Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. A revelação feita pelo veterano jornalista Simon Hersh da maneira metódica e minuciosa como os Estados Unidos fizeram explodir os gasodutos Nord Stream I e II – num ostensivo acto de guerra contra a Alemanha perante a cobardia (a cumplicidade) de Berlim – revela bem até que ponto chegou a postura rastejante dos dirigentes da União Europeia como simples apêndices da oligocracia imperial. A operação terrorista, preparada, segundo Hersh, pelo conselheiro presidencial de segurança Jake Sullivan, o secretário de Estado Blinken e a golpista-chefe de Maidan, Victoria Nuland, teve como mandante o próprio presidente Biden. E o chanceler alemão, Olaf Scholz, não apenas continua calado e imóvel como aceita enviar dinheiro, tanques e outras armas para uma guerra através da qual o poder imperial norte-americano procura subjugar ainda mais a Europa. São políticos assim, sem qualquer dignidade e sentido humanista, que minam os países europeus como uma peste. O Ocidente em desespero, na verdade aglutinando apenas 15% da população da Terra, admite assim uma estratégia do caos e de autêntica guerrilha interna para tentar conservar o domínio mundial, o estatuto de poder colonial globalista gerido por uma única potência, depositando nas mãos de um inconsciente e transtornado aprendiz de feiticeiro a vida dos cidadãos do planeta. Fez dele um «herói» do circo de manipulação social corporativa, ignorando ostensivamente que não passa de um refém de um bando de chefes nazis movidos por uma crença mística na criação de um Estado ucraniano de «raça pura e homogénea». Levando em consideração estes chefes omnipresentes nas movimentações políticas, paramilitares e militares na sociedade ucraniana desde a independência, em 1991, não surpreende que os grupos nazis, fiscalizando e pressionando o funcionamento do Estado de Kiev, actuem de acordo com o seu fundamentalismo nacionalista herdado da OUN (Organização dos Nacionalistas Ucranianos) e da UPA (Exército Insurgente Ucraniano) e que tem os seus fundamentos nos anos 20 do século passado, solidificados depois em aliança com a Alemanha do III Reich. A responsabilidade ocidental nesta trágica convulsão não é de agora. Desenvolveu-se em paralelo com o nascimento, maturação e sobrevivência da ideologia nacionalista integral de influência directa nazi alemã que é a componente dominante do actual Estado ucraniano dirigido a partir de Kiev. Negá-lo é uma falsificação da História e das circunstâncias em que vivemos, assim transpostos para uma realidade paralela onde a mentira se tornou uma virtude. Documentos secretos da CIA, divulgados muito recentemente, revelam que os serviços secretos ocidentais canalizaram para os sectores independentistas ucranianos que mantiveram as referências ideológicas nacionalistas integrais da OUN e da UPA o seu apoio à actuação clandestina e propagandística contra a União Soviética. O banderismo foi, deste modo, a opção anti-soviética quase única assumida pelos agentes desestabilizadores ocidentais durante a guerra fria, no que dizia respeito ao território da Ucrânia. O Ocidente assegurou assim a sobrevivência do banderismo depois de derrotado juntamente com o nazismo alemão1. Stepan Bandera, Yaroslav Stetsko, Dmytro Dontsov e outros «heróis nacionais» de hoje transitaram directamente, não o esqueçamos, do colaboracionismo hitleriano para os quadros dos serviços secretos ocidentais, especialmente norte-americanos, alemães e canadianos. Tal como durante o III Reich, Munique foi uma das «capitais» do nacionalismo integral ucraniano desde o fim da Guerra Mundial à dissolução da União Soviética. «O banderismo foi, deste modo, a opção anti-soviética quase única assumida pelos agentes desestabilizadores ocidentais durante a guerra fria, no que dizia respeito ao território da Ucrânia.» Daí que, com toda a naturalidade, as correntes de inspiração nazi-banderista se tenham imposto desde logo como vectores determinantes da independência da Ucrânia quando se deu a implosão da União Soviética. Leonid Kuchma, o primeiro presidente ucraniano, deslocou-se à capital bávara durante o seu mandato para homenagear postumamente Yaroslav Stetsko, o primeiro primeiro-ministro do efémero Estado ucraniano criado em 1941, em Lviv, sob cobertura hitleriana. O Partido Nacional-Social, do qual emergiram todos os principais dirigentes banderistas/nazis responsáveis pela formatação do regime de Kiev em vigor, foi uma das entidades mais influentes na estruturação do Estado logo desde o início da independência, em 1991. Não em termos eleitorais, porque a grande maioria dos cidadãos nunca se identificaram com um fundamentalismo passadista que então lhes dizia pouco, mas no sentido da capacidade para determinar o funcionamento dos centros de decisão do regime. No fundo, o Partido Nacional-Social, os seus antecessores da OUN e UPA e os seus subprodutos nazis que marcaram espaço determinante em Kiev eram e são os fundamentos do caminho ditatorial que a Ucrânia tomou e agora se materializou em pleno. Com a conivência indisfarçada do Ocidente colectivo e a sua papagueada e esvaziada «democracia liberal». O Movimento-Batalhão Azov será talvez o mais conhecido grupo paramilitar – e agora militar – de inspiração nazi, essencialmente pela deificação dos seus membros feita pela comunicação e propaganda ocidentais, sobretudo na altura em que combatiam para manter a cidade de Mariupol em seu poder usando os civis e as suas residências como escudos. O jornal norte-americano The Nation considera-o «um centro da supremacia branca» estendendo os tentáculos no estrangeiro através, designadamente, da movimentação permanente da secretária internacional do «Corpo Nacional» do Azov, Olena Semeniaka2, que não tem qualquer pudor em deixar-se fotografar fazendo a saudação nazi junto a bandeiras com as cruzes suásticas.3 A embaixadora do Azov foi convidada a integrar Portugal nos seus périplos em Maio de 2019, para participar no «Fórum Prisma Actual» – de âmbito ibérico, segundo os promotores – organizado pelo «Escudo Identitário», parte da nebulosa fascista que já abocanhou fatia importante do hemiciclo da Assembleia da República. O Aidar, transformado em batalhão de assalto, os grupos Dniepr 1 (muito elogiado pelo falecido senador fascista norte-americano John McCain) e Dniepr 2, Trident, Donbass, têm todos as suas origens remotas no Partido Nacional-Social como herdeiro do espólio ideológico nazi-banderista. As suas milícias urbanas e grupos paramilitares, réplicas de esquadrões da morte, actuam como polícias municipais nas principais cidades do país – aterrorizando as populações definidas como «não-ucranianas» –, chantageiam e ameaçam os centros de decisão e, como parte das Forças Armadas, controlam efectivamente e sem qualquer contemplação o comportamento das forças regulares e respectivos corpos de oficiais. Apesar de agirem sob designações diversificadas, os grupos nazis ucranianos têm uma origem, um tronco e uma clique terrorista dirigente comuns com influência omnipresente no topo da hierarquia do Estado. «Os meus homens alimentam-me com os ossos de crianças que falam russo» «Não há nazismo nem banderismo na Ucrânia», proclamam analistas, comentadores, especialistas, jornalistas, historiadores e outros bruxos da modernidade que nunca se enganam e raramente têm dúvidas. É verdade que nem sempre a realidade e os factos se ajustam à sua eminente sabedoria, estratificadora da opinião oficial e única, mas a ignorância, a cegueira e má-fé são sempre dos outros, que se atrevem a ter posições diferentes, mesmo que sejam sustentadas por sólida investigação. Mas que culpa têm eles que assim seja? A realidade e os factos é que estão errados. É longo o desfile dos «heróis nacionais» ucranianos proclamados pelos dirigentes do actual regime e que, directamente ou como colaboracionistas, fizeram parte do aparelho nazi de extermínio. O maior cego é aquele que não quer ver Em Outubro do ano passado, o Parlamento e o presidente da Ucrânia proclamaram como «herói nacional» ucraniano um indivíduo de nome Miroslav Simchich, que completou 100 anos neste mês de Janeiro1. Simchich, que morreu no passado dia 18, é uma personagem de culto do regime de Kiev e foi agraciado como figura militar e pública pelos «seus méritos na formação do Estado ucraniano e pelos muitos anos de actividade política e social frutuosos». Miroslav Simchich (Krivonis) é um nazi, um criminoso de guerra. Foi destacado dirigente da entidade terrorista designada Organização dos Nacionalistas Ucranianos, mais conhecida por OUN, e do seu braço armado, o Exército Insurgente da Ucrânia (UPA). Estes grupos tiveram como um dos fundadores e figura de referência o conhecido colaboracionista nazi Stepan Bandera, nome identificado como um dos principais dirigentes e proselitista do chamado «nacionalismo integral» ucraniano, inspiração ideológica dos grupos terroristas de inspiração nazi que enquadram os actuais governo e Estado ucranianos. O objectivo contido na palavra de ordem institucional proclamada pela UPA, associado à doutrinação do nacionalismo integral, era «um Estado ucraniano etnicamente puro ou morte». No período a seguir à Segunda Guerra Mundial, Bandera instalou-se na Alemanha ao serviço do MI6 e da CIA, respectivamente serviços secretos britânicos e norte-americanos. A reciclagem «democrática» de bandidos nazis foi um método utilizado pelos Estados Unidos, potências ocidentais2 e, posteriormente, pela NATO, de uma maneira sistemática e sustentada. Bandera é, como não podia deixar de ser, «herói nacional» da Ucrânia: estátuas distribuídas por todo o país, marchas anuais em sua honra, sobretudo em Lviv, romagens oficiais ao seu túmulo; recentemente, a principal avenida de Kiev foi rebaptizada com o seu nome. Para os nazis de hoje na Ucrânia, uma das referências míticas é a Divisão Galícia3, unidade da UPA associada de maneira lendária ao culto actual de Bandera4 que a partir de 19435 lutou ao lado das tropas hitlerianas ocupantes da União Soviética6. Estudar a biografia do criminoso de guerra e novo «herói nacional» da Ucrânia Miroslav Simchich não é uma tarefa linear, sobretudo através da internet, porque numerosos sites sobre o assunto, especialmente os relacionados com os massacres de polacos, judeus, resistentes ucranianos, russos e soviéticos em geral, cometidos entre 1941 e 1945, estão censurados sob mensagens advertindo que se trata de «páginas de conteúdo perigoso». Investigar a história, conhecer mais sobre os pesadelos que encerra pode, ao que parece, fazer mal aos cidadãos. Abundam, pelo contrário, as informações sobre as actividades «heróicas» de Simchich contra o Estado soviético e lamentos sobre os longos anos que passou, por conta delas, «nos campos de trabalho bolcheviques». Há teses e investigações, porém, que escapam à malha censória, sobretudo os trabalhos que foram executados por alguns professores norte-americanos de universidades elitistas da Ivy League, como a de Yale. O professor Keith A. Darden, precisamente de Yale, conversou com Simchich e ouviu-o proclamar que «os objectivos nacionais justificavam as formas mais extremas de violência e considerável sacrifício»7. Entre a Primavera de 1941 e o Verão de 1943, a OUN (B), organização comandada por Stefan Bandera depois de uma cisão com a facção Melnik, considerada «moderada», e a UPA dedicaram-se a uma metódica limpeza étnica dos polacos das regiões da Volínia e da Galícia Oriental8. Tratava-se de «purificar», na perspectiva ucraniana, os territórios soviéticos então sob ocupação alemã e que, de acordo com as suas previsões e desejos, seriam integrados numa Ucrânia independente com a vitória da Alemanha Nazi. No primeiro ano da presença alemã no território ucraniano soviético a OUN exortou os seus membros a participarem no extermínio de pelo menos 200 mil judeus na região da Volínia. Além disso, criou a Milícia Popular Ucraniana, que realizou pogroms por sua própria iniciativa e colaborou com os invasores alemães a prender e executar cidadãos polacos, judeus, comunistas, soviéticos e resistentes em geral9 Ainda antes do início da Grande Guerra, os nacionalistas integrais da Ucrânia realizaram frequentes pogroms durante os quais assassinaram dezenas de milhares de compatriotas com origem judaica. Simchich explicou que os participantes nas chacinas não manifestavam quaisquer remorsos pelos seus actos, apesar de as vítimas serem quase exclusivamente civis – homens, mulheres e crianças, tanto fazia. Cumpriam, disse, a divisa da OUN segundo a qual «a nossa única diplomacia é a arma automática»10. Como se percebe, olhando para o que se passa hoje, há coisas que nunca mudam para as cliques ucranianas nacionalistas/nazis. Os terroristas da OUN(B)/UPA guiavam-se pelo decálogo da organização, bastante elucidativo em termos programáticos. O sétimo mandamento reza assim: «Não hesitar em cometer o maior crime se o bem da causa assim o exigir». O oitavo mandamento recomenda que se olhem «os inimigos com ódio e perfídia»; e o décimo estipula que os ucranianos devem «aspirar a expandir a força, a riqueza e dimensão do Estado ucraniano mesmo através de meios que transformem os estrangeiros em escravos». Transcorreram oitenta anos, mas o tempo não passou por sucessivas gerações de nacionalistas integrais ucranianos até à actual. Consultemos a lei dos povos indígenas promulgada há um ano pelo presidente Volodymyr Zelensky, herói de todo o Ocidente, e ali se inscreve a discriminação e a recusa de direitos aos não-ucranianos, como por exemplo o ensino e o uso das línguas pátrias e a proibição de meios de comunicação nesses idiomas. Nos termos da mesma lei, só os cidadãos considerados ucranianos «têm o direito de desfrutar plenamente de todos os direitos humanos e de todas as liberdades fundamentais».11 As crianças são formadas, desde tenra idade, no espírito segregacionista e xenófobo dessa lei; nos livros escolares oficiais ensina-se, por exemplo, que «os russos são sub-humanos». Miroslav Simchich [Krivonis], orgulha-se de ter sido pessoa destacada nos massacres de 1941 a 1943, comandando as unidades que dizimaram as aldeias polacas de Pistyn e Troitsa12 13 e ordenando pessoalmente o assassínio de mais de cem pessoas entre polacos, judeus e ucranianos. O cariz da OUN(B)/UPA, organização da qual se consideram herdeiros os vários grupos nazis que controlam o actual governo de Kiev, pode avaliar-se também pelo facto de entre os ucranianos dizimados estarem não apenas resistentes ao nazismo, mas também membros da facção dissidente de Melnik, OUN(M), mais inclinada para negociações e alinhada ideologicamente com o fascismo italiano. Mais de cem mil polacos da Volínia, Galícia Ocidental e até de Kiev foram chacinados entre 1941 e 1944 em consequência da colaboração íntima operacional entre as tropas de assalto nazis envolvidas na invasão da União Soviética e as organizações de inspiração banderista/nacionalismo integral. Com eles foram assassinados ainda dezenas de milhares de judeus, resistentes ucranianos, cidadãos soviéticos, húngaros, romenos, ciganos, checos e de outras nacionalidades que manchavam a «pureza» nacional ucraniana. No «domingo sangrento», 11 de Junho de 1941, unidades da OUN arrasaram cerca de 100 aldeias polacas da Volínia, incendiaram as casas e assassinaram pelo menos oito mil pessoas – homens, mulheres e crianças. Os ocupantes alemães receberam ordens para não intervir; porém, oficiais e soldados das tropas nazis forneceram armas e outros instrumentos para o massacre em troca da partilha do saque. Outro dos acontecimentos mais sangrentos desta limpeza étnica foi o massacre de Babi Yar, em 29 e 30 de Setembro de 1941, no qual mais de 30 mil judeus, prisioneiros de guerra e resistentes soviéticos foram fuzilados num desfiladeiro então nos arredores de Kiev por acção conjunta das Waffen SS e de grupos nazis/nacionalistas que afirmavam defender a independência do seu país. Duzentos mil polacos fugiram para regiões mais a Ocidente logo no início das matanças; oitocentos mil seguiram posteriormente o mesmo caminho, aterrorizados pela cadência e a crueldade das operações, na sequência das quais nada restava dos agregados populacionais invadidos, incendiados e saqueados. O número de cem mil mortos é calculado pelo Instituto de Memória Nacional da Polónia, ciente de que a organização de Bandera decidiu, em Fevereiro de 1943, expulsar todos os polacos da Volínia para obter «um território absolutamente puro». Pelo que o colaboracionismo absoluto da Polónia de hoje com um regime que tem as suas raízes nestas práticas genocidas é um insulto à memória de todos os cidadãos polacos e de outras nacionalidades vítimas desta limpeza étnica. Escrevem autores norte-americanos com investigações dedicadas a estes acontecimentos que a partir de Março de 1943 «unidades da UPA montaram um esforço concertado para aniquilar as populações polacas da Volínia e depois da Galícia Oriental». Nessa vertigem de morte nem os cidadãos polacos que pretendiam negociar foram poupados, logo assassinados a sangue-frio. A UPA foi oficialmente fundada em 14 de Outubro de 1942. Muito significativamente, 14 de Outubro tornou-se o dia das Forças Armadas na actual Ucrânia «democrática». Perguntaram ao «herói nacional» da Ucrânia Miroslav Simchich quantos russos matou ao longo da vida, ao que ele respondeu: «tantos quanto o tempo que tive para isso». Hoje, aquele que ficou conhecido como «o maior carrasco de polacos vivo», é «cidadão honorário» de Lviv e de Kolomyia, a terra da sua naturalidade, onde tem uma estátua com três metros de altura. Em 2009, o regime de Kiev, ainda mesmo antes do golpe de Maidan, dedicou-lhe o filme «heróico-patriótico» intitulado A Guerra de Miroslav Simchich. Note-se que os Estados Unidos e a Alemanha Federal recorreram no pós-guerra à experiência de Bandera e dos seus sequazes para efeitos de guerra fria. O habitual. O escritor e crítico literário Dmytro Dontsov14 é considerado o pai do nacionalismo integral «de características ucranianas», aparentado – mas único – com o movimento integralista que percorreu a Europa a partir da segunda década do século XX. Conviveu com o francês Charles Maurras, que terá figurado entre os inspiradores do ditador Oliveira Salazar, seguindo depois cada um o seu caminho embora coincidindo ideologicamente no essencial: Maurras identificou-se com o colaboracionismo hitleriano do governo pétainista de Vichy e Dontsov instalou-se temporariamente na Alemanha de Hitler: o ovo do nacionalismo integral ucraniano desenvolveu-se na serpente do nazismo, complementaridade que se tornou marcante até hoje. Grupos que controlam o actual governo da Ucrânia, como o Azov, o Aidar, o C-14, Svoboda, Sector de Direita e outros, com as respectivas milícias paramilitares e unidades integradas nas Forças Armadas regulares do país, consideram-se herdeiros da linha ideológica fundamentalista traçada por Dontsov e Bandera, miscigenando o nacionalismo integral com o nazismo, circunstância que se tornou operacional através das chacinas étnicas em território polaco-ucraniano a partir do início da invasão da União Soviética pelas tropas hitlerianas. A ambição de uma Ucrânia com uma população «pura» e «homogénea» não se extinguiu nos dias de hoje, como é patente pelas operações de limpeza étnica e genocídio da minoria russa da região do Donbass desencadeada após a chamada «revolução de Maidan» em 2014; a qual, segundo o chefe do grupo C-14, Yehven Karas, não teria passado «de uma parada gay» se não fosse o envolvimento das organizações de inspiração nazi como a sua. Uma carnificina afinal contra um povo «não-indígena» – respeitando a terminologia da legislação de Zelensky – que só foi travada com a intervenção das forças militares da Federação Russa a partir de 24 de Fevereiro de 2022. Citando o vice-primeiro-ministro ucraniano Alexey Reznikov, «povos indígenas e minorias nacionais não são a mesma coisa». Dito de outra maneira: nos termos da lei, perante qualquer tribunal, os não-ucranianos não podem invocar «o direito de usufruir plenamente de todos os direitos humanos e todas as liberdades fundamentais». Em resumo, racismo, apartheid institucionalizado no regime mais querido dos Estados Unidos e dos governos e instituições autocráticas da União Europeia. Exceptuando talvez Israel onde – sem ser coincidência – o apartheid também floresce. Dontsov tinha um ódio obsessivo por judeus e ciganos e fez com que essa tendência marcasse a fundação da OUN, que resultou da fusão dos grupos nacionalistas integrais de Stepan Bandera com a União dos Fascistas Ucranianos. A corrente nacionalista integral ucraniana baseava-se, como algumas outras, na deificação da nação, no tridente hierarquia, sangue e disciplina e na estratificação horizontal da sociedade entre nativos e não-nativos. Onde teria ido Volodymir Zelensky definir os parâmetros da sua actualíssima lei dos povos indígenas? Tal como hoje se aprende nas escolas do regime de Kiev, Dontsov ensinou no seu livro Nacionalismo, de 1926, que «os russos não pertencem à espécie de Homo Sapiens». Dmytro Dontsov foi buscar as suas teses sobre as origens do povo ucraniano «puro» à entrada dos varegues, um povo viking então oriundo da Suécia, nos territórios das actuais Ucrânia, Rússia e Bielorrússia no fim do século IX. Deslocaram-se através dos rios da Europa Oriental, fundaram a cidade de Novgorod – na Rússia – e depois o Reino de Kiev. Os verdadeiros ucranianos teriam assim uma origem nórdica e não eslava. O povo varegue era conhecido também como rus, termo que terá dado origem às palavras russo e Rússia. Rus vem, ao que parece, de linguagens nórdicas antigas e ainda hoje significa «Suécia» em alguns países da região como Estónia e Finlândia. Na sua obra, Dontsov associa a «pureza» ucraniana aos nórdicos e protogermânicos e à sua suposta superioridade rácica sobre os eslavos, sobretudo os eslavos orientais ou «pretos da neve», em linguagem pejorativa – os russos. Combater a Rússia, segundo o pai do nacionalismo integral ucraniano, «é um papel histórico que estamos destinados a desempenhar». Ideia que pormenorizou em 1961 quando, exilado no Canadá, publicou a sua obra O Espírito da Rússia: «O Ocidente, tanto nas Primeira e Segunda Guerras Mundiais, como hoje, não percebeu realmente o que é a Rússia como império, os venenos, destruição moral e cultural que carrega». Seis anos depois envolveu a ideia num espírito místico-religioso ao escrever que «os ucranianos são criados do barro com que o Senhor cria os povos escolhidos». Fervor que levou a actual deputada Irina Farion, do partido do presidente Zelensky, a declarar que «viemos a este mundo para destruir Moscovo». À direita da deputada oradora pode ver-se o assumido nazi Oleh Tyahnybok. Repare-se que, afinal, o problema não é Putin ou o regime político em Moscovo, qualquer que ele seja; o problema é a existência da Rússia e dos russos. O que deixa o Ocidente envolvido numa cruzada étnica, o que aliás é coerente com a sua História. De acordo com a teorização de Dontsov, no ocaso da dinastia de Rurique, monarca varegue que fundou o Reino de Kiev, o povo de origem nórdica foi escravizado pelos russos. De onde poderá deduzir-se que, para os nacionalistas integrais ucranianos, há uma necessidade de vingança contra a Rússia que atravessou séculos de história e está em curso, por exemplo, com a tentativa de limpeza étnica no Donbass. «Há uma ligação ideológica directa entre o regime do III Reich, as organizações e os dirigentes ucranianos que se inseriram ou colaboraram com ele e os comportamentos e actividades actuais dos grupos que se dizem herdeiros daqueles que há oitenta anos foram instrumentos das forças hitlerianas» Para Dontsov o combate à Rússia é o «Ideal Nacional», terminologia adoptada pela rede de grupos nazis que controla o aparelho de Estado. Utilizam o símbolo nazi Wolfsangel de forma invertida, explicam, porque essa posição expressa visualmente as letras I e N de «Ideal Nacional». O facto de a simbologia dos grupos ucranianos coincidir com a nazi tem essencialmente a ver, na sua argumentação, com o facto de ambas as partes terem recorrido a imagens de vigor, valentia e identidade, originariamente nórdicas e vikings. A guerra contra os russos vivendo no território ucraniano, principalmente no Donbass, iniciada em termos militares em 2014, será, portanto, uma expressão do «Ideal Nacional» que tem a sua génese na afirmação da superioridade dos autóctones nórdicos sobre os «ocupantes internos» eslavos, sobretudo orientais – «sub-humanos». A utilização do termo nazi para os grupos nacionalistas integrais ucranianos que sustentam o regime de Kiev parece bastante mais apropriada às circunstâncias do que o de neonazi15. Há uma ligação ideológica directa entre o regime do III Reich, as organizações e os dirigentes ucranianos que se inseriram ou colaboraram com ele e os comportamentos e actividades actuais dos grupos que se dizem herdeiros daqueles que há oitenta anos foram instrumentos das forças hitlerianas. Existe uma herança em linha recta: não há inovação, há continuidade. Então no que diz respeito à «pureza da raça» a sobreposição é absoluta, os conceitos do regime de Kiev, expressos claramente na lei dos povos indígenas de Zelensky, nada trazem de novo ao nazismo. Em Berlim, Dmytro Dontsov ganhou proximidade com o número três do Reich, Reinhard Heydrich, chefe das SS e da Gestapo. Tornou-se então administrador do Instituto Imperial para a Investigação Científica em Praga quando este dignitário nazi assumiu o cargo de «protector da Boémia e da Morávia».16 Estes factos são confirmados por uma investigação conduzida pelo professor Trevor Erlacher, da universidade norte-americana da Carolina do Norte. Reinhard Heydrich, responsável pelo todo poderoso Gabinete Central de segurança do Reich, que superintendia o aparelho repressivo nazi, foi o principal organizador da Conferência de Wansee, em 20 de Janeiro de 1942, durante a qual as mais elevadas estruturas do Reich planearam a «solução final», o extermínio dos judeus. Em 30 de Junho de 1941, sob a cobertura das tropas nazis que ocupavam Lviv, a OUN proclamou na varanda do n.º 10 da Praça Rynek, nesta cidade, a criação do de um Estado ucraniano independente. De acordo com as orientações de Stepan Bandera, o Estado assim fundado assentava no conceito de nacionalismo integral, numa população etnicamente pura, numa língua única, na glorificação da violência e da luta armada. A estrutura orgânica previa o totalitarismo, o partido único e um funcionamento ditatorial. Como presidente do «Conselho de Estado», cargo equivalente ao de primeiro-ministro, foi designado Yaroslav Stetsko, então o chefe operacional da OUN. Stetsko era um nazi e, segundo a ordem natural das coisas, é hoje «herói nacional» da Ucrânia. Se dúvidas houvesse quanto à sua obediência ideológica, no «Acto de Proclamação do Estado Ucrânia» Stetsko declarou solenemente que a nova entidade «cooperará intimamente com a Grande Alemanha Nacional-Socialista sob o comando de Adolph Hitler, que está a criar uma nova ordem na Europa e no Mundo». Uma das primeiras iniciativas do primeiro primeiro-ministro ucraniano foi o envio de uma carta a Hitler, em 3 de Julho de 1941, expressando a sua «gratidão e admiração» pelo início da ofensiva alemã contra a União Soviética. Pouco depois, em Agosto do mesmo ano, enviou uma espécie de «currículo» às autoridades alemãs elogiando o antissemitismo, apoiando o extermínio dos judeus e a «racionalidade» dos métodos de extermínio contraposta à assimilação17. A Academia das Ciências da Ucrânia revela que Stetsko e outros chefes da OUN prepararam acções de sabotagem contra a União Soviética juntamente com os chefes da espionagem alemã, receberam pelo menos 2,5 milhões de marcos para esse efeito e utilizaram aviões do Reich para o desenvolvimento das operações de que foram encarregados pelos nazis. Stetsko tornou-se mais tarde um activo da CIA e até 1986, ano da sua morte, chefiou o Bloco das Nações Anti Bolcheviques, depois Organização Anticomunista Mundial. Para o regime actual de Kiev, a «restauração» do Estado ucraniano, 50 anos depois, só foi tornada possível devido à proclamação de Lviv e a respectiva «ordem nacional» por ela estabelecida. Yaroslav Stetsko é autor do livro Duas Revoluções, o referencial ideológico do partido Svoboda e de outras organizações de inspiração nazi que dominam a estrutura estatal nominalmente chefiada por Zelensky. «Para a autocracia europeia o baptismo das principais ruas das cidades ucranianas com os nomes de criminosos de guerra como Bandera, Stetsko e Shukhevych, a proliferação de estátuas em sua honra são situações banais que casam muito bem com a democracia e a civilização ocidental» O primeiro primeiro-ministro ucraniano tem hoje uma placa de homenagem numa praça de Munique, inaugurada pelo presidente ucraniano «pró-europeu» Viktor Yushenko. Antes disso, em 6 de Maio de 1995, o primeiro presidente da Ucrânia actual, Leonid Kuchma, homenageou o colaboracionista nazi em Munique e deslocou-se às instalações da CIA nesta cidade – onde Stepan Bandera trabalhou durante a década de cinquenta – para visitar a viúva de Yaroslav Stetsko, Slava Stetsko. Foi um encontro de cortesia e de trabalho: traduziu-se na integração na Constituição ucraniana de uma formulação racista de índole nazi – artigo 16.º – segundo a qual «preservar o património genético do povo ucraniano é da responsabilidade do Estado». Data dessa ocasião, e também por iniciativa da viúva de Stetsko, a recuperação e institucionalização nacional do grito «Slava Ukraina, Geroiam Slava», o mesmo que era usado pelas organizações de Bandera. Slava Stetsko foi convidada para proferir os discursos de abertura dos trabalhos do Parlamento Ucraniano (Rada) nas sessões de 1998 e 2002. Como se percebe, isto aconteceu ainda muito antes da «revolução de Maidan», o que revela a profundidade das raízes do nacionalismo integral/nazismo no moderno Estado ucraniano. É longo o desfile dos «heróis nacionais» ucranianos proclamados pelos dirigentes do actual regime e que, directamente ou como colaboracionistas, fizeram parte do aparelho nazi de extermínio, sobretudo desde o início da Operação Barbarossa das tropas hitlerianas contra a União Soviética. Nem sempre as cliques dirigentes ocidentais e a própria oligocracia europeia aceitaram com bonomia estas promoções de exterminadores a «heróis» promovidas por uma «democracia» com a qual a NATO afirma ter «valores comuns». Quando o presidente Yushenko declarou Stepan Bandera como «herói nacional», em 22 de Junho de 2010, o Parlamento Europeu insurgiu-se. Parecia excessivo agraciar o inspirador da Divisão Galícia18, parte das forças armadas hitlerianas responsável por extermínios em massa; não parecia de bom tom endeusar alguém que assassinou em nome da «pureza da raça» e dedicou anos da sua vida a «expurgar» o território da pátria de «todos os não-ucranianos» e judeus. Não, isso não poderia o Parlamento Europeu sancionar. Mas tudo acabou por passar sem que nada de palpável acontecesse. Os deputados das maiorias socialistas e das direitas festejaram depois o golpe da Praça Maidan, encaram tranquilamente as marchas anuais em Lviv e outras cidades celebrando o aniversário de Bandera, aceitam como «resistentes patrióticos» os bandidos nazis, por exemplo o Batalhão Azov, que sequestram populações civis como escudos humanos, que fuzilam soldados ucranianos ambicionando salvar a vida perante a superioridade militar russa, que veneram Stepan Bandera e se orgulham de ter no terrorismo da OUN e da UPA as suas fontes de inspiração. Para a autocracia europeia o baptismo das principais ruas das cidades ucranianas com os nomes de criminosos de guerra como Bandera, Stetsko e Shukhevych, a proliferação de estátuas em sua honra são situações banais que casam muito bem com a democracia e a civilização ocidental. Citando de novo a NATO: «A Ucrânia é uma grande democracia». José Goulão, exclusivo AbrilAbril Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Uma atitude como esta não é sequer uma minimização da realidade nazi ucraniana, admitindo-a como um fenómeno marginal, uma espécie de folclore inconsequente e bizarro. É antes uma negação, uma perigosa negação que vai muito além de qualquer desejado efeito de propaganda; indicia que é possível conviver com um regime nazi – e apoiá-lo – sem que uma tal promiscuidade traga consequências. Mais do que isso, no caso presente recorre-se ao nazismo como instrumento para atingir objectivos próprios, os chamados «nossos interesses», contra qualquer coisa «maléfica» que pretende destruir a civilização «perfeita e superior» que construímos. Os resultados da complacência perante o nazismo alemão e até a esperança de que liquidasse o grande inimigo ocidental de então – a União Soviética – originou a tragédia da Segunda Guerra Mundial. Além de irresponsáveis perante tão retintas manifestações de nazismo a que assistimos, os dirigentes dos Estados Unidos e da União Europeia são profundamente ignorantes em História, arrastando-nos para a tragédia latente que decorre dessa inconsciência. Continuando o desfile de «heróis nacionais» ucranianos com um passado «patriótico» e exterminador, esbirros que estiveram ao serviço de Hitler e desejaram uma Ucrânia independente totalitária e etnicamente «pura», Roman Shukhevych é outro dos venerados pelos terroristas de Kiev. Na Ucrânia de hoje tem estátuas, um museu memorial, moedas cunhadas em sua honra, o nome de importantes ruas em várias cidades e até em dois estádios1 – Lviv e Ternopil2. A última pessoa a ser o seu contacto operacional, já durante a acção clandestina contra a União Soviética guiada pelos serviços secretos ocidentais, e na sequência da qual Shukhevych viria a morrer em 1950, foi Daria Gusyak, falecida o ano passado. Gusyak fez parte da direcção do Congresso dos Ucranianos Nacionalistas, partido neonazi fundado em 1993 por Slava Stetsko3 e, a pedido desta, fundou uma organização do actual regime seguidora do nacionalismo integral, designada Liga das Mulheres Ucranianas, que dirigiu até ao fim da vida. Shukhevych comandou operacionalmente a OUN (B) (Organização dos Nacionalistas Ucranianos, facção Bandera) e a UPA (Exército Insurgente Ucraniano) na segunda metade da invasão alemã da União Soviética, período durante o qual a limpeza étnica do território ucraniano e de áreas da Bielorrússia4 teve alguns dos seus episódios mais sangrentos. Por exemplo a chacina de Huta Pieniacka, em 28 de Fevereiro de 1944, na qual as hostes de Shukhevych e a 14.ª Divisão das SS ucranianas mataram mais de mil pessoas. Vinte e cinco mil a trinta mil polacos foram assassinados durante essa fase na região da Galícia Oriental. Enquanto ordenava, através do comando da UPA, que «combatam os polacos impiedosamente, ninguém deve ser poupado, nem mesmo os casamentos mistos», Shukhevych declarava em 25 de Fevereiro de 1944: «Devido ao êxito das forças soviéticas é preciso acelerar a liquidação dos polacos, eles devem ser totalmente exterminados, as suas aldeias queimadas». Antes de ascender ao comando da UPA, em certa medida porque Bandera foi preso e enviado para a Alemanha (embora em condições principescas), porque nem sempre o Estado ucraniano foi considerado «útil» e «oportuno» pelos chefes militares do Reich, Shukhevych esteve integrado no exército alemão, a Wehrmacht; contribuiu então para a formação de dois batalhões ucranianos, Nachtigall5 e Roland, que entraram em território soviético com as tropas nazis. O historiador sueco-americano Anders Rudling, da Universidade de Lund, deixou uma pergunta que mereceria reflexão, até dos donos da verdade, sobre o desenvolvimento do nacionalismo integral ucraniano e a sua relação com os acontecimentos dos dias que vivemos6: «Será possível fazer de Shukhevych um herói nacional sem legitimar a ideologia da organização que dirigiu?». Uma resposta consciente faria estilhaçar mitos cultivados irresponsavelmente e que deixam a humanidade à beira da maior das fatalidades. Os historiadores oficiais ucranianos tentam actualmente branquear a biografia de Shukhevych e de outros terroristas colaboracionistas, alegando que converteu o programa da OUN ao pluralismo político, constituiu uma plataforma de unidade com outros movimentos ucranianos e abandonou o extermínio de judeus. Faltam, porém, dados e documentos convincentes que comprovem essas versões7. Em 2006, na sequência da «revolução laranja» promovida pelos Estados Unidos, o presidente Yushenko, qualificado como «pró-europeu», designou o alegado historiador Volodymyr Viatrovych como chefe dos arquivos centrais dos Serviços ucranianos de Segurança8. A sua missão foi a de adaptar as biografias dos «heróis nacionais» venerados pelo regime actual, tornando-as mais compatíveis com um tipo de discurso tolerável pelos aliados e protectores de Kiev9. Situações e ocorrências como o anti-semitismo da OUN e os massacres de polacos, designadamente, quase desapareceram das biografias oficiais de Shukhevych, Bandera e outras figuras. Nelas figuram praticamente em exclusivo os papéis desempenhados por conta de serviços secretos ocidentais contra a União Soviética10. Sem a presença dos deputados da oposição, suspensos por Zelensky, o resultado da votação era um dado adquirido. Partidos acusados de tendências «pró-russas» serão proibidos em definitivo, para lá da lei marcial. A vida do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acaba de ficar relativamente mais fácil. Seguindo o método dialético de Manuela Ferreira Leite (numa teoria formulada aquando da sua liderança do PSD), de vez em quando, o melhor mesmo é suspender a democracia durante seis meses, «mete-se tudo na ordem e depois, então, venha a democracia». A pretexto da lei marcial, Zelensky proibiu hoje 11 partidos políticos, do centro à esquerda, na Ucrânia, incluindo o maior da oposição. A extrema-direita, por seu lado, não vê qualquer restrição à sua actividade. «Primeiro vieram buscar os comunistas (...)», lembrava Bertolt Brecht, e agora, por fim, levam o que restava do centro/centro-esquerda ucraniano. O processo de «descomunização», em marcha desde 2015, que resultou na ilegalização e perseguição do Partido Comunista da Ucrânia, aproveita o contexto da guerra para afastar os restantes rostos da oposição anti-NATO/anti-corrupção ao governo de Zelensky. Sob pretexto de se tratarem de partidos «pró-russos», uma narrativa rapidamente adoptada pelos meios de comunicação ocidentais, 11 partidos, com ou sem assento parlamentar, foram impedidos de exercer a sua função principal numa democracia: exercer a representação política dos seus eleitores e militantes. O Ministério da Justiça terá agora de «tomar imediatamente medidas abrangentes para proibir as actividades desses partidos políticos». A explicação dada pelo presidente ucraniano, numa declaração proferida hoje, 20 de Março, na qual anuncia o prolongamento da lei marcial por um novo período de 30 dias, falha na prova dos factos. Muitos destes partidos, acusados de pró-russos, participam activamente na defesa da Ucrânia. Há pouca margem para interpretar esta acção que não seja a de afastar o que resta da oposição ao seu mandato, e aos interesses que ele serve. A Plataforma de Oposição - Pela Vida, que nas eleições parlamentares de 2019 ficou em segundo lugar, com 13,05% dos votos e 43 assentos no parlamento, não só denunciou publicamente a invasão da Rússia, chegando mesmo a expulsar um deputado por não o fazer e remover um vice-presidente com ligações a Vladimir Putin, como incitou à participação nas milícias de defesa do país. Nada impediu a suspensão. No caso do Socialistas, trata-se de um pequeno partido político pró-União Europeia [ver foto em caixa] que defende a reintegração da Crimeia na Ucrânia, ao mesmo tempo que defende a nacionalização de vários importantes sectores da economia ucraniana e o combate à corrupção nas instituições governamentais. O verdadeiro crime destas formações políticas, algumas com quase 30 anos de actividade, foi, em alguns casos, continuarem a defender posições anti-NATO ou representarem as populações russófilas do país, enquanto outros, apoiantes do projecto europeu, se limitam a defender uma solução pacífica para o conflito no Donbass e se opõem aos ímpetos privatizadores do governo de Zelensky. O projecto iniciado em Maidan, em 2014/15, concluiu finalmente uma das suas principais ambições políticas: afastar todos os grupos partidários que contestem a hegemonia dos interesses económicos norte-americanos na Ucrânia. Para além da Plataforma de Oposição - Pela Vida, também os partidos Sharia, Nosso, Bloco de Oposição, Oposição de Esquerda, União das Forças de Esquerda, Estado, Partido Socialista Progressista da Ucrânia, Partido Socialista, Socialistas e Bloco de Volodymyr Saldo, foram suspensos. A necessidade de uma «política de informação unificada» levou Zelensky a assinar um decreto que funde todos os canais de informação, públicos e privados, num único órgão informativo, sob gestão da presidência da república da Ucrânia. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Zelensky, no entanto, decidiu ir mais longe. Depois da experiência do último mês, com a suspensão de todos os partidos políticos da oposição de centro e centro-esquerda (sem nunca tocar nos sacrossantos direitos dos partidos da extrema-direita), o parlamento ucraniano deliberou proibir, em definitivo, a oposição. Nas suas redes sociais, Olena Shuliak, presidente e deputada do partido Servo do Povo (pelo qual Zelensky se fez eleger) manifestou a sua satisfação pela aprovação da proposta: «Finalmente vamos parar de tolerar o 'mundo russo' dentro dos nossos círculos políticos, que só trazem destruição à Ucrânia». A pretexto de se tratarem de partidos «pró-russos», o novo projecto de lei (n.º 7172-1) permite a ilegalização de partidos, a cessação dos mandatos de representação, sejam ao nível local ou nacional, e o confisco de toda a propriedade registada pelos partidos visados. A Assembleia Geral da ONU adoptou, de forma esmagadora, a resolução que a Rússia apresenta há vários anos contra a «glorificação do nazismo», que voltou a não contar com o apoio dos países da NATO. Por iniciativa da Rússia, a resolução «Combater a glorificação do Nazismo, Neonazismo e outras práticas que contribuem para alimentar formas contemporâneas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância relacionada» foi aprovada esta quinta-feira, na Assembleia Geral das Nações Unidas, com 130 votos a favor, dois votos contra (EUA e Ucrânia) e 49 abstenções. Entre as abstenções, inclui-se a de Portugal, a dos estados-membros da União Europeia e dos países que integram a NATO. A resolução proposta pela Rússia apela aos estados-membros da Organização das Nações Unidas (ONU) para que «eliminem todas as formas de discriminação racial por todos os meios adequados», incluindo a via legislativa, e expressa «profunda preocupação sobre a glorificação, sob qualquer forma, do movimento nazi, do neonazismo e de antigos membros da organização Waffen-SS». De acordo com uma nota publicada no portal na ONU, o texto refere-se, também, à «construção de monumentos e memoriais», e à «celebração de manifestações em nome da glorificação do passado nazi, do movimento nazi e do neonazismo» – algo que ocorreu nos últimos anos em países como a Ucrânia, a Letónia, a Estónia, a Lituânia e a Polónia. Grigory Lukiantsev, director-adjunto do Departamento de Cooperação Humanitária e Direitos Humanos do Ministério russo dos Negócios Estrangeiros, disse que a adopção da resolução será um contributo real para a erradicação do racismo e da xenofobia, refere a TASS. Cerca de mil pessoas participaram no desfile do Dia do Legionário em homenagem aos mais de 140 mil letões que integraram unidades nazis. A diplomacia russa classificou a marcha como uma «vergonha». O Dia do Legionário, a 16 de Março, é assinalado na Letónia desde os anos 90, para homenagear e evocar aqueles que fizeram parte da Legião da Letónia na Waffen Schutzstaffel (Tropa de Protecção Armada, mais conhecida como Waffen-SS). A marcha deste ano, em Riga, contou com a participação de alguns veteranos legionários, que integraram a 15.ª e a 19ª divisões de Granadeiros da Waffen-SS, bem como de apoiantes e neonazis. O evento anual, que tem sido criticado a nível internacional como uma forma de «glorificação do nazismo», também mereceu oposição interna, com alguns manifestantes a exibirem cartazes em que classificavam a Legião como uma «organização criminosa» e a lembrar que «lutaram ao lado de Hitler», segundo refere o periódico Haaretz. A Embaixada da Rússia no país do Báltico condenou a marcha de homenagem aos legionários da Waffen-SS, que classificou como «uma vergonha». Na sua conta oficial de Twitter, a Embaixada afirmou, no sábado: «Que vergonha! Veteranos da Waffen-SS e apoiantes estão novamente a marchar com honra no centro de uma capital europeia. E isto acontece na véspera do aniversário dos 75 anos da libertação de Riga dos invasores nazis!» Também a Embaixada da Rússia no Canadá se manifestou no Twitter contra o desfile realizado em Riga: «Veteranos da Waffen-SS nazis e apoiantes marcham desafiantes e livremente no dia 16 de Março em Riga, Letónia, recohecidos pelas autoridades como heróis nacionais. Uma realidade ignorada por muitos no Ocidente que não pode ser descartada como "propaganda do Kremlin".» A Waffen-SS, que foi criada como um ala armada do Partido Nazi alemão, foi considerada uma organização criminosa nos julgamentos de Nuremberga, após a Segunda Guerra Mundial, pela sua ligação ao Partido Nazi e envolvimento em inúmeros crimes de guerra e contra a Humanidade. A Legião da Waffen-SS da Letónia foi fundada em 1943. Muitos dos seus membros viriam a integrar depois, juntamente com combatentes da Lituânia e da Estónia, os chamados Irmãos da Floresta, que até 1953 lutaram contra as tropas soviéticas nos países bálticos. Em Julho de 2017, a NATO publicou um vídeo que apresenta, com visível dose de heroísmo, essa guerrilha anti-soviética, sem mostrar grande preocupação pelo facto de, nessas forças, estarem integrados muitos legionários das SS nazis ou os que, nos países bálticos, haviam colaborado com as forças invasoras nazi-fascistas. Então, Maria Zakharova, porta-voz do Ministério russo dos Negócios Estrangeiros, pediu que «se veja com respeito as páginas trágicas da história e se repudie tão repugnante acção da Aliança Atlântica». Disse ainda esperar que «não seja necessário recordar os assassinatos massivos perpetrados por muitos dos membros dos Irmãos da Floresta». Por seu lado, a representação da Rússia junto da NATO considerou que o material fílmico constitui uma nova tentativa de reescrever a história, para a colocar de acordo com os processos políticos nas ex-repúblicas socialistas do Báltico, onde prolifera o neofascismo e o nacionalismo. Moscovo tem reafirmado a sua preocupação sobre o surgimento de grupos neonazis e acerca de políticas que glorificam colaboradores com o nazismo na Ucrânia, na Polónia e nos Estados Bálticos – países onde, refere a agência Sputnik – são frequentes as marchas em louvor de destacadas figuras fascistas. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Acrescentou que o texto sublinha a inadmissibilidade de «glorificar os envolvidos nos crimes do nazismo, incluindo o branqueamento de ex-membros da organização SS e das unidades Waffen-SS, reconhecidas como criminosas pelo Tribunal de Nuremberga». A representação diplomática dos Estados Unidos junto das Nações Unidas tem votado sempre contra a resolução apresentada pela Rússia, alegando que se trata de um documento que legitima as «narrativas de desinformação russa» e «denigrem os países vizinhos sob a aparência cínica de travar a glorificação do nazismo». No contexto da votação realizada há um ano, o embaixador norte-americano afirmou ainda que a resolução é contrária ao «direito de liberdade de expressão», a que também os «nazis confessos» têm direito, tal como estipulado pelo Supremo Tribunal dos EUA. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. A decisão foi aprovada com o voto favorável de 330 deputados. Apenas 17 votaram contra. O parlamento da Ucrânia (ou Rada) continua a funcionar, desde finais de Março, com um número reduzido de deputados (num total de 450), já que várias dezenas estão impedidos de cumprir o mandato para o qual foram eleitos por milhões de ucranianos, no mesmo sufrágio que legitima Zelensky. Qualquer partido que adopte posições, como parte da sua linha programática, que justifiquem, considerem legal e neguem o ataque da Rússia à Ucrânia, ou aceitem a conduta de militantes «pró-russos» nas «zonas temporariamente ocupadas» (em que se incluem as populações separatistas do Donbass e Crimeia), será imediatamente proibido. A capote desta lei, fica permanentemente proibida a defesa partidária do direito à autodeterminação dos povos do Donbass e da Crimeia, zonas com grandes populações russófonas e que votaram maioritariamente, em 2019, num dos partidos que será agora proibido: a Plataforma de Oposição - Pela Vida. Só saindo deste ciclo politicamente neurótico e retomando em força, e com urgência, as batalhas democráticas que continuam por fazer, é que conseguiremos apreender o neofascismo em toda a sua natureza. O fascismo nasceu como um novo produto ideológico das direitas do século XX, com uma origem e uma génese específicas na Itália do pós-I Guerra Mundial. Conquistou, contudo, o seu lugar na História justamente porque ganhou dimensão internacional, fascizando o corpus doutrinal de outras direitas em muitos contextos nacionais diferentes.1 Produtos de um processo degenerativo do sistema liberal, em cuja história se inscreve, o fascismo italiano e o nacional-socialismo alemão, considerados justamente prototípicos do fenómeno à escala internacional, ascendem ao poder cumprindo as normas legais de um liberalismo autoritário2 no âmbito de uma transição autoritária (do sistema liberal para a ditadura fascista). «Produtos de um processo degenerativo do sistema liberal, em cuja história se inscreve, o fascismo italiano e o nacional-socialismo alemão, considerados justamente prototípicos do fenómeno à escala internacional, ascendem ao poder cumprindo as normas legais de um liberalismo autoritário no âmbito de uma transição autoritária (do sistema liberal para a ditadura fascista)» Nos estudos do fascismo desenvolveram-se, entre muitos, dois debates clássicos que permanecem muito úteis para discutimos a extrema-direita que dele é herdeira. Em primeiro lugar, a distinção entre fascismo-movimento e fascismo-regime, isto é, entre os períodos e os contextos em que ele (ainda) não se constituiu como regime e ideologia de Estado e os que, sobretudo depois da nazificação da Alemanha a partir de 1933, tal acontece um pouco por toda a Europa; nos nossos dias, isto significa estudar a diferença entre as direitas radicais na oposição e no poder. Em segundo lugar, a aplicabilidade do conceito a uma grande variedade de casos nacionais – fascista foi apenas o partido e o regime de Mussolini?, ou devem também ser considerados como tal o nazismo, o franquismo, o salazarismo, o regime ustasha na Croácia, entre muitos outros? –, e contextos históricos – o fascismo teve a sua época, como lhe chamou Thomas Mann, e esta terminou definitivamente com a derrota militar nazi de 1945?, ou, sob muito variadas formas, foram e são neofascistas ou pós-fascistas movimentos, partidos e formas de governo que se desenvolveram/impuseram uma vez passada a época do fascismo, desde as extremas-direitas europeias mais clássicas (francesa, italiana, alemã), às formas ideológicas e orgânicas presentes em ditaduras reacionárias dos últimos 75 anos (sobretudo as latinoamericanas e as duas ibéricas nas suas versões adaptadas a um mundo de que havia desaparecido já qualquer esperança de uma Nova Ordem fascista), até às direitas radicais (demasiado) frequentemente descritas como populistas do século XXI? Diferenças de contexto, comunidade ideológica e perceção de continuidades são questões essenciais tanto para analisar as experiências políticas da época do fascismo (1922-45), como para discutir as direitas extremas dos nossos dias. A posição maioritária, e que vem ganhando contornos hegemónicos, é a de sublinhar a diferença entre as novas extremas-direitas, que julgamos conhecer melhor porque com elas vivemos, e aquelas que há cem anos cunharam o nome de fascismo. Antes de mais, esta parece-me a atitude intelectual mais fácil de assumir: em contextos inegavelmente diferentes, os objetos que neles encontramos parecem-nos também eles diferentes, pelo que a perspetiva com que, à partida, os abordamos é a da verificação da diferença face a outros objetos que já conhecemos, antes de mais por não termos sido contemporâneos dos objetos do passado, que nos são inevitavelmente mais estrangeiros (como lhes chama David Lowenthal) que os do presente. Dizia Eric Hobsbawm que «a maioria dos seres humanos opera como os historiadores: só retrospetivamente conseguem reconhecer a natureza da sua experiência.»3 É evidentemente difícil conseguir dar um nome adequado ao que vivemos enquanto o vivemos. Por outro lado, muita da discussão que hoje fazemos sobre a natureza da extrema-direita é a mesma que se vem fazendo há décadas sobre a natureza dos regimes autoritários da época do fascismo, e resulta, afinal, de saber-se que grau de flexibilidade é admissível no uso das categorias políticas. Por norma, aqueles que negam que ditaduras de direita do período de entre guerras, como a salazarista, tenham sido versões nacionais de um fascismo como fenómeno internacional, não se perguntam se são hoje igualmente democráticos regimes tão diferentes como o indiano ou o francês, e se já o era o sistema político norteamericano em 1776 ou em 1865. A pergunta nada tem de retórico uma vez que a Ciência Política mainstream tende a dar-lhe uma resposta positiva em todos os casos, ao mesmo tempo que entende que eram tão comunistas e totalitários (para usar um vocabulário hegemónico que não é o meu) o regime soviético em qualquer dos seus ciclos históricos, o dos Khmeres Vermelhos ou a Revolução Cubana, entre muitos outros exemplos. Porque se aplica, então, um grau tão amplo de flexibilidade para falar de democracia ou de comunismo e uma perspetiva tão restritiva para falar de fascismo? A resposta é simples: porque se aceita quase sempre trabalhar com conceitos genéricos de democracia e de comunismo e, pelo contrário, se recusa fazer o mesmo com o fascismo. «se a chegada da extrema-direita ao poder significa «mudar o sistema a partir de dentro», deve presumir-se que a mudança deixa mais ou menos intacta a natureza democrática do poder? Deixou Orbán intacta a democracia? E Bolsonaro, ou Duterte? Se não se trata de «mudar tudo», como designar, então, as alterações que todos eles, chegados ao poder por via constitucional exatamente como Hitler e Mussolini, vão introduzindo?» Para o que aqui nos ocupa, a questão é saber se, e quais, direitas extremas dos nossos dias são neofascistas, isto é, se são a versão do fascismo adaptada às condições específicas (mas muito diferentes entre si) de sociedades do século XXI marcadas pelo agravamento generalizado da desigualdade social e da perda de representatividade dos sistemas políticos. Nesta nova fase da globalização capitalista que coincide com o triunfo do neoliberalismo desde os anos 1980, são a retórica ocidentalista e o racismo culturalista dos nossos dias, empapados do Choque de Civilizações de Huntington, herdeiros do discurso da decadência do Ocidente de Spengler4 dos anos 20 que enformou a mundivisão fascista? A normalização do discurso xenófobo e racista, agravada com a chamada crise dos refugiados da última década (especialmente dos anos 2015-16), partilha a mesma mundivisão do fascismo na sua época? Há ou não continuidade entre o racismo politicamente organizado da primeira metade do século passado e o dos nossos dias, que alimenta movimentos políticos que, nos países mais ricos do Ocidente, se estruturam especificamente em torno do discurso xenófobo (contra o imigrante ou o refugiado, contra as minorias muçulmanas e ciganas), disfarçado de culturalismo determinista (hoje a «inassimilabilidade» do muçulmano ou do cigano, antes a do judeu)? Não pretendo fazer aqui uma discussão detalhada em torno da terminologia mais adequada para categorizar a extrema-direita que vem avançando por todo o Ocidente, não desde o Brexit ou a eleição de Trump, em 2016, mas desde pelo menos há 25 anos, desde que a direita radical começou o assalto ao poder nos países pós-comunistas, na Europa ocidental, a começar pela Itália, com a chegada de Berlusconi ao poder (1994) aliado (como por toda a parte acontece com a direita clássica) com a extrema-direita, ou nos EUA, quando a radicalização à direita do Partido Republicano levou ao poder George W. Bush (2000). Limito-me a contestar a validade do uso (em geral, puramente confrontacional) da categoria de populismo, mesmo que adjetivado como sendo de extrema-direita, expressão que, mimetizando o uso vulgar do totalitarismo, presume que existem tantos populismos quantos discursos antissistémicos se fizerem à esquerda e à direita; bem como a aplicabilidade do conceito de pós-fascismo para sob a sua capa se reunirem movimentos que «já não são fascistas [porque] surgiram depois da consumação da sequência histórica dos fascismos clássicos», dos quais «se emanciparam, ainda que na maioria dos casos o conservem como matriz». Impressiona-me que um historiador como Enzo Traverso, apesar de reconhecer que «Mussolini e Hitler chegaram ao poder por via legal», aceite que «a vontade [deles] de derrubar o Estado de Direito e apagar a democracia estava fora de discussão» permite marcar uma diferença essencial com a atitude da extrema-direita dos nossos dias, que, segundo Traverso, «quer transformar o sistema a partir de dentro, enquanto o fascismo clássico queria mudar tudo»5. Neste âmbito, se a chegada da extrema-direita ao poder significa «mudar o sistema a partir de dentro», deve presumir-se que a mudança deixa mais ou menos intacta a natureza democrática do poder? Deixou Orbán intacta a democracia? E Bolsonaro, ou Duterte? Se não se trata de «mudar tudo», como designar, então, as alterações que todos eles, chegados ao poder por via constitucional exatamente como Hitler e Mussolini, vão introduzindo? Mesmo não afirmando querer pôr em causa a natureza liberaldemocrática dos regimes, a extrema-direita no poder (e fora dele) ataca liberdades e direitos individuais e coletivos, coloniza o poder judicial, as forças de segurança e militares, propõe a ilegalização de forças políticas, a perseguição de organizações/movimentos associados a minorias étnicas, e assume práticas ultrassecuritárias contra inimigos internos (as minorias, os migrantes) e externos. Chamar, como está em voga, iliberal (como Fareed Zakaria) a este processo político parece-me muito menos adequado que nele reconhecer o liberalismo autoritário típico dos estados em transição para o autoritarismo. Um regime em transição muda inevitavelmente de natureza ao fim de algumas etapas; uma democracia em transição autoritária deixará sempre de ser democrática a menos que o processo seja revertido. Não creio ser razoável definir o ritmo da transição como indicador da natureza diferente do horizonte final da transição; a democratização social, como processo transicional que também é, produziu resultados muito diferentes e muito incompletos em países aos quais, em geral, vejo pouca gente recusar chamar democracias. Da mesma forma, a tese que deduz que as diferenças estruturais dos contextos históricos do fascismo na sua época (1922-45) e aquele em que hoje se expande a extrema-direita são obstáculo suficiente para não a podermos considerar neofascista, deveria para ser aceitável obrigar quem a sustenta a recusar falar hoje de democracia em contextos tão radicalmente diferentes do da Atenas do século V a.C.; ou, por comparação com o contexto bolchevique de 1917-18, chamar comunista aos partidos que, em estados liberaldemocráticos, disputam eleições e chegam a partilhar o poder sem propriamente subverter «por dentro»... E chegamos ao antifascismo. Sem se assumir haver uma continuidade entre as direitas extremas de há cem anos (fascistas) e as de hoje (neofascistas), não será viável estratégia alguma de reativação do antifascismo como cultura política e frente social de resistência ao ataque às três grandes conquistas de 1945: a construção da democracia social e a gradual (ainda que, uma vez mais, sempre incompleta) emancipação das classes trabalhadoras; a fundação da democracia sobre a rejeição radical das mundivisões racistas que conduziram a Auschwitz, da dominação colonial e da opressão de todas as minorias étnicas; a emancipação das mulheres de todas as culturas e de todos os continentes, de metade da Humanidade, motor das batalhas por outras emancipações, bem mais tardias, das subjetividades oprimidas definidas em torno da identidade sexual. Sem constituir em si mesmo um movimento político e social próprio, o antifascismo foi uma plataforma de resistência à expansão do fascismo e à subsequente dominação por ele imposta. O que, contudo, marcou a sua identidade na história foi a tomada de consciência de que, quer na Guerra de Espanha (1936-39), quer quando se começou a percecionar coletivamente a possibilidade efetiva de derrotar a Nova Ordem fascista, a luta antifascista era irreversivelmente uma luta pela reconstrução da democracia muito para lá dos estritos objetivos de liberais imperialistas como Churchill, De Gaulle ou Roosevelt, que lutaram contra o expansionismo de Hitler, Mussolini e Tojo mas que não pretendiam nem descolonizar, nem democratizar mais do que a reposição reformada dos termos estruturais do liberalismo oligárquico de 1939.6 «Fornecendo uma explicação convincente para a ascensão e a derrota do nazifascismo, hegemónica entre 1945 e os anos 70, o antifascismo e a memória coletiva por ele embebida sofreram um ataque generalizado com o avanço do neoliberalismo e a implosão do mundo soviético, justamente porque podiam reivindicar ter conseguido derrotar o fascismo como experiência histórica limite na história da violência como prática política, responsável pelo conflito mais mortífero e o modelo de genocídio mais eficaz e industrializado da história.» Fornecendo uma explicação convincente para a ascensão e a derrota do nazifascismo, hegemónica entre 1945 e os anos 70, o antifascismo e a memória coletiva por ele embebida sofreram um ataque generalizado com o avanço do neoliberalismo e a implosão do mundo soviético, justamente porque podiam reivindicar ter conseguido derrotar o fascismo como experiência histórica limite na história da violência como prática política, responsável pelo conflito mais mortífero e o modelo de genocídio mais eficaz e industrializado da história. Como aliança historicamente contingente entre as duas grande famílias ideológicas que, por motivos diferentes, se reviam na Revolução Francesa (o liberalismo e o socialismo), e de uma terceira que o fazia relativamente à Revolução Russa (o comunismo), a aliança antifascista das Nações Unidas (a designação que os aliados de 1941 se deram a si próprios) dividiu-se mal a ameaça fascista foi militarmente eliminada, em 1945, e em torno das mesmas questões que tinha dividido as suas componentes no passado (a dominação burguesa, a natureza intrínseca da desigualdade capitalista, a resistência liberal à democratização social, o imperialismo). É ainda nesse ciclo que nos encontramos: forças políticas muito diferentes podem partilhar (ou melhor, ter partilhado) uma mesma cultura antifascista, mas legitimamente não partilham os mesmos modelos de sociedade. Instrumento central para a defesa de um conjunto articulado de pressupostos democráticos sem os quais se vive automaticamente em ditadura socialmente reacionária, o antifascismo-movimento só se reativará quando os democratas percecionarem coletivamente o perigo, a ameaça (neo)fascista. Se continuarem convencidos que Le Pen, Salvini, Abascal e Ventura, como antes Trump ou Bolsonaro, não passam de figuras efémeras de um ressentimento punitivo e irracional com os quais se pode coexistir porque não querem, ou não conseguem, destruir os regimes liberaldemocráticos dentro dos quais operam, a luta política continuará a ser feita sem recurso ao frentismo antifascista – o mesmo que demorou a mobilizar, uma quinzena de anos passados sobre a ascensão de Mussolini ao poder. O novo ciclo histórico em que entrámos, de neuropolítica7, ansiedade coletiva, recessão económica sem precedentes e securitização global que a gestão política da pandemia tem vindo a acentuar, parece, aliás, ter tudo para facilitar transições autoritárias e dificultar a mobilização antifascista. Só saindo deste ciclo politicamente neurótico e retomando em força, e com urgência, as batalhas democráticas que continuam por fazer, é que conseguiremos apreender o neofascismo em toda a sua natureza. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Na mesma sessão, anunciaram os deputados Yaroslav Zhelezniak e Olha Sovhyria (o primeiro do partido Holos, da direita liberal, e a segunda do partido de Zelensky), foi aprovado um projecto de lei que proíbe a tomada de posições entendidas como sendo «pró-russas» na aplicação de mensagens instantâneas Telegram. Este é o segundo momento, no período que se seguiu ao golpe de estado de 2014, em que partidos políticos são proibidos na Ucrânia, depois da ilegalização do Partido Comunista da Ucrânia em 2015 (à altura com 32 deputados, eleitos por 2 687 246 eleitores). Zelensky dá continuidade ao seu trabalho na área da representação, interpretando, à letra, o poema de Bertold Brecht: «Primeiro vieram buscar os comunistas (...)». Apenas resta saber, após a nova vaga, qual será o próximo grupo político a ser perseguido no país. Por enquanto, a extrema-direita não vê ser entreposto qualquer entrave à sua acção política e paramilitar. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Porém, as instituições de memória nacional da Polónia, pouco respeitadas pelo regime da NATO em vigor em Varsóvia, registam que a OUN (B), também sob o comando de Shukhevych, decidiu em Fevereiro de 1943 expulsar todos os polacos da região da Volínia para obter um «território etnicamente puro», incitando a «matar polacos e judeus-moscovitas». O único «pluralismo» tolerado hoje por Kiev é o da nuvem de grupos nazis que controlam as rédeas do Estado. No dia 30 de Março deste ano, mais de um mês depois do início da invasão militar russa da Ucrânia, a insuspeita CNN admitiu que o Batalhão Azov, cujos membros são olhados no Ocidente como «mártires» e «resistentes», tem um «histórico de tendências nazis que não foram totalmente extintas com a sua integração na Guarda Nacional» – corpo das Forças Armadas ucranianas13. A realidade da situação ucraniana não escapou até ao FBI, como se deduz num relatório elaborado a propósito dos supremacistas brancos norte-americanos formados nas hostes do Azov. No documento pode ler-se que este grupo «é conhecido pela sua associação com a ideologia nazi e acredita-se que tenha participado no treino e radicalização de organizações de supremacia branca nos Estados Unidos»15. O próprio New York Times costumava qualificar os terroristas ucranianos como «abertamente neonazis», definição que adoçou muito recentemente para «organizações ultranacionalistas» quando uma delegação do Azov, chefiada por um «sobrevivente de Azovstal», em Mariupol, visitou os Estados Unidos, onde participou em sessões públicas de homenagem «e se avistou com mais de cinquenta congressistas», de acordo com um dos membros da missão. O Azov, organização treinada por militares na reserva norte-americanos, correspondendo aos interesses manifestados pela NATO, ainda é considerado oficialmente em Washington como «um grupo nacionalista de ódio». A negação, no Ocidente, da existência de nazis e banderistas na Ucrânia é uma patética tentativa de esconder da opinião pública o gigantesco apoio a um regime que cultiva a herança de Hitler e de colaboradores ucranianos do III Reich no extermínio de centenas de milhares de pessoas, em nome de um «Estado homogéneo e puro», entre os quais se destaca o «herói nacional» Stepan Bandera. «Eu também sou um banderista», proclamou no Facebook o chefe da Polícia Nacional, Serhiy Kryazev; «trabalho no Ministério do Interior, sou banderista e estou orgulhoso disso», declarou Zoryan Shkyriak, conselheiro do Ministério do Interior; Anton Shevchenko, porta-voz do Ministério do Interior e da Polícia Nacional, fez a mesma profissão de fé. O vice-ministro do Interior, Vadim Troyan, veterano do Azov e do grupo Patriota da Ucrânia, declarou-se igualmente banderista, soltou um «Slava Ukraina» e pediu oficialmente «desculpas», em nome do Ministério, quando um oficial da polícia dispersou um ajuntamento de nazis e chamou «banderista» a um deles. As informações foram divulgadas por Christopher Miller, jornalista da Rádio Europa Livre e do site Bellingcat, um dos órgãos oficiosos da NATO16. Michael Colborne, também um profissional deste site, definiu o Azov como «um perigoso movimento extremista nazi» com «ambições globais». A acumulação na Ucrânia de elementos comprometedores para a «democracia liberal», conceito que domina a propaganda atlantista, é tão evidente que forçou a Rádio Europa Livre a reconhecer que a «polícia ucraniana declara admiração por colaboradores nazis». Parafraseando o atrás citado Josh Cohen, «não, não foi a RT que disse isto». Multiplicam-se os exemplos de que o Estado ucraniano, com Volodymir Zelensky – tal como aconteceu com o seu antecessor Petro Porochenko –, está minado por organizações nazis de inspiração banderista/nacionalista integral, que actuam através da presença de membros nas estruturas de influência dos órgãos de decisão, reforçada, quando é caso disso, por acções de intimidação e chantagem que não poupam o próprio presidente. Essas nomeações não seriam possíveis sem o aval dos chefes dos departamentos mais determinantes na hierarquia do Estado17. Azov, Aidar, Dniepr 1 e Dniepr 2, Tridente, Batalhão Donbass, Sector de Direita, C-14 e mais alguns são grupos que, em última análise, exprimem através da acção o que algumas vezes tentam desmentir no discurso oficial, isto é que são inspirados pelos «heróis» do Estado nacionalista integral fundado em 1941 sob a cobertura das tropas alemãs invasoras da Ucrânia Soviética. Uma parceria que as instituições oficiais de «memória» tentam agora esfumar através da censura de livros e do argumento segundo o qual os colaboracionistas também foram vítimas dos alemães. Desconhecem-se, porém, as provas de que alguma vez as organizações banderistas como a OUN ou a UPA tenham atacado forças militares hitlerianas. Pelo contrário, a História real revela que Yevgeny Konovalets, fundador da OUN em 1929, a par de Stepan Bandera, e durante alguns anos presidente da organização, se avistou duas vezes com o próprio Hitler, na segunda metade dos anos trinta do século passado, para preparar a criação de um Estado ucraniano, o que viria realmente a acontecer pouco depois sob protecção germânica. «Yevgeny Konovalets , fundador da OUN em 1929, a par de Stepan Bandera, e durante alguns anos presidente da organização, se avistou duas vezes com o próprio Hitler, na segunda metade dos anos trinta do século passado, para preparar a criação de um Estado ucraniano, o que viria realmente a acontecer pouco depois sob protecção germânica» Primeiro presidente da OUN, Konovalets dirigira antes, a partir de 1920, a Organização Militar Ucraniana (UVO), dedicada à acção armada contra o poder soviético e também contra a Polónia, depois do fracasso da chamada «República Popular da Ucrânia» (1917-1920). Foi também precursor da aliança entre a Alemanha e os nacionalistas integrais ucranianos, mas não chegou a integrar operacionalmente os grupos colaboracionistas porque em 1938 foi vítima mortal de um atentado na Holanda, atribuído aos serviços secretos soviéticos18. Os restos mortais de Konovalets estão hoje ao lado dos de Bandera, Melniuk e outros «heróis nacionais» da OUN/UPA numa secção especial do cemitério de Lychakivskiy, em Kiev, dedicada à «luta pela independência nacional da Ucrânia». Apesar de agirem sob designações diversificadas, os grupos nazis ucranianos têm uma origem, um tronco e uma clique terrorista dirigente comuns com influência omnipresente no topo da hierarquia do Estado desde a independência, em 1991. Apesar de a participação nos centros de decisão ser hoje mais discreta, conduzida sobretudo nos bastidores e não tanto em cargos executivos directos, o seu poder determina as linhas de rumo do aparelho estatal no sentido nazi/banderista – o que aliás não é difícil de perceber através da institucionalização, de facto, de um sistema ditatorial: adopção de um apartheid oficial (lei dos povos indígenas), apoiado em teorias de «purificação da raça»; a supressão dos partidos de oposição; a destruição de milhões de livros ao estilo hitleriano; a violência terrorista contra os direitos de opinião, de expressão e manifestação; a homofobia e a perseguição das minorias em geral; as operações de limpeza étnica na região do Donbass; as restrições sindicais e laborais; a proibição de línguas minoritárias – e não apenas o russo; o encerramento de jornais e de cadeias de rádio e televisão, acompanhado pela imposição de uma programação única às restantes sob as ordens dos serviços de segurança; uma polícia política (SBU) sem freios; e a circulação de uma lista inquisitorial contendo os dados pessoais dos «inimigos do Estado» a neutralizar, se necessário eliminar – como tem acontecido frequentemente. Os nazis ucranianos não inventaram a roda; os seus protectores ocidentais é que, arrastados pela necessidade de não perderem o domínio mundial, assumem o totalitarismo e a ditadura como expressões da «democracia liberal», talvez porque, como proclama o inconfundível Borrell, existem efectivamente dois pesos e duas medidas no cenário internacional. Ou, como disse o veterano criminoso de guerra Henry Kissinger, os Estados Unidos apoiam este ou aquele ditador «porque são os nossos ditadores». Andriy Biletsky, Dmytro Yarosh, Andriy Parubi, Oleh Tyahnybok e Yehvan Karas são alguns nomes da estrutura nazi que envolve e influencia os órgãos de poder ucranianos. Quase todos eles são oriundos do Partido Nacional-Social (a designação não deixa dúvidas sobre as suas fontes ideológicas) e a partir dessa organização, depois denominada Svoboda (Liberdade), acabaram por fundar os diversos grupos que actuam no terreno, principalmente na sequência do golpe da Praça Maidan. Partilham o conceito de supremacia étnica ucraniana, a ideia de «Estado puro e homogéneo» (espelhando a herança de Dmytro Dontsov), o culto da violência e de Stepan Bandera, o nacionalismo integral, simbologias e práticas de inspiração nazi. A maioria dos grupos nazis que se foram formando receberam grande parte dos apoios financeiros do corruptíssimo oligarca Ihor Kolomoysky, um judeu com dupla nacionalidade ucraniana e israelita proprietário da estação de televisão onde o humorista Volodymir Zelensky ganhou fama desempenhando, numa série de ficção, o papel que exerce agora na chefia do Estado. A sua campanha política foi financiada efectivamente por Kolomoysky – e agora partilham a fama devida a quem pertence à elite das grandes fortunas escondidas em paraísos fiscais, como demonstra, sem espaço para equívocos, a investigação jornalística Panama Papers. «A missão histórica da nossa nação, neste momento crítico, é liderar as raças brancas do Mundo numa cruzada pela sua sobrevivência. A cruzada contra os sub-humanos conduzidos por semitas» Andriy Biletsky Andriy Biletsky é conhecido como «o führer branco» e tem um elucidativo cartão de apresentação: a missão da nação ucraniana é «liderar as raças brancas na cruzada final contra os sub-humanos conduzidos pelos semitas», escreveu no livro que se tornou a bíblia dos acampamentos juvenis onde crianças e adolescentes recebem formação doutrinária nacionalista e treino militar. É um dos fundadores do Partido Nacional-Social e, posteriormente, dos seus derivados Svoboda e Patriota da Ucrânia. Mais tarde, na vertigem nacionalista integral do golpe de Maidan, Biletsky fundou o Azov e as respectivas milícias paramilitares que se incorporaram em órgãos de vigilância municipais, verdadeiros grupos de assalto e, por fim, na Guarda Nacional. Biletsky tornou-se um dos assessores principais do primeiro-ministro Arsen Avakov, designado na sequência do golpe de Maidan pelos norte-americanos Victoria Nuland, do Departamento de Estado, e Geoffrey Pyatt, embaixador em Kiev, sob a batuta do então vice-presidente Joseph Biden, beneficiário de lucrativos negócios nos combustíveis fósseis ucranianos através do filho Hunter Biden. A estrutura do primeiro governo depois da mudança de regime incluiu dez membros de partidos e grupos nazis. A operação golpista custou cinco mil milhões de dólares aos contribuintes norte-americanos, segundo informações divulgadas pela própria senhora Nuland. Como assessor do chefe do governo, Biletsky atribuiu ao então recém-fundado Batalhão Azov a missão de «Polícia de Patrulha de Tarefas Especiais». A organização criou para isso uma unidade nacional de vigilância territorial designada Druzhina, uma réplica das SA hitlerianas que prestou juramento perante o próprio fundador do Partido Nacional-Social. Hoje a actuação de Biletsky processa-se mais na sombra, mas nem por isso é menos eficaz. Muito recentemente foi o organizador da marcha nacionalista sobre Kiev para «dissuadir» Zelensky de chegar a qualquer acordo com a Rússia. A iniciativa integrou-se no conjunto de acções para intimidar o presidente no caso de este se desviar da agenda nazi que, por exemplo, impediu a aplicação dos Acordos de Minsk, neste caso com as conivências dos governos da Alemanha e da França. A ex-chanceler alemã Angela Merkel e o ex-presidente francês François Hollande confessaram recentemente que os Acordos de Minsk, entretanto transformados em resolução das Nações Unidas, não eram para cumprir e não passaram de meros instrumentos para a Ucrânia ganhar tempo e adquirir poder militar que lhe permitisse travar uma guerra contra a Rússia. Dmytro Yarosh foi um dos cofundadores do Partido Nacional-Social e depois encabeçou uma das suas derivações, o Sector de Direita. Os destacamentos deste grupo de orientação nazi têm-se distinguido na retaguarda das tropas ucranianas envolvidas na guerra, «desencorajando», e mesmo fuzilando, os militares que em situação crítica perante a superioridade operacional russa tentam salvar a vida desertando. Yarosh foi o organizador do massacre na Casa dos Sindicatos, em Odessa, em 2 de Maio de 2014. O Sector de Direita incendiou o edifício onde se tinham refugiado dezenas de manifestantes contra o golpe de Maidan e pelo menos 48 pessoas perderam a vida. Segundo o chefe dos terroristas, tratou-se de um acto «para defender toda a Ucrânia dos ocupantes internos» e «realizar a revolução nacional». Yarosh chegou a ser colocado na lista dos procurados pela Interpol inserida no site desta organização; num golpe de magia, porém, o seu nome desapareceu rapidamente do rol. Integrando a estrutura que supervisiona na sombra o comportamento do presidente, do governo e do aparelho de Estado, Yarosh, tal como Biletsky, tem Zelensky sob mira. Foi marcante a sua declaração segundo a qual «Zelensky disse no discurso inaugural que estava pronto a perder audiência, popularidade, força (no caso de fazer acordo com a Rússia). Não», acrescentou, «ele perderia a vida, seria pendurado numa árvore qualquer em Khreschatyk no caso de trair a Ucrânia e as pessoas que morrem na revolução e na guerra. É muito importante que ele entenda isso». Também nas palavras de Yarosh, «sinto que Zelensky é muito perigoso para nós, ucranianos»; ele «não conhece os perigos deste mundo e as suas declarações de paz a qualquer custo são perigosas para nós». Quanto ao futuro, Yarosh quer dedicar-se à escrita «para ajudar nacionalistas e patriotas ucranianos a ter uma nova visão sobre o país numa base ideológica sólida: o legado» de figuras como Dontsov, Konovalets, Stepan Bandera, entre outros. Para já, a sua tarefa cumpre-se visivelmente no activo. Em 2021, Zelensky nomeou Yarosh como conselheiro do chefe do Estado Maior das Forças Armadas ucranianas, general Valerii Zaluzhny. O presidente achou mais seguro «entender» as mensagens do chefe do Sector de Direita. Andriy Parubiy é outro dos nacionalistas integrais admiradores de Stepan Bandera que fez o percurso do Partido Nacional-Social até ao Movimento Azov, passando pelo Svoboda e pelo Patriota da Ucrânia. A falta de pudor é extensiva aos governos dos Estados Unidos e de países da União Europeia que receberam oficialmente Parubiy, com muita cordialidade, apesar de este nunca se ter preocupado em esconder as fotos de manifestações onde participou ostentando simbologia nazi. É certo que, ao tornar-se deputado pelo partido de Porochenko, Andriy Parubiy teve de desligar-se formalmente do Movimento Azov. Porém, numa entrevista concedida em 2016, em pleno exercício do cargo de presidente do Parlamento, assegurou que não abdicou dos seus «valores». Oleh Tyahnybok19 é outro membro da superestrutura nazi que controla o Estado ucraniano. Chefia o Svoboda desde 2004, enquanto é aliado de Yarosh no Sector de Direita, depois de ter participado na fundação do Partido Nacional-Social em 1991; em 1998 foi integrado no Conselho Supremo da Ucrânia. Esteve nas cogitações de Biden e Nuland para chefiar o governo ucraniano pós-Maidan e tornou-se deputado. Ao longo da carreira nunca escondeu as suas simpatias pela geração ucraniana colaboradora do regime de Hitler e exibe-se como personagem de destaque das manifestações anuais em honra de Bandera nas quais se grita «fora os judeus», «enforquem-se os russos». Fotos destes acontecimentos captaram-no a fazer a saudação nazi em cima do palanque instalado no final de um dos desfiles. Em Abril 2014, pouco depois do golpe de Maidan, o então vice-presidente Joe Biden mostrava-se sorridente ao encontrar-se em Kiev com o nazi Tyhanybok. O chefe do Svoboda trabalhou activamente para o reconhecimento da importância do papel da UPA na história da Ucrânia. Ainda muito antes do golpe de Maidan fez um discurso junto às sepulturas de oficiais daquela organização: «Vocês são aqueles que a máfia judaica-moscovita que governa a Ucrânia mais teme; vocês lutaram contra os moscovitas e os judeus». Tyahnybok pediu em 2005 ao presidente Yushenko, entronizado depois de uma «revolução cor-de-rosa» organizada por Washington, a realização de uma investigação sobre «as actividades criminosas do judaísmo organizado na Ucrânia». Jura que não é anti-semita. José Goulão, exclusivo AbrilAbril Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Um dos grupos menos conhecidos, mas não menos interventivo ao nível das esferas de decisão, é o C-14, agora renomeado Fundação Futuro. Trata-se da organização juvenil do partido Svoboda e tem uma acção intensiva na doutrinação racista dos jovens ucranianos «puros», sobretudo na educação do ódio aos russos, definidos como «sub-humanos». O «14» presente na denominação da organização relaciona-se com as 14 palavras da expressão programática originalmente divulgada pelo neonazi norte-americano David Lane: «Temos de assegurar a existência do nosso povo e o futuro para as crianças brancas». O C-14 ou Fundação Futuro – o Svoboda também usa, significativamente, a designação Sociedade do Futuro – é chefiado por Yevhen Karas e tem uma actividade diversificada, em grande parte subsidiada pelo governo. É o caso dos projectos de «educação nacional-patriótica» elaborados pelo seu Conselho de Educação e que são financiados pelo Ministério da Juventude e Desportos. Entre as iniciativas incluem-se campos de juventude para doutrinação ideológica e treino militar, competições desportivas apenas para crianças «brancas», a promoção de concertos com bandas nazis e negacionistas do Holocausto, como o grupo Sakyra Peruna. Num dos espectáculos promovidos em 2019 com a actuação desta e outras bandas afins estiveram presentes o então primeiro-ministro Oleksiy Honcharuke, envergando uma camisa negra, e a ministra dos Assuntos dos Veteranos, Oksana Koliada. Destruição e saque de acampamentos de ciganos (seis em dois meses durante 2018), operações nas quais contam frequentemente com apoio policial; operações de polícia municipal e violentas patrulhas de rua no oblast (província) de Kiev; decoração de edifícios públicos com símbolos e bandeiras nazis, ataques contra manifestações LGBT e de organizações de oposição ao regime são acções em que o C-14 particularmente se distingue. Um dos assaltos a um acampamento de ciganos foi programado para 20 de Abril de 2018, de maneira a coincidir com a data de nascimento de Hitler. «O Aidar, transformado em batalhão de assalto, os grupos Dniepr 1 (muito elogiado pelo falecido senador fascista norte-americano John McCain) e Dniepr 2, Trident, Donbass, têm todos as suas origens remotas no Partido Nacional-Social como herdeiro do espólio ideológico nazi-banderista.» Nesse mesmo ano, Serhiy Bondar, um dos chefes do grupo, proferiu uma conferência sobre Segurança da Comunidade na America House de Kiev, uma instituição oficial norte-americana. Segundo fontes de oposição, os serviços secretos SBU recorrem ao C-14 para a execução de «tarefas» à margem das leis em vigor, da mesma maneira que os Estados Unidos «deslocalizam» as práticas de tortura para prisões secretas em países aliados. Um dos resultados prováveis dessa «delegação de poderes» foi o assassínio do jornalista Oles Buzina, liquidado a tiro perto de casa em Abril de 2015. O C-14 e o Movimento-Batalhão Azov foram integrados no Conselho Público do Ministério dos Assuntos dos Veteranos. Dmytro Riznychenko, um dissidente do grupo, revelou à «Rádio Svoboda» que «no C14 são todos nazis». O Ocidente «dá-nos armas para nos divertirmos a matar», costuma proclamar o chefe da organização, Yevhen Karas. «O nacionalismo é exactamente o que a Ucrânia precisa», assegurou Anne Applebaum, destacada jornalista norte-americana de origem judaica galardoada com um prémio Pulitzer e casada com Radoslaw Sikorski, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros do regime nacional-fundamentalista da Polónia. Sikorski voltou momentaneamente à ribalta há dias quando defendeu que a Ucrânia devia possuir armas nucleares e usá-las contra a Rússia. O Congresso Mundial Judaico, o Memorial do Holocausto nos Estados Unidos e 57 congressistas norte-americanos não partilham da opinião de Applebaum e condenam «a glorificação nazi» sob o regime de Kiev. Zelensky é judeu, portanto não pode ser nazi, ouve-se na União Europeia e nos Estados Unidos da boca de quem parece querer aliviar a consciência (se a tivesse) pelo fornecimento de toneladas de armas e milhares de milhões de euros e dólares a um regime dominado por um aparelho aparentado com o terror hitleriano. O silogismo é absurdo. A sua invocação pode até criar um problema existencial ao próprio Aristóteles, tentado assim a rever o seu Organon. O presidente em exercício da Ucrânia costumava brincar com a ascendência judaica, que dizia não ter qualquer influência na sua vida: «O facto de ser judeu não chega a ser a vigésima na minha longa lista de falhas». Isto foi antes de entender que seria útil e oportuno invocar essa circunstância para tentar repelir as acusações de que estava à cabeça de um regime nazi. Será Volodymyr Zelensky originalmente um nazi convicto como Biletsky ou Yarosh, proeminentes figuras do aparelho que controla o regime? Assumamos a improvável hipótese de não ser, de não passar de uma figura do showbiz bacoco, apesar disso com talento para a comunicação – o que não é difícil quando se é levado ao colo por 160 agências transnacionais da especialidade, com enorme experiência em mentiras, manipulação, estratégias de engano, sound bites para vender desde detergentes a discursos de primeiros-ministros. O presidente ucraniano caminha entre a ficção e a realidade, tentando equilibrar-se como um funâmbulo em apuros porque a sua especialidade circense são as piadas obscenas e porno-boçais. Deram-lhe o mundo para brincar, como fazia o outro, incarnado, porém, por um genial actor em O Grande Ditador, e agora está o planeta e estamos todos à beira do mais negro dos abismos. O maior irresponsável, na verdade, não é o próprio, mas os que lhe movem os cordelinhos, lhe oferecem armas «para nos divertirmos a matar», como diz Karas, o chefe do C-14, e vão até ele prestar vassalagem levando milhões de milhões roubados cinicamente aos cidadãos, sabe-se lá com que destino final. Em abono da verdade deve dizer-se que Zelensky não necessitou de um talento especial para transformar a sua carreira de actor de ficção no papel de chefe da junta golpista de Kiev. Mudou de palco, mas continuou na área do fingimento e do faz de conta, temperados agora com a mentira inerente à actividade dos mentores políticos. A sua campanha eleitoral baseou-se no estabelecimento da «paz» no país, designadamente através da aplicação dos Acordos de Minsk, estratégia que lhe valeu obter no martirizado Donbass a enorme maioria para derrotar amplamente o seu rival, conhecido nesta região como «Porochenko o fascista». A população da Ucrânia não se revia no clima de guerra criado com o golpe de Maidan, que derrubou um governo democraticamente eleito, seguido do assalto das forças regulares e dos grupos nazis contra a população maioritariamente russa do Leste e Sudeste do país. Foi esse facto, conjugado com as promessas de «reconciliação», que catapultou a eleição de Zelensky. «O presidente ucraniano caminha entre a ficção e a realidade, tentando equilibrar-se como um funâmbulo em apuros porque a sua especialidade circense são as piadas obscenas e porno-boçais.» Ora Zelensky, da mesma maneira que os tutores ocidentais, certamente sabia que os acordos de Minsk não eram para aplicar, como já garantia o próprio Porochenko e Merkel e Hollande agora confirmaram; pelo que a campanha do candidato vencedor assentou sempre numa ilusão, uma rábula como quaisquer das suas performances como actor – esta tendo, porém, como consequência bem real e dramática a chacina de centenas de milhares de seres humanos. Como ficámos a saber muito recentemente, o ditador de Kiev nunca pensou, de facto, em respeitar os acordos de Minsk. Montou a campanha eleitoral com base numa fraude, driblando Porochenko porque conseguiu mentir mais e melhor, ou não se tratasse de um especialista em fazer de conta. Numa entrevista à revista alemã Der Spiegel, publicada em 9 de Fevereiro último, o chefe do regime de Kiev confessou que «fingiu apoiar os Acordos de Minsk para uma troca de prisioneiros com a Rússia e dar tempo ao país para se preparar para a guerra». Acrescentou que revelou isso mesmo à chanceler Merkel e ao presidente Macron porque «as concessões» contidas nos acordos, mesmo que transformadas em resolução das Nações Unidas, eram «inaceitáveis». «Não podemos implementá-los», assegurou. A França e a Alemanha anuíram, da mesma maneira como posteriormente o Reino Unido e toda a NATO invalidaram as possibilidades de entendimento entre a Ucrânia e a Rússia que chegaram a ser desenhadas em Istambul, em Março de 2022. Como explicou agora o próprio Zelensky perante o Parlamento Europeu. De facto, torna-se quase impossível negociar e fazer valer acordos com esta gente, sempre de mentira e má-fé em riste. A realidade da Ucrânia pós-Maidan, e mesmo pós-independência em versão mais benigna, acabou por arrasar todas hipóteses apresentadas como bem-intencionadas, mesmo as mais estrambólicas. Se Zelensky não era originalmente nazi, as circunstâncias do mito de uma Ucrânia nórdica, branca, pura e homogénea transportado até hoje pelas almas sangrentas de Dontsov, Bandera, Setsko, Shukhevych e outros «heróis nacionais», colocaram-no ao serviço de um sistema nazi. O que, em termos práticos, não faz qualquer diferença. Sendo Zelensky judeu nada o impede, como está à vista de todos, de encabeçar um regime de inspiração nazi-banderista. Não faltam na História os casos de colaboração de judeus com o Reich e com ideologias nazi-fascistas. O depois primeiro-ministro israelita Menahem Begin não teve pejo em recorrer a formadores hitlerianos para tornar operacional o seu grupo terrorista Irgun, um dos pilares em que assentou posteriormente o actual exército de Israel. Zelensky tem obrigação, apesar do diletantismo mais ou menos alienado de grande parte da sua vida, de conhecer o caso de Zeev Jabotinsky, destacadíssima figura sionista de origem ucraniana, também ele um dos fundadores do Irgun, que se colocou ao lado dos nazis alemães por ocasião da invasão da União Soviética; chegou, apesar disso, a administrador Congresso Mundial Judaico e os seus restos mortais foram acolhidos com todas as honras em Israel, terra de apartheid, tal como a Ucrânia de hoje. O secretário pessoal de Jabotinsky foi o pai de Benjamin Netanyahu, o conhecido e eterno primeiro-ministro de Israel, por sinal o maior amigo de Volodymir Zelensky na clique governante do sionismo. E como será que os seguidores do mito segundo o qual o presidente ucraniano sendo judeu não pode ser nazi resolverão esta intrigante equação: o facto de Kolomoysky, o patrão mediático e financiador da campanha presidencial de Zelensky, que ajudou a fundar e sustenta com verbas principescas os grupos nazis ucranianos, entre eles o Azov, ser também o presidente da Comunidade Judaica Unida da Ucrânia? A memória da chacina de dezenas de milhares de judeus pelo nacionalismo integral que governa o seu país certamente não o incomoda. Entretanto, as virtuais boas intenções «pacifistas» de Zelensky usadas na campanha de mentira dissiparam-se logo que tomou posse. A partir daí a superestrutura nazi-banderista que manda em Kiev decidiu que era tempo de acabar com a rábula e os fingimentos Bastou a primeira deslocação presidencial para Leste depois das eleições, com destino a Zolote, na chamada zona cinzenta de separação entre os dois lados em conflito, para as dúvidas se dissiparem. Recebido pelos comandantes do Azov e outros agrupamentos nazis envolvidos na campanha «Não à capitulação» – contra os Acordos de Minsk e outras iniciativas para atenuar as tensões militares -, Zelensky chegou ainda a defender uma redução dos armamentos presentes na linha da frente, de modo a gerar um ambiente de confiança, ainda que ténue, susceptível de prolongar por mais algum tempo o período sem guerra aberta. A resposta dos comandantes nazis foi de extrema dureza contra o presidente e os vídeos da altercação rapidamente correram os meios de comunicação nacionalistas e as redes sociais, gerando uma poderosa vaga de intimidação e chantagem contra o novo titular nominal do poder em Kiev. Andriy Biletsky prometeu mobilizar novos contingentes de milhares de paramilitares para contrariar as sugestões de Zelensky e depois comandou a marcha sobre Kiev contra hipotéticos esforços de paz; um deputado do partido de Porochenko fez uma intervenção parlamentar ameaçando que uma granada lançada por um membro de um grupo «patriótico» poderia explodir em qualquer lado, até junto do presidente; Dmytro Yarosh afirmou, recorda-se, que as supostas intenções de paz do chefe de Estado «são perigosas para nós» – e também para o próprio, que poderia ser «pendurado numa árvore». Tudo voltou então aos tempos de Porochenko, segundo o qual o governo da região ocidental da Ucrânia nunca pensou em cumprir os Acordos de Minsk, assinados apenas para «ganhar tempo» e reforçar a guerra contra o Donbass. Entre Porochenko e Zelensky diluíram-se as diferenças, mesmo que improváveis; e em Kiev continuaram a mandar os mesmos de sempre. Foi isso que aconteceu a partir do momento em que Zelensky ficou refém da teia nazi envolvendo o Estado ou então se converteu definitivamente à «ordem nacional» herdada de Dontsov, Bandera e outros nacionalistas integrais homens de mão do expansionismo do III Reich. Zelensky emergiu então segundo o modelo que hoje conhecemos. Um verbo de encher atrevido, sem limites, megalómano, irresponsável e insensível perante o valor da vida humana, um nacionalista feroz e ao mesmo tempo um bobo de corte dos poderes internacionais que não têm qualquer pudor em usar o nazismo como tropa de choque ao serviço dos seus interesses maníacos e totalitários, da mesma maneira que o fazem com a al-Qaida e o Isis – a conhecida «ordem internacional baseada em regras». Nacionalismo integral ucraniano e nazismo, uma velha parceria, como sempre útil às tentações hegemónicas, sejam da Alemanha de Hitler ou do império ocidental comandado pelo regime dos Estados Unidos da América. Afinal, o verdadeiro Estado pária e terrorista, como mais uma vez ficou demonstrado ao bombardear os gasodutos Nord Stream. «Zelensky emergiu então segundo o modelo que hoje conhecemos. Um verbo de encher atrevido, sem limites, megalómano, irresponsável e insensível perante o valor da vida humana, um nacionalista feroz e ao mesmo tempo um bobo de corte dos poderes internacionais que não têm qualquer pudor em usar o nazismo como tropa de choque ao serviço dos seus interesses maníacos e totalitários, da mesma maneira que o fazem com a al-Qaida e o Isis – a conhecida "ordem internacional baseada em regras".» Zelensky tornou-se inimigo da paz até ao sacrifício do último ucraniano; transforma sistematicamente os colaboracionistas nazis em «heróis nacionais», acha que os ucranianos têm todo o direito a ser banderistas porque isso «é fixe», deixou a sua assinatura na lei racista dos «povos indígenas» ou autóctones, eliminou os partidos de oposição, esvaziou as bibliotecas ao destruir milhões de livros, permitiu que se criasse aquilo que a Rádio Europa Livre – imagine-se! – qualifica como «uma atmosfera arrepiante para os jornalistas». Para não deixar dúvidas quanto à sua posição, negando totalmente o que prometera na campanha eleitoral, Zelensky convocou em Outubro de 2019 uma reunião de trabalho com o pleno dos grupos terroristas nazis. «Encontrei-me hoje com os veteranos», explicou o presidente. «Estiveram todos presentes, o Corpo Nacional, o Azov, toda a gente». Anote-se a veneração e o respeito que Zelensky expressou em relação aos interlocutores, tratando-os como «veteranos». Em 1 de Dezembro de 2021, o chefe nominal do regime da Ucrânia condecorou como «herói nacional», em pleno Parlamento, o comandante do Sector de Direita, Dmytro Kotsubaylo. O seu grupo fuzila os soldados ucranianos quando tentam desertar; Kotsubaylo costuma «brincar» com os jornalistas dizendo que «os meus homens alimentam-me com ossos de crianças que falam russo». É-lhe atribuído o lançamento da campanha «Não à capitulação». Pouco antes desse acto, Zelensky fez-se representar, tal como o seu ministro da Defesa, no funeral de Orest Vaskoul, antigo membro do ramo ucraniano das SS alemãs. A alma do falecido criminoso de guerra foi encomendada ao Senhor pela Igreja Autocéfala da Ucrânia, entidade responsável pelas doutrina e liturgia de uma religião de Estado assente nos mitos nacionalistas integrais, enquanto os esbirros do regime destroem templos e perseguem politicamente os dignitários da Igreja Cristã Ortodoxa, a mais seguida pelos ucranianos religiosos, com o senão de ter sede em Moscovo. A urna do SS Vaskoul foi coberta com a bandeira da Ucrânia. É a um sociopata capaz de gestos doentios como estes, cujo conhecimento está bem à disposição de quem tem espírito livre para avaliar todos os ângulos de causas, efeitos e comportamentos, que o venerando chefe de Estado de Portugal, recuando para a obscenidade de atitudes próprias do seu antecessor Thomaz, decidiu entregar a Ordem da Liberdade. Uma consagração da qual não são dignos, segundo os critérios de Belém, tantos dos corajosos militares que fizeram o 25 de Abril. Não bastava o inqualificável Zelensky ter perorado em S. Bento em pleno período das comemorações do 25 de Abril, aliás para insultar este mesmo movimento libertador comparando-o ao golpe fascista de Maidan. Agora, o chefe de Estado oferece a própria insígnia da Liberdade a uma figura à medida dos negros tempos portugueses em que, a exemplo da Ucrânia de hoje, os partidos políticos de oposição eram proibidos, os antifascistas penavam na cadeia ou eram assassinados, livros eram impublicáveis, retirados de circulação ou destruídos, os meios de comunicação censurados, sujeitos a uma programação única, jornalistas presos; e a PIDE, inspirada e treinadas pela Gestapo nos alvores da sua existência, revive hoje na SBU ucraniana, que tem iguais mestres e metodologias. Que país é este em que 48 anos depois do 25 de Abril qualquer opinião que não coincida com a doutrina oficial e ouse dizer de Zelensky aquilo que realmente é traduz um apoio ao autocrata Putin? Vamos ver se nos entendemos. Sem meias palavras, sem reticências, sem redundâncias nem floreados. Exactamente 48 anos depois da Revolução de 25 de Abril de 1974, que derrotou o fascismo em Portugal, a Assembleia da República, dita «a casa da democracia», decidiu convidar para discursar o chefe nominal de um aparelho de poder nazi. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, não é um democrata. Foi designado em eleições não democráticas uma vez que parte significativa do eleitorado não teve condições para votar devido à guerra imposta pelo regime do mesmo Zelensky em várias regiões do país. O regime de Kiev é suportado por um aparelho político, policial e militar nazi inspirado no nacionalismo integralista ucraniano nascido na segunda década do século passado e do qual os herdeiros, em pleno auge do expansionismo hitleriano, colaboraram com as tropas e as SS alemãs em chacinas de milhares de polacos, judeus e cidadãos soviéticos – ucranianos e russos. Stepan Bandera, um dos colaboracionistas hitlerianos mais carismáticos dos anos quarenta, é hoje o «herói nacional» da Ucrânia de Zelensky e a figura de referência dos grupos políticos, militares e dos esquadrões da morte que sustentam o regime. «O regime de Kiev é suportado por um aparelho político, policial e militar nazi inspirado no nacionalismo integralista ucraniano nascido na segunda década do século passado e do qual os herdeiros, em pleno auge do expansionismo hitleriano, colaboraram com as tropas e as SS alemãs» O regime dirigido por Volodymyr Zelensky proibiu o Partido Comunista da Ucrânia. Já depois disso interditou mais 11 partidos. Aleksander e Mikhail Kononovich, dirigentes da União da Juventude Comunista Leninista (organização proibida) estão presos às ordens da polícia política (SBU) e há notícias de terem sido torturados. Denis Kirev, membro da delegação ucraniana às negociações em curso com a Rússia, foi assassinado numa rua de Kiev pela polícia política depois de ter sido designado como «suspeito de traição». Recentemente foi a vez de Viktor Medvedchuk, um dos dirigentes do partido de oposição Plataforma de Oposição – Pela Vida, com a prisão do qual Zelensky atingiu o grau da ignomínia, propondo entregar à Rússia o seu adversário, um cidadão ucraniano, em troca de compatriotas seus feitos prisioneiros pelos russos. O actual chefe da contra-espionagem do SBU, Oleksandr Poklad, nomeado por Zelensky em 2021, conhecido por «Estrangulador» devido à sua forma favorita de torturar prisioneiros, é uma personagem comprovadamente ligada ao crime organizado, aos vários grupos nazis que orbitam na presidência, e acusado de execuções extrajudiciais. Foi condecorado por Zelensky com a «Ordem da Coragem». O presidente ucraniano também agraciou recentemente, em pleno Parlamento de Kiev, o comandante do Batalhão nazi Azov, um corpo integrado na Guarda Nacional, que compareceu ao acto envergando farda de combate. Entre as mais recentes nomeações de Zelensky destaca-se a de Dmitry Yarosh, fundador e dirigente de organizações nazis, designadamente o Sector de Direita, como conselheiro do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Valerii Zalushnyi. A 1 de Março passado o presidente ucraniano substituiu o governador regional de Odessa por Maksym Marchenko, um ex-comandante do neonazi Batalhão Aidar que está acusado de crimes de guerra cometidos na região do Donbass. Sobre a relação do regime de Zelensky com a democracia, a população do país e as opiniões divergentes pode ler-se num Relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos: «O ACNUDH documentou alegações de desaparecimentos forçados, detenções arbitrárias e incomunicáveis, tortura e maus-tratos perpetrados com impunidade por polícias ucranianos, principalmente por elementos do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU).» Também um relatório publicado pelo Departamento de Estado norte-americano reconhece o seguinte: «A ONU observou deficiências significativas nas investigações sobre abusos de direitos humanos cometidos pelas forças de segurança do governo […] em alegações de tortura, desaparecimentos forçados, detenção arbitrária e outros abusos supostamente perpetrados pelo Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU).» Ou ainda, segundo o mesmo relatório: «Nenhuma justiça, verdade ou reparação foi alcançada para qualquer uma das vítimas de desaparecimento forçado, detenção secreta e tortura de civis pelo Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) e nenhum suspeito foi processado». Descrições que fazem lembrar singularmente as práticas de Pinochet e de outros regimes afins. Os quais, ainda que com algum pudor, são qualificados como fascistas pela generalidade dos poderes ocidentais. O nacionalismo ucraniano, de que Volodymyr Zelensky é presentemente o representante nominal máximo, assenta ideologicamente no conceito de «nação pura» defendido pelo integralismo fundador e reproduzido actualmente na obra de Andryi Biletsky, fundador do Batalhão Azov, sobre a necessidade de uma «cruzada branca», no imediato contra os «negros da neve», uma das designações usadas para os ucranianos de origem russa. As suas ideias servem de base doutrinadora nos acampamentos da juventude organizados por entidades governamentais e nos quais se ministra treino militar às crianças. As marchas com tochas organizadas regularmente em Kiev e Lvov para homenagear a memória do nazi e «herói nacional» Stepan Bandera, com numerosas estátuas e nomes de avenidas em todo o país, fazem-se ao som de gritos de «enforquem os russos», «morte aos russos». O domínio nazi sobre o aparelho governamental de Zelensky é minimizado, branqueado ou mesmo ridicularizado pelas castas dirigentes dos Estados Unidos e da União Europeia, que assim se tornam cúmplices das suas acções. O nazismo ucraniano não é branqueável, não deixa de existir por não ser noticiado e não se torna inofensivo por assim ser tratado pela propaganda de guerra. Nem se torna democrático pelo facto de as suas organizações e grupos de extermínio serem treinados por instrutores de países da NATO e armados por governos de países da NATO, incluindo Portugal, situação que já não é possível negar. Dar foco a esta realidade é uma atitude qualificada em tempos de censura, opinião única e coacção ideológica como um apoio às práticas criminosas do regime russo chefiado por Vladimir Putin. Trata-se de uma das mais sujas e intelectualmente desonestas manobras de propaganda de guerra e de instrumentalização das populações norte-americana e europeias no interesse do globalismo neoliberal e do seu sector de ponta – a produção e tráfico de material de guerra. Sejamos mais uma vez claros e sem rodeios. O drama da guerra na Ucrânia iniciou-se em Abril de 2014, quando o regime de suporte nazi instalado pelos Estados Unidos e a União Europeia em Kiev lançou o assalto militar e de limpeza étnica contra o Leste do país, habitado maioritariamente por populações de origem russa. A invasão russa da Ucrânia, iniciada oito anos depois, é uma nova fase da guerra, alegadamente para proteger essas populações na iminência de um novo assalto de Kiev. Moscovo afirma que se trata de uma operação inspirada no conceito R2P, Responsability to Protect (Responsabilidade de Proteger), criado para justificar guerras lançadas pela NATO, designadamente na ex-Jugoslávia e na Líbia. «Sejamos mais uma vez claros e sem rodeios. O drama da guerra na Ucrânia iniciou-se em Abril de 2014, quando o regime de suporte nazi instalado pelos Estados Unidos e a União Europeia em Kiev lançou o assalto militar e de limpeza étnica contra o Leste do país, habitado maioritariamente por populações de origem russa» Não, escrever o que ficou escrito não significa «estar do lado» da Rússia. A invasão russa é criminosa. Viola o Direito Internacional. Torna as populações civis inocentes de toda a Ucrânia – e não desta ou daquela região – reféns de interesses oligárquicos, ocidentais e orientais, que tiram proveito da guerra. Vladimir Putin chefia uma corte de oligarcas. Não é um democrata, manipula eleições; é um político nacionalista, um autoritário de extrema-direita, anticomunista e antissocialista que tem vindo a ganhar peso reactivando raízes tradicionalistas e ideologicamente reaccionárias da Rússia profunda. Putin e o seu regime estão fechados aos direitos das minorias, às acções e lutas que derrubam velhos tabus sociais, culturais e de género; o Kremlin recria uma mentalidade czarista com suporte numa economia neoliberal instalada por assessores e conselheiros norte-americanos que rodearam o presidente Ieltsin logo a seguir à extinção da União Soviética. Foi a época do saque e da rapina do aparelho soviético – que afinal não parecia ser tão «obsoleto» como diziam – da qual a Rússia ainda está longe de se recuperar e que deixou a esmagadora maioria da população à mercê dos interesses da casta oligárquica estrangeirada que efectivamente criou Putin. Putin é um senhor da guerra. Biden, Stoltenberg, Von der Leyen serão senhores e senhora da paz? E Borrell, chefe da política externa da União Europeia, para quem a guerra só tem solução militar? Apoia soluções negociadas como boicotou os Acordos de Minsk? Este quadro não faz de Zelensky um democrata nem iliba o seu regime das responsabilidades pela guerra no Leste do país, da limpeza étnica, da xenofobia contra as populações russófonas, de ser um instrumento de um sistema nazi inerente às raízes nacionalistas ucranianas. Zelensky é um produto da oligarquia ucraniana que tomou conta da independência do país. Comediante de origem, é um político formado na ficção televisionada, uma criação do oligarca e banqueiro nazi Ihor Kolomoysky, que por sinal tem igualmente nacionalidade israelita o que demonstra como o mundo dá muitas voltas e os interesses pessoais e de casta são maleáveis. A situação na Rússia também não serve de argumento sustentável para que a NATO, ao longo dos anos, tenha cercado o país com tropas e moderno material de guerra através de sucessivas operações ofensivas apresentadas, como habitualmente, sob chancela «defensiva». A mesma NATO que nos últimos dias da União Soviética prometeu a Gorbatchov que não iria expandir-se para oriente da linha Oder-Neisse e que depois disso engoliu quase todos os países até às fronteiras ocidentais russas. Uma das excepções foi a Ucrânia – o busílis da questão, como sabemos. Outros estão na calha, reforçando as provocações e ameaças atlantistas, a confirmarem-se os próximos pedidos de adesão da Suécia e da Finlândia. A criação deste cenário não augurava e não augura nada de bom. Para já, as vítimas são os ucranianos, sejam quais foram as suas origens nacionais, com os quais nem as oligarquias russas nem ocidentais se incomodam, a não ser como peças de uma propaganda suja, desumana e orwellianamente manipuladora. Por este andar, se as forças da paz de todo o mundo, mas principalmente da Rússia e da Europa, não travarem uma tão insana vertigem de irresponsabilidade, as próximas vítimas seremos todos nós. É neste contexto que a Assembleia da República decide receber o instrumento do nazismo na presidência da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Precisamente 48 anos depois do 25 de Abril a «casa da democracia» assinala a queda do fascismo com um convidado oriundo das sombras do nazismo. Em que país estamos? O que se passa pela cabeça dos deputados? Zelensky traz mensagens de democracia e liberdades enquanto o seu regime autocrata e xenófobo persegue, tortura, assassina e faz desaparecer cidadãos – o que acontece desde que foi implantado e nada tem a ver com a agressão russa? O regime de Kiev é o que é, uma aberração da democracia, características inerentes e ancestrais que são independentes da invasão russa em curso. «Acolher num Parlamento eleito o enviado de um nacionalismo nazi é um atentado à democracia em qualquer época. Fazê-lo no período de comemorações de uma revolução libertadora é uma traição ao 25 de Abril e aos militares que o tornaram possível, uma ofensa aos democratas, um insulto a todos quantos se bateram, sofreram e deram a vida pela derrota do fascismo» Em recente presença no Parlamento grego, o mesmo Volodymyr Zelensky deu voz a dois nazis do Batalhão Azov para elogiarem organizações fascistas e terroristas da História da Grécia. E agora? Teremos outros convidados do presidente ucraniano elogiando a Pide e a Legião Portuguesa na Assembleia da República? Que país é este em que 48 anos depois do 25 de Abril qualquer opinião que não coincida com a doutrina oficial e ouse dizer de Zelensky aquilo que realmente é traduz um apoio ao autocrata Putin? As chamadas «democracias liberais» são historicamente complacentes com o fascismo e acabam por sofrer às mãos da besta, como Bertold Brecht bem lembrou. A democracia portuguesa, porém, tem – ou deveria ter – raízes mais profundas uma vez que nasceu de lutas constantes e de um levantamento heróico precisamente contra o fascismo. Acolher num Parlamento eleito o enviado de um nacionalismo nazi é um atentado à democracia em qualquer época. Fazê-lo no período de comemorações de uma revolução libertadora é uma traição ao 25 de Abril e aos militares que o tornaram possível, uma ofensa aos democratas, um insulto a todos quantos se bateram, sofreram e deram a vida pela derrota do fascismo. Há uma particularidade da situação tão ou mais abjecta que esta. A chamada «classe política» e a comunicação social corporativa escolhem como alvos privilegiados da sua propaganda ao serviço do regime de Kiev os deputados e o partido, o PCP, que mostram como o rei vai nu, defendem as soluções de paz de maneira consequente e decidiram não prestar vassalagem ao convidado nazi. Parece ser esse, afinal, um pecado contra a democracia – tal é o ponto a que propaganda consegue chegar para inverter a realidade. Certamente a «classe política» e a mesma comunicação domesticada deve achar natural que a embaixadora de um aparelho nazi reúna alguns capangas, indivíduos estrangeiros acolhidos de boa-fé, para provocar, desrespeitar, insultar e ameaçar nas ruas de Portugal o partido português que mais se tem batido contra o fascismo, ontem como hoje. Afinal em que país estamos? Em nome da dignidade, do patriotismo, da democracia e do 25 de Abril os portugueses não podem permitir que uma situação como esta se mantenha. É hora de afirmar, sem peias nem hesitações, que há limites para a subserviência, para a mentira, para as ingerências, os abusos de confiança, as manobras que pretendem identificar a verdadeira luta pela paz, a autêntica denúncia da guerra, independentemente de quem a provoca, com o apoio às campanhas criminosas de Putin. Entre a Rússia e a Ucrânia escolhe-se a paz: não há outro caminho. Já é altura de mobilizar esforços para combater de maneira afirmativa, desassombrada e eficaz a cortina de ferro da propaganda de guerra e da instrumentalização de opiniões. O silêncio, o conformismo e a inacção dos portugueses perante a sucessão de aberrações que estamos a viver são fatais para a democracia. José Goulão, AbrilAbril Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Com esta decisão anunciada, o Chefe de Estado insulta o 25 de Abril, agride os portugueses, humilha os antifascistas. Sabemos que o homem «dos afectos», com a veia populista entranhada de uma maneira indisfarçável por qualquer manobra de imagem e marketing, não nutre carinho especial pelo movimento libertador de há quase 50 anos. Confirma-se por estes dias aquilo de que fortemente se suspeitava: Marcelo não era um corpo estranho no reino de Marcello; afinal a «democracia orgânica» do padrinho confunde-se, através do afilhado e da classe política novembrista, com a «democracia liberal» em que vegetamos. Será que o processo de hipnotização da sociedade está tão arreigado e capaz de permitir que passe em claro e sem resposta este gesto presidencial autocrático, aberrante e anacrónico? Já depois de iniciada a acção militar russa na Ucrânia tendo como um dos objectivos proclamados pelo presidente russo, Vladimir Putin, a «desnazificação» deste país, em 22 de Abril de 2022 o caçador de nazis e director do Centro hebraico Simon Wiesenthal para investigação do nazismo, Ephraim Zuraff, declarou: a intenção declarada por Moscovo «não é propaganda russa, longe disso; existem neonazis na Ucrânia (…) é um absurdo ignorá-lo». Os dirigentes ocidentais, incapazes de viver sem a arrogância elitista, o espírito autoritário de seita globalista e a cleptomania colonial/imperial não poupam armas, dinheiro, mentiras e a sanidade mental dos cidadãos para apoiar e sustentar um indivíduo como Volodymir Zelensky e a teia terrorista neonazi que lhe mexe os cordelinhos. É sina das chamadas democracias liberais abrirem as portas ao nazismo, ontem como hoje, sem medirem as consequências, convictas de que outros podem alcançar o que tanto desejam: aniquilar a União Soviética através dos nazis alemães; destruir a Rússia por via dos nazis ucranianos. É sina dos povos sofrerem as trágicas consequências de tamanho obscurantismo, de tanta inconsciência e irresponsabilidade ao serviço da ganância de minorias que nunca estarão satisfeitas. Ganância confundida, como sintoma da degeneração dos comportamentos ocidentais dominantes, com «uma forma superior de civilização». Desta feita, porém, essas minorias põem em risco a existência da humanidade e do próprio planeta. E desmantelam qualquer legitimidade «democrática». O que aliás está implícito no comportamento da não eleita e autocrática Comissão Europeia, seguido pelos governos dos Estados membros, de Leste a Oeste. A clique ocidental apura os veículos censórios ao seu dispor – são muitos e sofisticados – para impedir que as pessoas se apercebam do perigo do nazismo ucraniano. Impôs o dogma de que ele não existe e que, por isso, não vemos aquilo que estamos a ver. É a cegueira induzida como um dos sustentáculos da opinião única e um meio de asfixiar a liberdade de observar, pensar e formar juízo próprio. É o autoritarismo avançando ao ritmo da aposta transnacional no fascismo/nazismo, o mundo ideal e totalitário da plenitude neoliberal. As chamadas crises da inflação e energética são apenas danos colaterais no caminho para uma tragédia que está apenas no início e que os cidadãos ainda podem barrar – se acordarem a tempo ou conseguirem sacudir a cegueira em que, passivamente, aceitaram mergulhar. «Livres são aqueles que pensam, não aqueles que obedecem», ensinou-nos o eterno Eduardo Galeano. «A clique ocidental apura os veículos censórios ao seu dispor – são muitos e sofisticados – para impedir que as pessoas se apercebam do perigo do nazismo ucraniano. Impôs o dogma de que ele não existe e que, por isso, não vemos aquilo que estamos a ver.» Afinal, Zelensky é apenas um palhaço rico canastrão que tem como pièce de résistance da sua arte o número de tocar piano com os genitais. Os verdadeiros criminosos são os que fazem dele um herói e atacam os seus próprios povos para o instrumentalizar e manterem uma ordem que lhes permite continuarem a assaltar o mundo. Há sinais de que a garotice birrenta, sempre reivindicativa, insatisfeita e exigente do presidente ucraniano, letal para o seu povo, começa a impacientar e constranger os seus donos, até mesmo em Washington, ao ritmo dos maus resultados militares para a NATO e da crise que revolta cada vez mais as populações. O ambiente de velório em que decorreu a recente cimeira do Fórum Económico Mundial de Davos foi um indício revelador. Mas não existem quaisquer sinais de correcção da rota suicida. Com as contradições de governantes venais perante Zelensky podem os cidadãos bem; os autocratas que tentam sequestrar a democracia talvez estejam a pressentir, sem o assumirem, o fracasso da estratégia de guerra – a guerra nunca é solução, asseguram, com razão, os defensores da paz, tão vilipendiados mas que teimam, continuarão a teimar e nunca desistem. Importantes, sim, são as reacções dos povos da Europa, que começam a sair do imobilismo autodestrutivo. É um passo importante, cada vez mais determinante, e que pode ser decisivo para derrotar o nazifascismo uma vez mais. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. A soberania, entendida como um pecado capital nos cerca dos 15% do mundo que ainda considera ter o privilégio de ditar o que é «civilização» e «democracia», desencadeando guerras para que isso se consume, nem que seja apoiando regimes antidemocráticos, ou mesmo nazis, começa, por outro lado, a afirmar-se como ponto de partida e base de sobrevivência, desenvolvimento e dignidade no resto do mundo. Soberania, em suma, foi eleita no chamado Sul Global como inimiga do império, do colonialismo e do globalismo. Como lamentou o presidente da Assembleia da República, Santos Silva, colocando a voz em tons melodramáticos, «eles querem criar uma nova ordem internacional». O que é verdade. Uma ordem internacional assente na igualdade entre Estados soberanos, com os mesmos direitos e deveres, restaurando-se assim o direito internacional, está a surgir como alternativa à «ordem internacional baseada em regras» (que ninguém é capaz de citar porque são emanadas casuisticamente de Washington), um sistema de supremacia unipolar, imperialista, colonialista, globalista que sequestrou as normas internacionalmente aceites e as organizações responsáveis pela sua aplicação, a ONU acima de todas elas. Observamos dramaticamente, nos tempos em curso, que os próceres da velha ordem «baseada em regras», sentindo-se em situação de perda e, por isso, em desespero, não nos deram ainda uma ideia concreta de até aonde estão dispostos a ir para que o seu poder prevaleça numa rota imutável em direcção ao absolutismo globalista, ao governo mundial único que, apresentado como o suprassumo da «democracia», reinará sobre cidadãos sem qualquer poder, manipulados, zombificados e que «nada terão mas nunca foram tão felizes», como sentencia o Fórum Económico Mundial (Davos). Estarão esses transtornados mentores dispostos a ir até à solução final, à extinção da vida humana no planeta, movidos pela ideia fixa e louca de que ou a nossa ordem resiste ou não haverá qualquer outra? «Soberania, em suma, foi eleita no chamado Sul Global como inimiga do império, do colonialismo e do globalismo. Como lamentou o presidente da Assembleia da República, Santos Silva, colocando a voz em tons melodramáticos, "eles querem criar uma nova ordem internacional".» Ora, o Fórum Económico Mundial é o templo da religião mundial do globalismo e do poder absoluto do dinheiro, obviamente o dólar, instrumento essencial das congeminações conspirativas e dos programas ditados pelo Grupo de Bilderberg, pela Comissão Trilateral, sua congénere, e afins. A propósito, todos os primeiros-ministros de Portugal passaram pelo curso de doutrinação de Bilderberg em matéria de abolição da soberania, entre outras; só faltou Passos Coelho, certamente por já ter a escola toda. A plêiade de proprietários putativos do mundo, por delegação divina, orienta-se pela profética sentença de Zbigniew Brzezinski, o polaco que serviu de grande conselheiro no coração do império, segundo a qual «quem dominar a Ucrânia governa a Eurásia» – e o planeta, por acréscimo. Daí que a Ucrânia (significando exactamente «fronteira») seja essencial à velha ordem e às «regras» imperiais para desmantelar a Rússia e a seguir tentar ferir de morte a China, os dois principais pilares de uma nova ordem multipolar em crescimento, assente em Estados soberanos e em organizações transnacionais igualitárias substituindo, mas com um espírito de cooperação e em condições mutuamente vantajosas, as entidades sequestradas pelo império. Por exemplo, o FMI e o Banco Mundial, mais as suas exigências tóxicas. E, por arrastamento, cancelando o papel do dólar como moeda mundial de comércio, o que já está a acontecer – movimento que tanto dói, e mais irá doer, às economias ocidentais, assentes em especulação e não em produção. O pateta que a RTP encarregou de entrevistar o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov, manifestou reservas quanto à possibilidade de o cerco da NATO à Rússia e a colonização militarizada da Ucrânia pela aliança serem uma ameaça existencial contra a Federação Russa. Poucas horas depois de o pobre homem expor tão desajeitadamente a sua síndrome de opinião única, realizou-se na Polónia uma conferência internacional dedicada exactamente às maneiras de desmantelar a Rússia, condição considerada indispensável para que a velha ordem de regras imperiais prevaleça. Desde a primeira grande machadada no 25 de Abril, em 25 de Novembro de 1975, Portugal empreendeu o caminho de regresso ao seio do feudalismo norte-americano, na sua vertente colonial europeia. Tratou-se, sob o pretexto de assegurar o honroso acolhimento no virtuoso mundo Ocidental, civilizado e democrático, de amarrar definitivamente o país à hoje chamada «democracia liberal», variante corrupta da genuína democracia, livrando-o assim da «ameaça do comunismo» e de outras maleitas susceptíveis de reflectir a vontade soberana do povo e garantir a sua participação nas decisões nacionais, as que verdadeiramente lhe dizem respeito. Cumpriram-se assim os desígnios que o já citado dr. Soares e o seu confrade Frank Carlucci, embaixador norte-americano em tirocínio para a chefia da CIA, começaram a concretizar com a liquidação da vertente popular do 25 de Abril, organizando, na Alameda Afonso Henriques, o comício que pode considerar-se a primeira de todas as «revoluções coloridas» para mudança de regime, culminada com o golpe de Estado de 25 de Novembro de 1975; e prosseguindo o processo com a supressão gradual da soberania nacional através, por um lado, de uma frente política transnacional; e, por outro, executando nos bastidores as determinações da NATO, designadamente através da sua milícia clandestina e terrorista designada Gladio. «Desde a primeira grande machadada no 25 de Abril, em 25 de Novembro de 1975, Portugal empreendeu o caminho de regresso ao seio do feudalismo norte-americano, na sua vertente colonial europeia.» Um esquema explicado em 1990, em pormenor, pelo veterano político e primeiro-ministro italiano, Giulio Andreotti, que, como um dos artífices da conspiração atlantista permanente, sabia muito bem do que falava, incluindo o assassínio, em 1977, do primeiro-ministro Aldo Moro. Assim executado por ter dado ao Partido Comunista Italiano, então o mais votado, a oportunidade democrática de entrar na maioria de apoio ao governo de Roma. Como já acontecera a Salvador Allende no Chile, em Setembro de 1973, eles não hesitam em matar. Depois, Portugal foi perdendo o que dele restava em soberania, dignidade e na possibilidade de construir um futuro independente, não «orgulhosamente só», como dizia o outro, mas respeitando a Constituição da República, em cooperação construtiva, mutuamente vantajosa e livre com todas as nações do mundo – verdadeiramente iguais e não umas mais iguais do que as outras, como estipula a «ordem internacional baseada em regras». E sem soberania não existem democracia autêntica e liberdade. A não ser no discurso oficial carregado de mentiras. O país passou então pela entrada na CEE/UE sem consulta popular, pelos tratados federalistas de Maastricht e de Lisboa, o fim da moeda nacional com submissão ao marco/dólar sob a designação de «euro», a anexação asfixiante pelo Banco Central Europeu, que ninguém elege, tal como a Comissão Europeia e outros centros do poder financeiro imperialista; sem esquecer as adendas coloniais de aplicação prática quase surda como o «semestre europeu», a humilhação permanente pela troika – entidade que nunca acabou, como é perceptível pela obsessão governamental com a dívida, o ataque constante aos salários e às pensões dos portugueses; e, principalmente, a submissão obrigatória de um documento fundamental para a vida do povo e a independência nacional, o Orçamento do Estado, a buro-tecnocratas sombrios e sem rosto, padecendo de sociopatia e um desprezo ostensivo pelos seres humanos, aos quais cabe a última palavra. Cumprindo-se assim mais um ritual «democrático» e federalista. «Sem soberania não existem democracia autêntica e liberdade. A não ser no discurso oficial carregado de mentiras.» Autoridades portuguesas como o venerando chefe de Estado e um primeiro-ministro que ressuscitou a velha figura do vendedor de banha de cobra, queixam-se agora das arremetidas cruéis da fascistóide corrupta Lagarde e do Banco Central Europeu contra os salários, pensões e outros direitos sociais dos portugueses. Estranha reacção esta por parte de responsáveis directos pela situação de que agora se queixam ao submeter, por sistema inatacável, a vida dos portugueses aos caprichos desumanos de uma minoria de crápulas financeiros globalistas e apátridas. Tarde piaste. As lamúrias encenadas para efeitos de propaganda e de desresponsabilização desonesta são ainda mais ridículas no cenário desconchavado em que o governo envia para a sucata e, com grande probabilidade, para as contas offshore dos nazis que chefiam nominalmente a Ucrânia, meios que Portugal tem e não tem, enquanto condena os portugueses a uma existência cada vez menos digna. Assim desembocou a República Portuguesa numa realidade à medida dos seus dirigentes, mas humilhante para o seu povo: sem qualquer soberania, fazendo figuras tristes entre os «parceiros» devido ao alinhamento entusiástico com tudo o que é guerra imperial e colonial e extorsão internacional (espezinhando o 25 de Abril e a Constituição); sem dignidade e consumando o abandono de uma perspectiva de futuro onde fosse possível governar a favor e em defesa da vida dos portugueses. «As lamúrias encenadas para efeitos de propaganda e de desresponsabilização desonesta são ainda mais ridículas no cenário desconchavado em que o governo envia para a sucata e, com grande probabilidade, para as contas offshore dos nazis que chefiam nominalmente a Ucrânia, meios que Portugal tem e não tem, enquanto condena os portugueses a uma existência cada vez menos digna.» Numa manobra que é das mais desonestas e irresponsáveis de todas, a classe política e os dirigentes em funções acusam os defensores da soberania nacional de serem «nacionalistas» e «populistas». Nacionalismo é o oposto de soberania. É a afirmação cega e propagandística de mitos, supostos feitos e grandezas de um povo que lhe dão direito a considerar-se superior aos outros e a agir em conformidade, não descartando a violência, o assassínio e a guerra – um povo eleito, santificado por um sopro divino. Tal como se comporta a junta golpista ucraniana, que aliás muitos dirigentes ocidentais qualificam adequadamente como nacionalista, ultranacionalista e nazi mas perante a qual o governo português está em êxtase. Populismo é o estado supremo da demagogia política e do nacionalismo. É a tentativa de arrastar os seres humanos, como um imenso rebanho, para práticas que os violentam com base no primarismo das mensagens e pela exploração propagandística das dificuldades da vida quotidiana, de modo a que elas se eternizem em benefício dos de sempre. O populismo, mais ou menos polido, que se percebe sim no discurso de dirigentes portugueses, pode desembocar na antecâmara do fascismo, como os próprios sabem ou deveriam saber. Os portugueses têm de lutar pela soberania nacional, isto é, pela democracia e pela liberdade. Na verdade, como um primeiro e decisivo passo, os povos europeus não têm de salvar a União Europeia; têm de salvar-se da União Europeia. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Há centenas de milhões de euros e dólares nos cofres governamentais para dar ao nazi Zelenski ou investir nas «jornadas da juventude», mas os salários e pensões aumentam míseros soldos que nem sequer fazem comichão à inflação. Os trabalhadores deixaram de o ser, promovidos a «colaboradores», espécie de voluntários empenhados na expansão e riqueza da comunidade empresarial, de braço dado com os patrões mas sem horário, família e vida própria, devotados à nobre causa patronal em troca de esmolas concedidas por boa vontade, à qual é devida gratidão e obediência. As misérias dos casos TAP, Espírito Santo, Sócrates, as traficâncias nos processos de privatização, as falências bancárias fraudulentas, as riquezas instantâneas aceites como milagres ou «jeito para os negócios», os contratos públicos por ajuste directo estabelecidos com amigos, compadres e parentes, as gigantescas burlas contra os consumidores permitidas aos oligarcas do comércio alimentar, as grandes colecções privadas de arte com origens misteriosas mas patrocinadas e «mecenarizadas» pelo Estado, os testas de ferro de membros do governo e os membros do governo servindo de testas de ferro e muitos outros fenómenos afins são o espelho da vida real no interior da bolha tóxica da classe política. «Há assentos na classe política que são transmissíveis de geração em geração dentro da mesma família, mesmo que o rótulo político seja diferente. As transferências dentro da mistela partidária processam-se consoante o sentido de oportunidade e de previsão de cada qual quanto a cargos ambicionados quer no governo ou nas estruturas do aparelho de Estado, agora usado, para todos os efeitos, como se fosse um modesto balcão criado para servir e financiar a soberana iniciativa privada» As sessões de inquérito das comissões parlamentares conduzem-nos a mundos do absurdo, ao universo assombroso dos súbitos surtos de imbecilidade e amnésia, dos silêncios fantasmagóricos, da mediocridade cavalgando através dos atalhos sombrios de uma classe política onde se preza a «transparência» como nenhum outro bem. E nada acontece neste filme de vampiros, nada tem consequências, a verdade parece mentira e a mentira transforma-se em verdade; a comunicação social explica tudo e o seu contrário desde que a mensagem seja a mais soporífera possível para manter o «povo sereno» – tudo está bem, «vai correr tudo bem». Na classe política uma mão lava a outra, há cargos reservados para quem os há-de merecer em função de sujeiras e falcatruas, a ética é uma parvoíce e os princípios uma estúpida inutilidade. Nos cenários parlamentares e nos palcos mediáticos assistimos a intensos debates, acesas linhas divergentes de argumentação, por vezes não falta o insulto sibilante, a ameaça insidiosa sobre podres que poderão surgir à luz do dia; há berros, juras, murros na mesa, zangas para sempre, parece que se discute o futuro do país quando afinal estas cabecinhas inquinadas de quem afirma representar-nos sabem muito bem o que querem dele, de preferência já hoje ou amanhã para somar às bem-aventuranças de ontem. É a grande farra da impunidade. Uma vez encerrados os tempos regimentais para que se cumpram as tarefas da classe política tudo volta a ser como se nada tivesse acontecido. Inimigos irreconciliáveis dos dois ou mais partidos «rivais» confraternizam poucas horas depois nas penumbras de seitas mais ou menos secretas, ou ajustando aventais ou sangrando na heroicidade masoquista do cilício; outros que ameaçaram esmurrar-se sob as bandeiras dos respectivos partidos irão reencontrar-se na reunião do Conselho de Administração do banco outrora público ou da lustrosa empresa privada que há pouco o Estado subsidiou, cargos que partilham fraternalmente por mútua nomeação partidária e com recompensas financeiras bastante agradáveis; há também os que irão comungar ombro-a-ombro na eucaristia dominical, ou partilhar os greens de «gólf» e depois, quiçá, rever-se pela noite fora usufruindo dos calores de virtuosas festas privadas; alguns degustarão iguarias e paladares vinícolas raros no camarote privado comum onde assistem aos jogos do seu clube. As cadeiras do conselho de administração da CGD têm sido ocupadas por ex-governantes, dirigentes, militantes e gente ligada ao PSD, ao PS e ao CDS-PP, numa rotação em que o interesse nacional é submetido a interesses partidários e ao poder económico. A polémica que envolve a actual composição do conselho de administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD) esconde uma realidade: os cargos na gestão do banco público serviram para distribuir lugares de acordo com prioridades que nada têm a ver com os interesses da CGD. Recuámos a 1989, à época da privatização da banca, da criação da União Económica e Monetária e das maiorias absolutas do PSD, com Cavaco Silva como primeiro ministro. Analisámos os dez mandatos que cobrem o período entre 1989 e 2015 e os números são claros: a passagem de ex-governantes, militantes, dirigentes e gente próxima do PSD, do PS e, a partir de 2004, do CDS tem sido regra na gestão da Caixa. Mas uma análise caso a caso mostra outra realidade: a promiscuidade alastra-se ao regulador – o Banco de Portugal – e à banca privada. O que têm em comum Vieira Monteiro, Mira Amaral, Carlos Santos Ferreira, Tomás Correia e Jorge Tomé? Todos eles foram presidir a bancos privados depois de saíram da Caixa. Na verdade, os três primeiros ainda estão à frente do Santander Totta, do BIC, e do BCP, respectivamente. Os conselhos de administração da Caixa Geral de Depósitos foram, ao longo dos últimos anos, território ocupado por gente próxima do poder político e económico, que muitas vezes se confundem. Na verdade, a actual composição dos órgãos sociais da Caixa não mostram qualquer ruptura com este passado, pelo contrário. Paulo Mota Pinto, ex-deputado e dirigente do PSD, preside à Assembleia Geral. Rui Vilar, o primeiro presidente do período que abordamos, é vice-presidente do conselho de administração. O presidente, António Domingues, e metade da comissão executiva vieram directamente do BPI para o banco público. O primeiro mandato de Rui Vilar é também o primeiro em que se impõe o acordo entre o PS e o PSD de divisão das presidências da Caixa e do Banco de Portugal. É o próprio que assume. São os anos em que o governo de Cavaco Silva promove privatizações, nomeadamente no sector financeiro. É neste período que o BPI adquire o Fonsecas & Burnay, metade do Totta & Açores vai para os espanhóis da Banesto e o grupo Mello recupera o seu banco. Presidente PS Integrou os primeiros governos provisórios, após o 25 de Abril, sendo eleito deputado pelo Partido Socialista e nomeado ministro dos Transportes e Comunicação do primeiro governo de Mário Soares. Foi vice-governador do Banco de Portugal (1978-1985) e presidente do Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa (1985). Depois da passagem pela CGD, presidiu à Galp (2001-2002), à Fundação Calouste Gulbenkian (2002-2012) e à REN (2012-2014). Vice-Presidente Vogal Vogal Vogal PSD Integrou a direcção do Banco Português do Atlântico (1970-1974), do Crédito Predial Português (1974-1984) e do Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa (1985-1989). É administrador do Santander Totta desde 2000 e presidente da sucursal portuguesa do banco espanhol desde 2012. Vogal Vogal Vogal PSD Sai da CGD para integrar o último de governo de Cavaco Silva, em que assumiu a pasta do Emprego e Segurança Social. Foi deputado até 1999 e secretário-geral do PSD entre 1990 e 1992, cargo em que sucedeu a Dias Loureiro. Vogal Vogal PSD Foi secretário de Estado do Tesouro da primeira maioria absoluta de Cavaco Silva e ministro da Economia de Durão Barroso. Entrou na CGD depois de uma breve passagem pela administração do Banco Português do Atlântico, tendo depois exercido cargos no BCP, no Totta & Açores, no Pinto & Sotto Mayor, no Crédito Predial Português e no Santander. É presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) desde 2005. Vogal 1990: Início da livre circulação de capitais na União Económica Bancária 7 de fevereiro de 1992 é assinado o Tratado de Maastricht. 1 de Junho de 1989 aprovada II Revisão Constitucional, que retira a irreversibilidade das nacionalizações ocorridas após o 25 de Abril de 1974. São privatizados os bancos Espírito Santo, Fonsecas & Burnay, Totta & Açores, Borges & Irmão, Crédito Predial Português. É no início deste mandato que a Caixa passa a ser uma sociedade anónima de capitais integralmente públicos. A divisão partidária da administração da CGD alarga-se aos vice-presidentes, com o PSD de Cavaco Silva a colocar os seus na cúpula do banco. O ano de 1995 é marcado pela recuperação do Pinto & Sotto Mayor por Champalimaud, a que juntaria o Totta e o Crédito Predial Português. Presidente PS Integrou os primeiros governos provisórios, após o 25 de Abril, sendo eleito deputado pelo Partido Socialista e nomeado ministro dos Transportes e Comunicação do primeiro governo de Mário Soares. Foi vice-governador do Banco de Portugal (1978-1985) e presidente do Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa (1985). Depois da passagem pela CGD, presidiu à Galp (2001-2002), à Fundação Calouste Gulbenkian (2002-2012) e à REN (2012-2014). Vice-Presidente PSD Integrou a direcção do Banco Português do Atlântico (1970-1974), do Crédito Predial Português (1974-1984) e do Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa (1985-1989). É administrador do Santander Totta desde 2000 e presidente da sucursal portuguesa do banco espanhol desde 2012. Foi secretário de Estado do Tesouro da primeira maioria absoluta de Cavaco Silva e ministro da Economia de Durão Barroso. Entrou na CGD depois de uma breve passagem pela administração do Banco Português do Atlântico, tendo depois exercido cargos no BCP, no Totta & Açores, no Pinto & Sotto Mayor, no Crédito Predial Português e no Santander. É presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) desde 2005. Vogal Vogal Vogal Vogal Vogal Vogal 25 de junho de 1994 Bloqueio da Ponte 25 de Abril. 1 de Outubro de 1995: PS obtém maioria relativa nas eleições legislativas, pondo fim a 10 anos de maioria absoluta do PSD. Guterres torna-se primeiro-ministro. É privatizado o Banco Português do Atlântico, maior banco comercial português à data. Com a mudança de governo, Rui Vilar impõe o respeito pelo acordo de alternância e dá o lugar a João Salgueiro. As alterações no sector financeiro prosseguem, com a adesão de Portugal ao euro. A Caixa vê-se envolvida na compra do grupo Champalimaud pelos espanhóis do Santander, comprando todo o grupo mas mantendo apenas a seguradora Fidelidade, passando o Totta e o Crédito Predial para o Santander, e o Pinto & Sotto Mayor para o BCP. Presidente PSD A sua primeira passagem pelo governo dá-se durante o regime fascista, como subsecretário de Estado do Planeamento (1969-1971). Foi vice-governador do Banco de Portugal (1974-1975), ministro das Finanças da AD (1981-1983) e deputado do PSD até 1985. Foi presidente da Associação Portuguesa de Bancos e vice-presidente do Conselho Económico e Social. Vice-Presidente PSD Foi ministro do Comércio e Turismo da AD (1981) e vice-governador do Banco de Portugal (1983-1986). Antes de entrar para a CGD foi presidente (1986-1991) e vice-presidente (1992-1996) do Banco Espírito Santo, antes e depois da sua privatização. Integrou a direcção do Banco Português do Atlântico (1970-1974), do Crédito Predial Português (1974-1984) e do Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa (1985-1989). É administrador do Santander Totta desde 2000 e presidente da sucursal portuguesa do banco espanhol desde 2012. Vogal Vogal Vogal Vogal Vogal Vogal PS Depois de uma carreira em que passou por vários cargos de responsabilidade na CGD, transitou para o Montepio Geral, depois de aposentado da Caixa. Chegou à presidência da associação mutualista em 2008, cargo que ainda mantém. Cedeu a presidência da caixa económico no final de 2015. Vogal Vogal PS Foi secretário de Estado da Administração Escolar (1976-1978) e deputado do PS (1983-1985). Integrou a administração do Banco Espírito Santo (1976-1986), foi presidente do Fonsecas & Burnay (1986-1989) e director do Barclays Portugal (1989-1997). Depois de se aposentar da CGD foi presidir à RTP (2002-2007) e à Estradas de portugal (2007-2011), de onde saiu para administrador da construtora Opway, do Grupo Espírito Santo, tendo comprado essa empresa em 2015. Em 1997 é revogada a lei de delimitação de sectores. É fundado o Banco Central Europeu, a 1 de Julho de 1998 10 de Outubro de 1999: o PS é o partido mais votado, mas falha o objectivo da maioria absoluta. Faz um acordo com um deputado do CDS-PP que permite aprovar os Orçamentos do Estado. O novo milénio traz consigo o alastrar da influência do PS e do PSD a todo o Conselho de Administração: passa a ser difícil encontrar um vogal que não tenha perfil partidário. Acabado o longo processo de privatizações na banca, a Caixa passa a ser o único banco público em Portugal. São os anos da chegada ao governo de duas figuras que marcariam, pelas piores razões, mais de uma década em Portugal e na União Europeia: Durão Barroso e Paulo Portas. Presidente PSD Foi secretário de Estado em ambas as maioria absolutas de Cavaco Silva, com várias pastas. Preparou a adesão ao euro como governador do Banco de Portugal (1994-2000). Depois de sair da CGD, integrou a adminsitração da Brisa e European Advisory Board do JP Morgan Chase. Vice-Presidente PS PSD Passou pelo Fonsecas & Burnay no início da década de 1970, de onde saiu para o Gabinete da Área de Sines. Foi secretário de Estado do primeiro governo de Mário Soares (1976-1978) e passou pelo Pinto & Sotto Mayor antes de entrar para a administração da CGD (1984-1989). Foi administrador do Banco de Portugal entre 1996 e o regresso ao banco público. Ministro de todos os governos de Cavaco Silva, foi eleito deputado pelo PSD em 1995. Antes de chegar à Caixa, foi administrador do BPI (1998-2002). Em Setembro de 2002 passa à situação de aposentação, o que não impediu que tenha passado pela EDP, a Unicer, a Cimpor, a Vista Alegre e a Repsol. Foi presidente do BIC, comprador do BPN após a sua nacionalização, entre 2007 e 2016. Vogal Vogal PS Depois de uma carreira em que passou por vários cargos de responsabilidade na CGD, transitou para o Montepio Geral, depois de aposentado da Caixa. Chegou à presidência da associação mutualista em 2008, cargo que ainda mantém. Cedeu a presidência da caixa económico no final de 2015. Vogal PSD É administrador da Galp desde 2012. Dirigiu a Bolsa de Valores de Lisboa (2005-2010) e tem passagens pelos conselhos de administração da Jerónimo Martins e da Brisa. Vogal Vogal PS Vogal PSD Fez carreira no Banco de Portugal antes de ingressar na administração da CGD. Manteve cargos de administração em empresas participadas pelo banco público, nomeadamente no ramo segurador, na banco de investimento e nas sucursais em França e no Luxemburgo até 2011. É, desde então, vice-governador do Banco de Portugal. O euro entra em circulação no primeiro dia de 2002 17 de Março de 2002: o PSD e o CDS-PP elegem a maioria dos deputados à Assembleia da República e formam governo. Durão Barroso é o primeiro-ministro, Paulo Portas é ministro da Defesa. 10 de Dezembro de 2002: greve geral convocada pela CGTP-IN contra o Código do Trabalho de Bagão Félix António de Sousa, que transitara directamente de governador do Banco de Portugal em 2000, mantém a presidência do banco. O mandato foi de curta duração por incompatibilidades entre o presidente e Mira Amaral, que passou a ser o único vice-presidente do conselho de administração da Caixa. Presidente PSD Foi secretário de Estado em ambas as maioria absolutas de Cavaco Silva, com várias pastas. Preparou a adesão ao euro como governador do Banco de Portugal (1994-2000). Depois de sair da CGD, integrou a adminsitração da Brisa e European Advisory Board do JP Morgan Chase. Vice-Presidente PSD Ministro de todos os governos de Cavaco Silva, foi eleito deputado pelo PSD em 1995. Antes de chegar à Caixa, foi administrador do BPI (1998-2002). Em Setembro de 2002 passa à situação de aposentação, o que não impediu que tenha passado pela EDP, a Unicer, a Cimpor, a Vista Alegre e a Repsol. Foi presidente do BIC, comprador do BPN após a sua nacionalização, entre 2007 e 2016 Vogal PSD É administrador da Galp desde 2012. Dirigiu a Bolsa de Valores de Lisboa (2005-2010) e tem passagens pelos conselhos de administração da Jerónimo Martins e da Brisa. Vogal PSD Fez carreira no Banco de Portugal antes de ingressar na administração da CGD. Manteve cargos de administração em empresas participadas pelo banco público, nomeadamente no ramo segurador, na banco de investimento e nas sucursais em França e no Luxemburgo até 2011. É, desde então, vice-governador do Banco de Portugal. Vogal PS Vogal PS Foi ministro em todos os governos de Mário Soares e deputado do PS (1976-1987). Passou pela administração de várias empresas entretanto privatizadas depois da última experiência governativa, na Petrogal (1986-1988), na Quimigal (1989-1993) e na Covina (1992-1993). Vogal Vogal PSD Apesar de nunca ter sido eleito para cargos públicos, ocupou cargos de destaque na União Europeia desde a adesão de Portugal, em 1986. Foi membro do Comité de Política Económica, da Representação Permanente de Portugal e membro das delegações portuguesas aos conselhos europeus até 1992. Foi ainda chefe de gabinete do comissário europeu João de Deus Pinheiro, nomeado pelo PSD (1993-1999). É governador do Banco de Portugal desde 2010, tendo acompanhado a queda do BES e do Banif. Vogal Vogal PSD Trabalhou no BPI, no Borges & Irmão, no Fonsecas & Burnay, no Banco de Fomento Nacional e no Banco de Fomento Exterior, ocupando cargos de chefia. Foi secretário de Estado da Indústria de Cavaco Silva (1989-1995). Durão Barroso deixa o governo português para dar início a dez anos como presidente da Comissão Europeia Com a saída da anterior administração, regressa a divisão entre o PSD e o PS no topo da CGD, mas o destaque vai para a entrada do CDS-PP na divisão dos cargos sociais no banco. Celeste Cardona sai do Ministério das Finanças directamente para a administração da Caixa. Presidente PSD Participou em todo o processo de integração de Portugal na CEE e foi secretário de Estado dos Assuntos Europeus em todos os governos de Cavaco Silva (1985-1995). Coordenou as negociações dos pacotes Delors I e II, do mercado único europeu e do Tratado de Maastricht. Foi presidente da Jazztel Portugal (1999-2002) e administrador da EDP (2003-2004), antes da entrada para a presidência da CGD. Vice-Presidente PS Foi ministro em todos os governos de Mário Soares e deputado do PS (1976-1987). Passou pela administração de várias empresas entretanto privatizadas depois da última experiência governativa, na Petrogal (1986-1988), na Quimigal (1989-1993) e na Covina (1992-1993). Entrou no sector financeira como auditor na Price Waterhouse & Co., saltando para o Barclays em 1985, onde chefiou a sucursal portuguesa (1997-2002). Antes da entrada para a CGD, foi presidente da Bolsa de Valores de Lisboa. Em 2006 ingressou na administração do Banco Espírito Santo, onde se manteve durante o colapso do banco, saindo apenas em Setembro de 2014, já do Novo Banco. Vogal PSD Fez carreira no Banco de Portugal antes de ingressar na administração da CGD. Manteve cargos de administração em empresas participadas pelo banco público, nomeadamente no ramo segurador, na banco de investimento e nas sucursais em França e no Luxemburgo até 2011. É, desde então, vice-governador do Banco de Portugal. Vogal PS Vogal Vogal PSD Trabalhou no BPI, no Borges & Irmão, no Fonsecas & Burnay, no Banco de Fomento Nacional e no Banco de Fomento Exterior, ocupando cargos de chefia. Foi secretário de Estado da Indústria de Cavaco Silva (1989-1995). Vogal PSD Apesar de nunca ter sido eleito para cargos públicos, ocupou cargos de destaque na União Europeia desde a adesão de Portugal, em 1986. Foi membro do Comité de Política Económica, da Representação Permanente de Portugal e membro das delegações portuguesas aos conselhos europeus até 1992. Foi ainda chefe de gabinete do comissário europeu João de Deus Pinheiro, nomeado pelo PSD (1993-1999). É governador do Banco de Portugal desde 2010, tendo acompanhado a queda do BES e do Banif. Vogal Vogal CDS Foi deputada no Parlamento Europeu entre 1997 e 1999, e na Assembleia da República até 2002, sempre eleita pelo CDS-PP. É nesse ano que chega a ministra da Justiça, de onde sai directamente para a administração da CGD. Depois de se aposentar em 2008, integra os órgãos de sociais da EDP, a partir da última fase de privatização, em 2012. Vogal PSD Ocupou o cargo de secretário de Estado do Orçamento em dois governo (1993-1995 e 2002-2004), sempre indicado pelo PSD. Pelo meio foi director do Banco de Portugal. Enquanto administrador da CGD, presidiu ao BPN depois da nacionalização, acompanhando o processo de entrega ao BIC. 20 de Fevereiro de 2005: o PS vence as eleições com maioria absoluta. José Sócrates é nomeado primeiro-ministro. Muda o governo e a administração da Caixa, e o PS passa a ocupar a presidência e a vice-presidência. Mas a divisão pelos três partidos que se vão sucedendo no governo não cessa. Esta é a administração que, em 2008, se mudou de armas e bagagens para o BCP. Presidente PS Eleito deputado pelo PS em 1976, vai para a gerência da ANA no ano seguinte. A partir de 1992, ocupa lugares de destaque no grupo Champalimaud, seja na Mundial Confiança, seja no Pinto & Sotto Mayor. Em 1999 salta para o grupo BCP e para a Estroril-Sol, de onde sai em 2005 para presidir à CGD. Sai directamente para a presidência do BCP, cargo que ainda ocupa, levando consigo Armando Vara e Víctor Fernandes. Vice-Presidente PS Foi ministro em todos os governos de Mário Soares e deputado do PS (1976-1987). Passou pela administração de várias empresas entretanto privatizadas depois da última experiência governativa, na Petrogal (1986-1988), na Quimigal (1989-1993) e na Covina (1992-1993). Vogal PS Vogal PSD Fez carreira no Banco de Portugal antes de ingressar na administração da CGD. Manteve cargos de administração em empresas participadas pelo banco público, nomeadamente no ramo segurador, na banco de investimento e nas sucursais em França e no Luxemburgo até 2011. É, desde então, vice-governador do Banco de Portugal. Vogal CDS Foi deputada no Parlamento Europeu entre 1997 e 1999, e na Assembleia da República até 2002, sempre eleita pelo CDS-PP. É nesse ano que chega a ministra da Justiça, de onde sai directamente para a administração da CGD. Depois de se aposentar em 2008, integra os órgãos de sociais da EDP, a partir da última fase de privatização, em 2012. Vogal PSD Ocupou o cargo de secretário de Estado do Orçamento em dois governo (1993-1995 e 2002-2004), sempre indicado pelo PSD. Pelo meio foi director do Banco de Portugal. Enquanto administrador da CGD, presidiu ao BPN depois da nacionalização, acompanhando o processo de entrega ao BIC. Vogal PS Entre os vários cargos públicos que ocupou, destacam-se as presenças em ambos os governos de Guterres, primeiro como secretário de Estado e, a partir de 1999, como ministro. Acompanha Carlos Santos Ferreira a caminho do BCP. Foi condenado a multa por negligência no exercício do cargo que ocupou na CGD, em 2012. Em 2014 é condenado a 20 anos de cadeia por tráfico de influência, no processo Face Oculta. Voltou a ser detido em 2015, por suspeitas de corrupção, no âmbito do processo Marquês. Vogal PS Vogal PSD Apesar de nunca ter sido eleito para cargos públicos, ocupou cargos de destaque na União Europeia desde a adesão de Portugal, em 1986. Foi membro do Comité de Política Económica, da Representação Permanente de Portugal e membro das delegações portuguesas aos conselhos europeus até 1992. Foi ainda chefe de gabinete do comissário europeu João de Deus Pinheiro, nomeado pelo PSD (1993-1999). É governador do Banco de Portugal desde 2010, tendo acompanhado a queda do BES e do Banif. 13 de Dezembro de 2007: é assinado o Tratado de Lisboa, que torna o Banco Central Europeu numa instituição oficial e consagra como competências exclusivas da União Europeia a política monetária dos estados da zona euro. Entre 2006 e 2007 avançam as privatizações da Galp, da EDP, da REN, da Portucel e da Inapa. A polémica saída do presidente e de dois administradores para o BCP ditaram a alteração no conselho de administração. Faria de Oliveira, ainda hoje presidente da Associação Portuguesa de Bancos, entra e faz regressar a presidência do banco a uma figura do PSD. Os três anos são marcados pelo início da crise financeira e económica mundial. Presidente PSD Foi secretário de Estado em várias pastas e em todos os períodos em que o PSD esteve no governo, durante toda a década de 1980. É promovido a ministro do Comércio e Turismo (1990-1995), sendo eleito deputado pelo PSD nesse ano. É, desde 2012, presidente da Associação Portuguesa de Bancos. Vice-Presidente PS Vogal PSD Ocupou o cargo de secretário de Estado do Orçamento em dois governo (1993-1995 e 2002-2004), sempre indicado pelo PSD. Pelo meio foi director do Banco de Portugal. Enquanto administrador da CGD, presidiu ao BPN depois da nacionalização, acompanhando o processo de entrega ao BIC. Vogal PS Vogal PS Vogal PS Começou a carreira na banca no Pinto & Sotto Mayor, ainda público. Em 1994, já nas mãos de Champalimaud, ascende ao conselho de administração, de onde sai em 1996 para o grupo Banif. Em 2001 entra nos quadros da CGD, o que não o impediu de ser colega de Passos Coelho na polémica Fomentivest de ngelo Correia. Regressa ao Banif em 2012, banco que presidiu até à entrega ao Santander. Vogal O Banco Português de Negócios (BPN) é nacionalizado e incorporado na CGD, em Fevereiro de 2008 24 de Novembro de 2010: pela primeira vez desde 1983, a CGTP-IN e a UGT convocam uma greve geral. É assinado o acordo com a troika pelo PS, pelo PSD e pelo CDS-PP, em Maio de 2011, que reserva 12 mil milhões de euros para a banca privada. 5 de Junho de 2011: o PSD e o CDS-PP regressam ao governo. Passos Coelho é primeiro-ministro, Paulo Portas é ministro dos Negócios Estrangeiros. O modelo de gestão da CGD é alterado pelo governo do PSD e do CDS-PP, este último que volta a ter um representante na administração da Caixa. O banco passa a ter uma comissão executiva, onde reside o poder, e que é presidida por José de Matos, com Nogueira Leite e Norberto Rosa como vice-presidentes. Em 2012, o governo aprova um plano de recapitalização, com a entrada de 900 milhões de euros em «instrumentos financeiros híbridos». Presidente PSD Foi secretário de Estado em várias pastas e em todos os períodos em que o PSD esteve no governo, durante toda a década de 1980. É promovido a ministro do Comércio e Turismo (1990-1995), sendo eleito deputado pelo PSD nesse ano. É, desde 2012, presidente da Associação Portuguesa de Bancos. Vice-Presidente PSD Técnico do Banco de Portugal desde 1979, chegou a vice-governador em 2002, sendo o substituto de Vítor Constâncio nas reuniões do Conselho de Governadores do BCE e no FMI. Vogal PSD Depois de ocupar cargos em empresas, chegou a presidente da Bolsa de Valores de Lisboa em 1999, de onde saiu no mesmo ano. Foi nomeado secretário de Estado do Tesouro e das Finanças do segundo governo de Guterres até 2000, quando entrou para o Grupo Mello, onde administrou várias empresas. Nos três anos anteriores à entrada na CGD foi membro do Conselho Nacional do PSD. Em Junho de 2011 participou no encontro do Clube de Bilderberg. Vogal PSD Ocupou o cargo de secretário de Estado do Orçamento em dois governo (1993-1995 e 2002-2004), sempre indicado pelo PSD. Pelo meio foi director do Banco de Portugal. Enquanto administrador da CGD, presidiu ao BPN depois da nacionalização, acompanhando o processo de entrega ao BIC. Vogal PSD Vogal PS Vogal Vogal CDS Fundou a consultora financeira ASK, que geriu até à entrada para a CGD. Foi secretário de Estado dos Assuntos do Mar de Paulo Portas (2004-2005), dirigente nacional do CDS-PP e cabeça de lista por Santarém nas legislativas de 2005. Vogal Vogal Vogal PSD Fez carreira no BPI e na Faculdade de Economia da Universidade Católica do Porto. Foi conselheiro de David Justino no Ministério da Educação. Enquanto esteve no conselho de administração da CGD, acumulou os cargos com um lugar nos órgãos sociais da Unicer. O BPN é vendido ao BIC por 40 milhões de euros, em Julho de 2011. Os anos de 2012 e 2013 são marcados pelo «enorme aumento de impostos» de Vítor Gaspar. Entre Novembro de 2011 e e Junho de 2013, a CGTP-IN convoca quatro greves gerais. 5 de Junho de 2011: o PSD e o CDS-PP regressam ao governo. Passos Coelho é primeiro-ministro, Paulo Portas é ministro dos Negócios Estrangeiros. Faria de Oliveira dá o lugar a Álvaro Nascimento, mas a comissão executiva continua a ser presidida por José de Matos. O CDS-PP sobe na hierarquia, com Nuno Fernandes Thomaz a ser nomeado vice-presidente da comissão executiva. Prossegue o plano de reestruturação, que leva à saída de milhares de trabalhadores e à redução da presença em Espanha. Presidente PSD Fez carreira no BPI e na Faculdade de Economia da Universidade Católica do Porto. Foi conselheiro de David Justino no Ministério da Educação. Enquanto esteve no conselho de administração da CGD, acumulou os cargos com um lugar nos órgãos sociais da Unicer. Vice-Presidente PSD Técnico do Banco de Portugal desde 1979, chegou a vice-governador em 2002, sendo o substituto de Vítor Constâncio nas reuniões do Conselho de Governadores do BCE e no FMI. Vogal CDS Fundou a consultora financeira ASK, que geriu até à entrada para a CGD. Foi secretário de Estado dos Assuntos do Mar de Paulo Portas (2004-2005), dirigente nacional do CDS-PP e cabeça de lista por Santarém nas legislativas de 2005. Vogal Vogal PSD Vogal Vogal Vogal Vogal Vogal Vogal Vogal Vogal Vogal O Banco Espírito Santo é alvo de uma medida de resolução, que dita a sua transformação em Novo Banco, com um custo para o Estado de 4,9 mil milhões de euros, em Agosto de 2014 O Banif é entregue ao Santander, depois de sucessivas capitalizações públicas, em Dezembro de 2015. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença. Muitas e muitos adversárias e adversários políticos também partilham frequentemente as reuniões das direcções de oportunas e convenientes fundações criadas e movidas por uma diversidade de respeitáveis objectivos e intenções, além de proporcionarem o investimento de dinheiros com origens muito ou nem tanto conhecidas. A confraternização de intrépidos adversários políticos pode estender-se durante incursões nocturnas através de ruas urbanas em auxílio piedoso de pessoas sem-abrigo, famintas, despejadas de casa e do emprego, enfim as infelizes vítimas da sorte madrasta, talvez da vontade inexplicável de Deus, nunca por acção da desumanidade da classe política, das barbaridades governativas – ou seja, deles próprios. «Considerando-se a proprietária da democracia, a classe política silencia e persegue as opiniões que não cabem nos seus limites de tolerância próximos de zero; defende os «direitos humanos» não segundo um conceito universal mas os aplicáveis apenas ao «Ocidente», acima de tudo os das minorias privilegiadas a quem serve. E desrespeita o trabalho e os trabalhadores, sobretudo quando podem servir de estorvo à farra de corrupção incentivada pela orgia em redor do casino financeiro, mola real do neoliberalismo» A classe política, com as suas fissuras muito mais de índole pessoal, normalmente ocasionadas por desencontros em matéria de ambições e ganância do que relacionadas com divergências «ideológicas» ou «estratégicas» de cariz político-partidário, funciona como um clube privado onde dispõe em benefício próprio dos serviços do Estado e dos cidadãos, não ignorando que podem estar a burlar o país e as pessoas. O hábito e a rotina acabam por eliminar quaisquer resquícios de consciência que possam ter aflorado num ou noutro caso. Mas como diz o povo, «o que mais custa é a primeira vez». Considerando-se a proprietária da democracia, a classe política silencia e persegue as opiniões que não cabem nos seus limites de tolerância próximos de zero; defende os «direitos humanos» não segundo um conceito universal mas os aplicáveis apenas ao «Ocidente», acima de tudo os das minorias privilegiadas a quem serve. E desrespeita o trabalho e os trabalhadores, sobretudo quando podem servir de estorvo à farra de corrupção incentivada pela orgia em redor do casino financeiro, mola real do neoliberalismo. Por alguma razão o tentacular aparelho globalista neoliberal deixou praticamente de produzir riqueza material, substituindo-a «ecologicamente» pela virtualidade da especulação financeira, com os riscos inerentes principalmente para quem acaba sempre por sofrer as maiores consequências das hecatombes bancárias e bolsistas. A classe política não reconhece qualquer expressão de vontade democrática que seja exterior aos seus padrões dogmáticos e corrompidos. Estendeu um manto de autoritarismo e controlo sobre a sociedade, reduziu o ser humano a uma peça de uma engrenagem temível à qual a propaganda e a manipulação de mentes e consciências atribui todas as virtudes quando, afinal, concentra as práticas e comportamentos cruéis que violentam o ser humano e degradam a sociedade. Não pode haver democracia plena sem dissolver a classe política como monstro corporativo nacional e transnacional. É uma acção de higiene e saúde pública, de restauração da cidadania, da democracia e da liberdade, uma urgência que compromete todos nós, cidadãos. Ou então ela sequestra por completo as nossas vidas, sem remissão. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença.Opinião|
O monstro que sequestrou a democracia (2)

A tragédia do país que se perdeu no «jardim»
Jacinda Ardern, ex-Primeira Ministra da Nova Zelândia (Trabalhista)Opinião|
O monstro que sequestrou a democracia (1)

Quando roubaram outra vez a voz ao povo…
Gonçalves Rapazote, deputado da União Nacional e ministro do Interior do regime fascista, com responsabilidade pela PIDE. Discurso de 1965O desenvolvimento de una vera famiglia
Dissolveram-se os rótulos, unificou-se a opinião
Contribui para uma boa ideia
O que torto nasce…
Partido único, partido-Estado
Opinião|
O Ocidente em decomposição

Uma clique dirigente à deriva
Que grande embrulhada!
Obstrução aos cereais, uma história falsa
Contribui para uma boa ideia
Um país arrasado pela «correcção democrática» de Abril
Opinião|
Um regime político marginal e anti-constitucional

Do preâmbulo ao derradeiro artigo
Editorial|
Revisão constitucional: ataque ao regime democrático e aos direitos fundamentais

Contribui para uma boa ideia
A inexistência nacional
Fraude da economia
Desprezo pelo trabalho e os trabalhadores
A falsificação da democracia
A última fronteira
Contribui para uma boa ideia
A grande farra
Opinião|
Soberania, essa palavra maldita

Como subsidiar o maior fundo extorsionista do mundo
Opinião
Os «nossos valores» sequestrados

Liberdade e democracia
Direitos humanos
Opinião|
A União Europeia morreu e ninguém a informou

Willy Brandt, chanceler da República Federal da Alemanha, 1974Salve-se quem puder
O que resta?
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
A maldição da soberania
Opinião
O nazismo ucraniano, ontem e hoje – uma trilogia (III)

3. Zelensky, a marioneta perigosa de um Ocidente em desespero
A tournée do desespero
Opinião|
O nazismo ucraniano, ontem e hoje – uma trilogia (I)

1. O decálogo assassino e a «grande democracia»
(sabedoria popular)Biografia sangrenta de Simchich
O ovo da serpente
A «pureza», segundo Dontsov
O primeiro «governo ucraniano» e o actual
Desfile de «heróis nacionais» nazis
Contribui para uma boa ideia
Negação criminosa
Terror em acção
Opinião|
O nazismo ucraniano, ontem e hoje – uma trilogia (II)

2. A «democracia liberal» guiada pela «raça pura»
(Dmytro Kotsyubaylo, comandante do grupo nazi Sector de Direita, condecorado como «herói nacional» pelo presidente Zelensky)Opinião|
O nazismo ucraniano, ontem e hoje – uma trilogia (I)

1. O decálogo assassino e a «grande democracia»
(sabedoria popular)Biografia sangrenta de Simchich
O ovo da serpente
A «pureza», segundo Dontsov
O primeiro «governo ucraniano» e o actual
Desfile de «heróis nacionais» nazis
Contribui para uma boa ideia
Branquear o que não tem branqueamento
Internacional|
Parlamento ucraniano aprova a proibição dos partidos da oposição

Internacional|
Zelensky suspende a actividade de 11 partidos políticos na Ucrânia


Contribui para uma boa ideia
Quando dá jeito, qualquer opositor é «pró-russo». Por seu lado, a extrema-direita prossegue, intocável
Internacional|
Combate à glorificação do nazismo volta a não contar com o apoio de EUA e aliados


Internacional|
Neonazis e veteranos da Waffen-SS voltaram a marchar em Riga

Glorificação do nazismo e reescrita da história
Repúdio da Rússia
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Uma democracia não-representativa
Opinião|
(Neo)fascismo, antifascismo e transição autoritária

Continuidades ou diferença?
Para que serve dar um nome ao que vivemos?
Antifascismo sem (neo)fascismo?
Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
E se, por hipótese remota, Shukhevych se converteu ao «pluralismo», devemos então deduzir que os seus herdeiros de hoje, comandados nominalmente pelo herói ocidental Zelensky, regrediram nesse aspecto. O regime, como se sabe, proibiu todos os partidos de oposição11 – o último foi o Partido Socialista – supostamente por terem apoiado os acordos de paz de Minsk, assinados pelo governo de Kiev. Recorda-se que a glorificação da violência foi um dos princípios fundadores do Estado ucraniano em Junho de 1941, em Lviv, sob o alto patrocínio de Stepan Bandera e dos ocupantes alemães.
Roman Shukhevych, entretanto, continua a ser alvo de homenagens e festivais de vários dias em sua honra. Às celebrações de 2017, por exemplo, seguiu-se um ataque a uma sinagoga12. Apesar de o anti-semitismo estar oficialmente extinto na Ucrânia e o chefe de Estado ser «um judeu».Nazismo à solta
Meios de comunicação como The Economist, The Guardian e mesmo a Rádio Europa Livre/Rádio Liberdade, um organismo de propaganda subordinado à CIA, admitiram mais de uma vez que grupos nacionalistas e «patrióticos» têm comportamentos ao nível das práticas, da simbologia usada e do culto da «pureza da raça» que remetem para a inspiração hitleriana.
Josh Cohen, ex-membro da USAID – instituição golpista conspirativa ao serviço do Departamento de Estado norte-americano – escreveu na revista Atlantic Council, subordinada oficiosamente à NATO, que «A Ucrânia tem um problema real com a violência de extrema-direita e não, não foi a RT (Russia Today, censurada no Ocidente) que fez esta manchete». Revelou que «o grupo neonazi C-14» é financiado pelo governo de Kiev para desenvolver «projectos de educação patriótica»14, que outras organizações nazis têm elementos desempenhando altos cargos, principalmente no Ministério do Interior, na polícia e nas Forças Armadas; e deduziu que «a impunidade da extrema-direita também representa uma ameaça perigosa ao Estado da Ucrânia». Ainda segundo Cohen, «não são as perspectivas eleitorais dos extremistas que devem preocupar os amigos da Ucrânia, mas sim a falta de vontade ou a incapacidade do Estado para confrontar os grupos violentos e acabar com a sua impunidade».A verdade da ditadura
Os «nossos» homens em Kiev
Em 2016, invocando sempre Stepan Bandera como referência, tornou-se chefe do Conselho de Segurança e de Defesa da Ucrânia. Foi igualmente presidente da Rada (Parlamento) através do partido do presidente Petro Porochenko, também ele ferozmente segregacionista, como se percebe consultando os seus discursos. O facto de Parubiy, oriundo do Azov, ter sido eleito pelos deputados da Rada como presidente da instituição é relevante para se perceber como o regime da Ucrânia, sobretudo pós-Maidan, atribui alguns dos mais altos cargos do Estado a banderistas confessos.Contribui para uma boa ideia
Zelensky e a moral da história
A farsa durou pouco
E chega o Colar da Liberdade para o ditador
Opinião|
O 25 de Abril e o convidado neonazi

Zelensky e Putin
Uma agressão ao 25 de Abril
Contribui para uma boa ideia
ukrainska-szowinistke-bilecki/Contribui para uma boa ideia
Sem referências, sem dignidade, sem futuro
Contribui para uma boa ideia
Amigos para sempre
Nacional|
Caixa, a grande porta giratória

1989-1993

Rui Vilar
Rui Jorge Martins dos Santos
Álvaro Pinto Correia
Amilcar Junqueira Martins

António Vieira Monteiro
Alexandre Sobral Torres
Rodrigo Marques Guimarães

José Falcão e Cunha
José Varatojo Júnior

Carlos Tavares
Maria Emília Freire



1993-1995

Rui Vilar

António Vieira Monteiro e Carlos Tavares
António Vieira Monteiro

Carlos Tavares

Rui Jorge Martins dos Santos
Álvaro Pinto Correia
Rodrigo Marques Guimarães
José Varatojo Júnior
Maria Emília Freire
António Paes Sousa Alvim



1996-1999

João Salgueiro

Alexandre Vaz Pinto e António Vieira Monteiro
Alexandre Vaz Pinto

António Vieira Monteiro

Rui Jorge Martins dos Santos
Álvaro Pinto Correia
José Varatojo Júnior
Herlânder Santos Estrela
José Manuel Pereira

António Tomás Correia
Alexandre Sobral Torres

Almerindo Marques


2000-2004

António de Sousa

Oliveira Cruz e Mira Amaral
Oliveira Cruz

Mira Amaral

Alexandre Sobral Torres

António Tomás Correia

Miguel Athayde Marques
Fernando Miguel Sequeira
Vitor Fernandes

José Ramalho



2004-2004

António de Sousa

Mira Amaral

Miguel Athayde Marques

José Ramalho
Vitor Fernandes

Maldonado Gonelha
António Vila Cova

Carlos Costa
José João Abrantes Coutinho

Luís Alves Monteiro

2004-2005

Vitor Martins

Maldonado Gonelha e João Freixa
Maldonado Gonelha

João Freixa


José Ramalho
Vitor Fernandes
António Vila Cova

Luís Alves Monteiro

Carlos Costa

Gracinda Raposo

Celeste Cardona

Norberto Rosa

2005-2007

Carlos Santos Ferreira

Maldonado Gonelha

Francisco Bandeira

José Ramalho

Celeste Cardona

Norberto Rosa

Armando Vara
Vitor Fernandes

Carlos Costa


2008-2011

Faria de Oliveira

Francisco Bandeira

Norberto Rosa

Rodolfo Lavrador
Araújo e Silva

Jorge Tomé
Pedro Cardoso




2011-2013

Faria de Oliveira

José de Matos

António Nogueira Leite

Norberto Rosa
Cabral dos Santos

Rodolfo Lavrador

João Nuno Palma

Nuno Fernandes Thomaz

Eduardo Paz Ferreira

Pedro Rebelo de Sousa

Álvaro Nascimento




2013-2015

Álvaro Nascimento

José de Matos

Nuno Fernandes Thomaz

João Nuno Palma

Cabral dos Santos
Ana Cristina de Sousa Leal

Maria João Carioca

Jorge Cardoso
Pedro Pimentel
Crespo de Carvalho
Vieira Branco

Eduardo Paz Ferreira

Daniel Traça
Pedro Falcão


Contribui para uma boa ideia
Contribui para uma boa ideia
Alguns figurantes e membros da classe política, hipocritamente tomados pelo espírito destes tempos, chegam a elogiar o facto de os militares de Abril terem defendido o empenhamento de Portugal no combate ao colonialismo e ao imperialismo; e são exactamente os mesmos que silenciam o genocídio colonial sionista na Palestina, concordam com o roubo das riquezas do Sahara Ocidental pelos países da União Europeia, com responsabilidade igualmente portuguesa. Os admiradores do fascismo económico de Pinochet, de Thatcher, Reagan e outros comparsas não hesitam até em identificar-se com os ideais do 25 de Abril.
Muitos dos que, quando chega esta altura do ano, não deixam de erguer os cravos vermelhos, evocam um 25 de Abril que nunca conheceram nem querem conhecer, e até emitem uma ou outra tirada antifascista, são os mesmos que não estão preocupados com o facto de Portugal ter o maior fosso de desigualdades na União Europeia, estar desaparecido como país, transformado num protectorado da eurocracia, da NATO, de troikas, do FMI e do Banco Central Europeu, asfixiado por uma moeda alheia, condenado a não passar de uma reserva turística; além de se ter transformado numa entidade orgulhosamente belicista. A «democracia participativa», um objectivo central dos militares de Abril que os deputados constituintes ainda inscreveram na Constituição, só não é um nado-morto porque nunca chegou a nascer. O 25 de Novembro agiu prontamente e, em vez de a conceber, preferiu dar à luz o monstro da classe política. Nada com que devamos surpreender-nos nestes tempos em que a propaganda, a mistificação e a mentira são, afinal, quem mais ordena.
«Muitos dos que, quando chega esta altura do ano, não deixam de erguer os cravos vermelhos, evocam um 25 de Abril que nunca conheceram nem querem conhecer (...)»
Há coisas que nunca mudam enquanto tudo parece mudar. Hoje, como há 50 anos, continua de uma actualidade gritante aquela oportuníssima canção em que José Barata Moura nos diz que «Cravo vermelho ao peito/A todos fica bem/Sobretudo dá jeito/A certos filhos da mãe». Em 1974, os «filhos da mãe» eram os salazaristas órfãos do velho regime, que se escondiam atrás do cravo enquanto mergulhavam de cabeça no PPD e no CDS, onde alguns ainda estão, outros deixaram semente e ainda outros assumiram mesmo a identidade salazarista fundando a Iniciativa Liberal, o Chega e mais algumas coisas do género.
Hoje já não há cravo capaz de disfarçar as multidões de «filhos da mãe» que para aí andam, farsantes que dissolvem o 25 de Abril no 25 de Novembro; para eles nem teria sido necessária uma revolução para derrubar o fascismo, bastava que o salazarismo/marcelismo imitasse a sábia transição conseguida pelo franquismo aqui mesmo ao lado.
A paz, esse anacronismo
Paz e independência nacional: dois dos princípios fundadores e identificadores da Revolução de 25 de Abril de que povo se apropriou rapidamente e com todas as suas forças. A paz matou a guerra colonial, devolveu os militares ao país acabando com a chacina a que o povo português e os povos das então colónias estavam submetidos pelo fascismo.
Sem a Revolução, e com a tal transição «ordeira», que ainda assomou através da Junta de Salvação Nacional mas que o povo logo marginalizou e rejeitou, a «solução» colonial teria sido bem diferente, tendo em conta as estratégias de António de Spínola que estavam a fazer o seu caminho. Estas ideias não passavam de um colonialismo com outra designação, mais gravoso até do que as modalidades neocoloniais postas em prática na sequência da independência de numerosos países africanos; o que certamente implicaria a continuação da guerra. A paz foi uma conquista inesquecível de Abril, mas afinal perecível nas mãos da classe política.
Durante anos, as escolas ensinaram que ao libertador 25 de Abril se seguiu um período de excessos revolucionários e que o 25 de Novembro teria devolvido a democracia portuguesa à sua pulsão original. Sucessivas gerações de jovens aprenderam, nos bancos das escolas, que ao libertador 25 de Abril se seguiu um período de excessos revolucionários em que a tentação de um regime totalitário de esquerda pairou sobre Portugal. O 25 de Novembro teria sido feito para afastar esse perigo e restituído a democracia portuguesa à sua pulsão original. Deste movimento, a democracia portuguesa, tal como a conhecemos, seria a mais directa herdeira, expressando os anseios da maioria do povo e não da minoria revolucionária que teria «usurpado» o poder no PREC de 1975. A permanente colaboração do «arco de governação» do regime – como se auto-designaram o PS, o PPD/PSD e o CDS/PP – foi tão estreita, durante quase 40 anos, que a simples perspectiva dos acordos de incidência parlamentar entre o PS e os partidos das bancadas à esquerda no Parlamento (PCP, BE e PEV) deixou a direita portuguesa (incluindo a que se encontra na orla do PS) em estado de choque, predestinando catástrofes e demónios (o «diabo» que aí vinha e que se perdeu no caminho), no que foi acompanhada pelos meios de comunicação de referência – habituados e adequados ao «centrão» – nos quais se desencadeou uma virulenta campanha contra a nova solução política. Dois anos depois, com muito ainda para fazer, o país confirma aquilo que os opositores à política de direita vinham de há muito a afirmar e a defender: que governar com a esquerda (mesmo se o governo não é de esquerda mas apenas unicolor do PS) é possível, necessário e benéfico não só para os trabalhadores como para os interesses do povo português. E que quanto mais forte for a esquerda consequente menos vacilante será a tentação de direita do governo PS, após ter ultrapassado o jejum de governação de vários anos. A «narrativa tradicional» foi desde sempre negada por aqueles que se afirmaram, ao longo destes anos, em teoria e na prática, herdeiros e defensores das conquistas revolucionárias obtidas pelos trabalhadores e pelo povo português com a Revolução de Abril, mas era aceite por todo o restante espectro político e de opinião. «o 25 de Novembro esteve na origem da destruição das conquistas da revolução» baptista Alves, coronel na reserva Recentemente, fruto do novo quadro político, têm surgido publicações que contestam a «narrativa tradicional» em vários aspectos. É o caso dos livros de Ribeiro Cardoso, O 25 de Novembro e os media estatizados, e de Miguel Carvalho, Quando Portugal ardeu, ambos publicados em 2017. No primeiro é posto em causa o pretenso «assalto aos meios de comunicação» que teria sido feito em 1975 por militantes revolucionários e exposto o violento processo de saneamentos e apropriação dos meios de comunicação que se seguiu ao 25 de Novembro. No segundo é o combate da direita (por vezes até ao PS, como fica claro) contra a pretensa «tentativa de sovietização» da sociedade portuguesa que se desmascara como não tendo passado de um pretexto invocado pela contra-revolução para desencadear uma campanha de violência contra civis e associações políticas que os seus representantes no actual parlamento sempre esquecem quando se trata de invocar os seus pergaminhos democráticos. É também o caso do, e mais recente, Diário da Contra-Revolução, apresentado ao público no passado dia 12 de Abril pela Associação Conquistas da Revolução (ACR). Para falar sobre o livro, que se publica por ocasião do 44.º aniversário do 25 de Abril de 1974, o AbrilAbril falou com dois dos fundadores e dirigentes da associação que tão firmemente tem pugnado pela conservação da memória da Revolução de Abril e dos revolucionários que a protagonizaram. A Associação Conquistas da Revolução (ACR) tem por mote «Defender Abril | Construir o Futuro». Criada em 2011, o seu objectivo é «preservar, divulgar e promover o apoio dos cidadãos aos valores e ideais da Revolução, iniciada em 25 de Abril de 1974, esse que foi o momento mais luminoso da História de Portugal, cultivando o espírito revolucionário e a consciência social progressista, com a construção de uma democracia política, económica, social e cultural amplamente participada, que a Constituição da República Portuguesa, aprovada em 2 de Abril de 1976, viria a consagrar». Além das diversas iniciativas que tem promovido e das edições que tem vindo a publicar, um dos pontos altos da sua actividade foi a realização, em 2014, do Congresso Conquistas da Revolução, por ocasião do 40.º aniversário da Revolução de Abril. Fomos recebidos pelo comandante Manuel Begonha e pelo coronel Baptista Alves, pouco antes do jantar comemorativo anual dos associados e amigos da ACR. Manuel Gastão Nunes Bacelar Begonha, capitão-de-mar-e-guerra engenheiro mecânico, teve uma participação destacada no chamado Processo Revolucionário em Curso (PREC), designadamente como membro do Conselho de Classes da Armada e da Assembleia do Movimento das Forças Armadas (MFA), Delegado do Conselho da Revolução e como coordenador da Comissão Dinamizadora Central (CODICE) da 5ª Divisão do EMGFA, sendo responsável pelas Campanhas de Dinamização Cultural e Acção Cívica. José Manuel da Costa Baptista Alves, coronel engenheiro electrotécnico da Força Aérea, regressou de uma comissão de serviço em Angola para integrar uma comissão civil no extinto Fundo de Fomento de Habitação durante os IV, V e VI governos provisórios, além de ter exercido diversos cargos militares no âmbito da sua especialidade. Manuel Begonha esteve à frente da direcção durante os primeiros mandatos dos corpos gerentes e é o presidente da Mesa da Assembleia-geral para o período de 2018 a 2021. Baptista Alves é o Presidente da Direcção no mesmo mandato. Ouçamo-los. A associação propõe-se «preservar a memória de Vasco Gonçalves» e dos militares e civis que participaram no processo revolucionário, recolhendo os testemunhos dos que viveram e protagonizaram esse período extraordinário da nossa história. «Sem deixar testemunhos», refere Manuel Begonha, «outros podem dizer o que quiserem» sobre os eventos desse período e as figuras revolucionárias que incorporaram a vontade de libertação do povo português, as quais, tendo responsabilidades no Estado saído da Revolução de Abril, se colocaram ao serviço das populações e da esperança destas num Portugal democrático e socialista1. O 25 de Abril «começou por ser um golpe de estado a que se seguiu uma revolução» protagonizada pelo povo, e é sob o impulso deste que as leis são criadas. Por essa razão – considera Manuel Begonha – «os decretos-lei publicados – sobretudo a partir do Segundo Governo Provisório, chefiado por Vasco Gonçalves – reflectem com veracidade o andamento da revolução». Aponta também que «a maior parte dos decretos-lei revolucionários, ao contrário do que se pensa, foi publicado durante a vigência deste governo», entre Setembro de 1974 e Março de 1975, e não depois da tentativa de golpe de 11 de Março. Os decretos-lei, afirma Manuel Begonha, «constituem um importante instrumento de consulta» para quem queira conhecer e compreender a verdadeira história da Revolução de Abril na sua fase ascendente e foi essa noção que impulsionou as primeiras publicações da Associação Conquistas da Revolução (ACR). Em 2014, a marcar o 40.º aniversário do 25 de Abril, a ACR publicou Vasco: nome de Abril e Conquistas da Revolução. O primeiro livro é dedicado ao militar que, à frente de quatro governos provisórios, entre Julho de 1974 e Setembro de 1975, desempenhou «um papel determinante» durante o período «mais exaltante, inovador e criativo da revolução portuguesa». O livro reúne os «depoimentos de 72 pessoas com conhecimento directo de Vasco Gonçalves» e ajuda a compreender melhor a personalidade do homem cujo nome se liga indissoluvelmente ao processo revolucionário e libertador em Portugal. Conquistas da Revolução reúne os decretos-lei que plasmam «os históricos avanços sociais, políticos, económicos e culturais» decorrentes da aliança entre o movimento operário e popular e os militares revolucionários do MFA, que se traduziram em «profundas transformações revolucionárias (liberdade; paz; direitos laborais, sociais e culturais; nacionalizações; reforma agrária; descolonização; independência nacional)» que viriam a ser consagradas na Constituição da República Portuguesa de 1976. A legislação é dividida por dois capítulos, «Liberdades de Abril» e «Processo revolucionário», sendo completada por depoimentos de Duran Clemente, Manuel Begonha e Modesto Navarro, e de um conjunto de anexos explicativos. Tratou-se de um «trabalho exaustivo de selecção sobre os decretos-lei representativos do período», em que, por vezes, «os preâmbulos eram mais importantes» do que os conteúdos legislativos. O coronel Baptista Alves foi o impulsionador do projecto editorial e, desde o início, previu a sua continuidade, desta vez historiando a contra-revolução legislativa que se desenvolveu a partir do Primeiro Governo Constitucional. O Diário da Contra-Revolução cobre, com metodologia igual à do precedente volume, os decretos-lei publicados entre 1976 e 1982, do primeiro ao oitavo governos constitucionais. A ordem cronológica dos decretos-lei mantém-se, sendo completada por uma série de «textos temáticos, testemunhos de revolucionários», abordando os direitos atingidos pela acção legislativa contra-revolucionária dos sucessivos governos nesse período. Colaboram na edição Abílio Fernandes, Américo Nunes, Avelãs Nunes, António Gervásio, Modesto Navarro, António Quintas, Carlos Carvalho, Carlos Silva Santos, Fernando Correia, Jorge Sarabando, José Ernesto Cartaxo, Lino Paulo, Maria José Maurício, Mário Nogueira, Marques Pinto, Nuno Lopes e Ribeiro Cardoso. «O futuro com que sonhei não é cada vez mais saudade, é, sim, cada vez mais, necessidade imperiosa. Assim o povo o compreenda» vASCO gONÇALVES Aí se coloca o «25 de Novembro como ponto de partida para a contra-revolução» que atingiu a economia (nacionalizações, reforma agrária), os direitos laborais (unidade sindical, controlo operário, contratos de trabalho), os direitos sociais (educação, saúde, habitação, direitos das mulheres, cultura, comunicação social) e mesmo as relações internacionais (integração europeia, relações entre Portugal e Angola). Os decretos-lei demonstram – afirma Baptista Alves – que «o 25 de Novembro esteve na origem da destruição das conquistas da revolução», sobretudo naquela operada durante os dois primeiros governos constitucionais, em que foram «tomadas as medidas mais destruidoras». O livro termina com a primeira revisão constitucional, em 30 de Setembro de 1982, na qual é extinto o Conselho da Revolução, e anuncia volumes posteriores, que prosseguirão a inventariação da contra-revolução legislativa – com particular atenção à que decorreu durante o período que ficou conhecido como do «cavaquismo» – até à derrota do governo PSD/CDS em 2015 e da criação de um novo quadro legislativo parlamentar. Em jeito de balanço, Baptista Alves distingue os dois períodos legislativos, o revolucionário e o contra-revolucionário, pela diferença da interacção entre as autoridades (governos e Estado) e o povo: no primeiro período «é o povo que faz a revolução e os decretos-lei andam atrás do povo»; no segundo período é «a contra-revolução» assente nos governos e no Estado que «pretende vergar o povo pela lei», recorrendo à repressão mais violenta sempre que necessário – como foi o caso dos assassínios de defensores da Reforma Agrária, no Alentejo, e de sindicalistas durante o 1.º de Maio de 1982, no Porto. Também afirma ser fácil distinguir os revolucionários dos contra-revolucionários na actividade legislativa realizada até à primeira revisão constitucional: enquanto «os primeiros afirmam as suas convicções claramente» nos preâmbulos que justificam a legislação produzida, os segundos alteram essa legislação dizendo-se, inicialmente, seus partidários, para «apenas mais tarde se assumirem como na realidade são: seus opositores» - é o caso, flagrante, da lei que a pretexto da unidade sindical combateu, efectivamente, esta. Ao despedirem-se, os dois militares chamaram a atenção para a frase de Vasco Gonçalves que encerra o livro: «O futuro com que sonhei não é cada vez mais saudade, é, sim, cada vez mais, necessidade imperiosa. Assim o povo o compreenda». É desta necessidade imperiosa, que a inversão de um longo processo contra-revolucionário vem de novo alimentar de esperança o povo português, que se construirão os caminhos do futuro. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença.Nacional|
Defender Abril com os olhos no futuro

Um mito que se desmorona
Uma associação para a memória de Abril
Contra o esquecimento do que verdadeiramente foi o 25 de Abril
A contra-revolução legislativa contra o 25 de Abril
Contribui para uma boa ideia
A promessa de independência nacional foi outro enorme motivo de esperança trazido pela sua Revolução. Os conceitos de paz e de independência nacional sobreviveram ao 25 de Novembro ainda a tempo de serem inscritos na Constituição da República, que entrou em vigor em 2 de Abril de 1976. Tal como o conceito de democracia representativa.
A Constituição, porém, foi transformada num instrumento volátil, um obstáculo para espezinhar sempre que convenha à classe política, sobretudo em matérias como a submissão aos interesses e ordens das oligarquias económicas e financeiras, à ditadura do mercado e perante as exigências ditatoriais da NATO e da União Europeia.
A Lei Fundamental determina o empenhamento de Portugal no combate pela abolição do colonialismo, do imperialismo «e de quaisquer outras formas de agressão, domínio e exploração»; na dissolução dos blocos militares; na criação de uma «ordem internacional capaz de assegurar a paz e a justiça entre os povos».
Comparemos agora a Constituição com o comportamento da classe política e dos órgãos de poder. Verificamos que foram devidamente corrigidos e «reformulados» pela prática política os objectivos, os anseios que possam ter sido considerados como frutos de enganos, exageros, romantismo e irrealismo dos capitães de Abril e dos próprios deputados constituintes. O país entrou «na ordem» como se não tivesse havido Revolução, como se não existisse Constituição da República.
País? Qual país? Em vez da independência nacional, certamente um conceito anacrónico, Portugal dissolveu-se na União Europeia, não tem moeda, não está autorizado a elaborar livremente o Orçamento de Estado e a gerir a dívida soberana; é uma base, uma caserna e um destacamento da NATO; destruiu o aparelho produtivo; vendeu ao desbarato os mais poderosos instrumentos da sua economia e das suas finanças; entregou a exploração dos bens e infra-estruturas a gigantescas oligarquias transnacionais; a sobrevivência dos meros resquícios de nação depende do seu funcionamento como reserva turística; um país com quase 900 anos de história não passa de uma peça do colonialismo e do imperialismo globalistas.
«País? Qual país? Em vez da independência nacional, certamente um conceito anacrónico, Portugal dissolveu-se na União Europeia, não tem moeda, não está autorizado a elaborar livremente o Orçamento de Estado e a gerir a dívida soberana (...).»
A defesa de uma política de paz foi, afinal, um engano dos militares de Abril, o erro mais grave em termos de perspectiva histórica num país fundador da NATO, uma opção ditada apenas pelo imediatismo de acabar com uma guerra invencível. A classe política quer fazer-nos acreditar nisso em cada dia da sua actividade.
O que essa casta nos assegura, em suma, é que nenhum país pode prescindir da guerra. A guerra é fundamental para alimentar o patriotismo mesmo que já não exista pátria. A guerra é uma fábrica de heróis, de feitos históricos, é o principal alimento da história de uma nação que se leve a sério (ainda que não passe de um holograma). O culto da guerra prestigia-nos entre os «nossos aliados», torna-nos presunçosamente grandes em influência mesmo que pequenos em área, moderniza-nos o equipamento militar, permite-nos ser generosos em dinheiro e armas para com «amigos» em dificuldades, mesmo que sejam nazifascistas, como a Ucrânia e Israel. Em boa verdade, até os administradores dos grandes fabricantes de armamentos têm de pagar as contas quando chega o fim do mês.
Não há forma de atingir a paz sem fazer a guerra, diz-nos qualquer ministro de Lisboa a Kiev, de Camberra a Washington, de Seul a Tóquio. A guerra permite-nos defender interesses económicos, mesmo que não sejam os nossos, em qualquer parte do mundo: novamente em África – um regresso bastante simbólico – no Afeganistão, na Bósnia-Herzegovina, no Kosovo, no Iraque, ou mesmo enviando barcos da Polícia Marítima caçar, internar em campos de concentração ou mesmo devolver à procedência e à morte refugiados de guerras em que estamos meritória e orgulhosamente presentes. Sem guerra não poderíamos cultivar o «nosso jardim» e protegê-lo da selva que o cerca e ameaça; não podíamos salvaguardar e expandir a nossa «civilização ocidental», a única que pode e deve existir para assim afirmarmos os «nossos valores», a «nossa superioridade moral», a nossa «cultura humanista», que tem sido um exemplo para o mundo nos últimos cinco séculos.
«A guerra permite-nos defender interesses económicos, mesmo que não sejam os nossos, em qualquer parte do mundo (...).»
Benjamin Netanyahu, que todos consideramos um grande humanista e um ainda maior democrata, explicou-nos há dias que as suas práticas genocidas e de limpeza étnica têm como preocupação fundamental a de «defender a civilização ocidental». É difícil encontrar uma circunstância mais relevante para exemplificar «a nossa superioridade moral», as «virtudes humanas» que florescem no nosso «jardim».
A guerra é igualmente fundamental para expandir a única democracia permitida, a nossa, através das regiões submetidas a ditaduras, quantas vezes encobertas por regimes mistificadores facilmente identificáveis porque ali os resultados nas urnas nunca são aqueles que desejamos, os únicos aceitáveis para que os interesses dos «nossos amigos e aliados» sejam respeitados. Há quem chame colonialismo e imperialismo a estes procedimentos, acusação que corresponde a conceitos velhos e anacrónicos através dos quais se pretende denegrir a expansão da «nossa superioridade moral» e que, infelizmente, contaminaram o pensamento dos capitães de Abril e a própria Constituição.
Colocar a paz à frente da guerra é uma atitude subversiva, uma ideia de lunáticos que devem considerar-se perigosos para o sistema. Portugal está em guerra, cercado – os inimigos ameaçam de todos os lados. Felizmente temos a União Europeia e a NATO para nos valerem: se tão desinteressadas instituições não nos tivessem acudido para emendar e apagar os efeitos dos dislates pacifistas e progressistas de Abril, onde é que nós já estaríamos?!...
Contribui para uma boa ideia
Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz.
O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença.
Contribui aqui