Na linha de espectáculos anteriores, como A Morte de Raquel ou As Castro, Raquel Castro traz-nos agora Ansioliticamente Falando. «Para fugir de si mesma, Raquel achou melhor não fazer mais um espectáculo autobiográfico. Decidiu então encenar a peça A Gaivota, de Anton Tchékhov. O plano parecia estar a correr bem quando voltou a dar de caras consigo mesma. Por mais que tente, a Raquel não se consegue ver livre dela. A sua vida está por toda a parte. Até em Tchékhov.» A sinopse não permite antever quanto do nosso mundo está condensado neste trabalho da Razões Pessoais, que amanhã se estreia no Pequeno Auditório do Centro Cultural de Belém (CCB), onde estará em cena até 9 de Novembro. A criadora e encenadora sobe ao palco com Paulo Pinto, Pedro Baptista, Joana Bernardo e Sara Inês Gigante. A conversa com Raquel Castro seguiu-se a um ensaio de imprensa.
Em que medida é que A Gaivota, de Tchekov, te ajudou a falar de ti e dos teus medos?
É curioso porque, quando comecei a trabalhar esta peça, não demorei muito tempo até chegar à ideia de criar esta ficção em que há uma encenadora a tentar montar um espectáculo e que depois se depara com a ansiedade como principal obstáculo à prossecução dessa encenação. É curioso porque, nas entrevistas que dei, houve pessoas que me perguntaram se isto aconteceu mesmo, ou seja, se eu comecei a tentar ensaiar A Gaivota e depois isto aconteceu. Não me ocorreu que as pessoas pudessem pensar isso. Mas eu lido muito com estas questões dentro do meu próprio trabalho, por estarem sempre neste território do autoficcional e do autobiográfico.
Portanto, lido sempre com esses limites da verdade e da mentira, com esse contrato que no fundo estabeleço com o espectador, uma espécie de ética interna sobre o que se está ali a estabelecer. Efectivamente, logo desde muito cedo percebi que era esta ideia e fui atrás dela. E escolhi A Gaivota porque é um texto em que as personagens carregam essas imensas inquietações, este mal-estar que está presente em todas as peças do Tchékhov. Mas esta, em particular, é uma peça de que eu gosto muito ou que se calhar conheço um bocadinho melhor, e achei que era a peça certa para, eventualmente, poder criar paralelismos entre a vida e o texto.
O humor tem um papel importante nesta abordagem?
Eu acho que o humor aparece como uma tentativa também de olhar para estes problemas, não diria com leveza, mas com algum sentido de humor, porque a vida vista numa escala macro também acaba por comportar às vezes mais humor do que quando estamos no nosso mundo individual. Ainda por cima, acho que nestas questões da saúde mental há muita solidão e as pessoas sofrem muito sozinhas e, portanto, é tudo muito difícil. E o humor surge aí um bocadinho, porque na escrita da peça e escolhendo aqui o que é que cada personagem pode trazer em termos das suas ansiedades, há uma necessidade muito grande que o problema se levante rapidamente e então acho que há um certo exagero na forma como as micro histórias de cada um vão sendo contadas, o que acaba por trazer algum humor, inevitavelmente.
Embora tratando-se de uma autoficção, consegues colocar vários temas (medos, dilemas) em perspectiva e às tantas é como se o público tivesse diante de si um espelho. Essa identificação é propositada?
Eu acho que isso é uma vontade constante, a mais desejada de todas, não é? Principalmente porque, fazendo este tipo de trabalho, corro sempre o risco de ficar uma coisa muito umbiguista. Portanto, tenho sempre essa preocupação em todos os espectáculos. Isto para mim já é muito clichê, mas tentar que, obviamente, o espectáculo e as questões saiam de uma esfera pessoal para uma esfera mais universal, mais pública. Portanto, isso é sempre uma necessidade que eu tenho, inerente à criação. Mas acho que tentando ir profundamente às coisas e escavando um bocadinho nas questões, normalmente também se vai, acho eu, a uma coisa mais fulcral, que eventualmente tem potencial para ser mais universal.
Admites haver aqui uma ambição de alertar para este mal da ansiedade em que vivemos, gerado por questões como a instabilidade no emprego ou na habitação?
Quer dizer, isso agora tem a ver com aquilo de que tu falaste, a identificação. Acho que há várias vontades aqui. Ou seja, obviamente que se vamos trazer uma questão sobre a habitação de uma das personagens, é natural que também haja uma identificação [do público], porque muitas pessoas estão nessa situação. Como há muitas pessoas que têm, tal como uma das personagens tem, uma ecoansiedade, que é uma coisa que eu não sabia que existia, mas que tem a ver com este medo permanente em que vivemos, da iminência das guerras e das alterações climáticas. Tentámos ir buscar aí coisas que se calhar estão à flor da pele dos dias que estamos a viver.
De resto, sendo um espectáculo que tem este tema por trás, e sendo este tema uma coisa com que, infelizmente, cada vez mais pessoas lidam, obviamente que ao trazê-lo para cima do palco é porque se quer falar sobre ele e deste tempo vertiginoso e frenético em que andamos todos, ou quase todos. Acho que é uma coisa sistémica também, não é? Portanto, não é só um problema individual, uma pessoa sofrer de ansiedade ou depressão, falando, neste caso em particular, destas duas doenças. Mas também é um sintoma do sistema em que vivemos, desta pressa com que andamos sempre: não há tempo para nada, as pressões são imensas, as necessidades de sobrevivência também. E, sim, apeteceu-me a ir a esse sítio.
A peça remete muito para as entranhas, do teatro e tuas. Há instantes falavas do perigo de o resultado ficar uma coisa «umbiguista», que desafios acarreta a escrita num registo mais confessional?
Acho que cada tipo de escrita comporta os seus desafios. Para mim, até é mais desafiante, hoje em dia, por isso achei mais interessante fazer uma peça desta natureza, que começa num lado mais ficcional e que depois se esboroa até esse lado mais confessional. É mais desafiante para mim escrever ficção e os diálogos dramáticos do que escrever uma coisa confessional, porque é um território em que estou mais habituada, na verdade. E isso também foi uma vontade minha, ou seja, também senti que dentro dos espectáculos que tenho feito, que têm um bocadinho dessa característica mais confessional ou mais próximas de um eu, achei que aqui podia ser também informalmente interessante desbravar outros caminhos, como já tentei fazer n'As Castro.
Ou seja, o espectáculo comporta coisas que também são vontades minhas de experimentar coisas novas, achando que isso pode tornar a coisa singular, útil e especial. Porque, no fundo, não há nada de novo. É como diz o Treplev na peça, que nós não usamos, mas é uma das situações mais conhecidas d’A Gaivota – é quando ele está a falar do teatro e da peça que vai fazer. Fala muito de encontrar novas formas, que o teatro está esgotado e bafiento, e já não há novas formas porque já tudo foi feito. Mas acho que para cada artista, individualmente, há sempre coisas que se podem explorar e essa era a minha vontade aqui.
Que preocupação ou cuidado tiveste na escolha do elenco?
Tenho só duas preocupações, sempre: serem boas intérpretes e serem boas pessoas. Mais do que tudo, para mim é muito importante que sejam boas pessoas, que sejam pessoas sensíveis, exactamente por causa disso. Porque estes territórios mais autobiográficos, no meu caso, como estou a trabalhar coisas sensíveis e como os processos acarretam alguma dor, gosto de estar rodeada de pessoas que têm sensibilidade para aceitar estas vulnerabilidades. Claro que é sempre numa perspectiva dramatúrgica, mas na verdade são coisas muito pessoais. E para mim é fundamental, também, para contrapor um bocadinho à herança que temos, já não há paciência para os abusos de poder.
Sem querer ser spoiler, quando ouvimos na peça que o teatro corrói, que sentimento é esse?
Identifico-me mais com aquilo que eu digo no fim. E, por acaso, tive um grande apaziguamento agora no processo do espectáculo, porque li um livro da Rosa Montero, que se chama O perigo de estar no meu perfeito juízo, que é sobre loucura e criatividade, em que ela fala mesmo sobre a criação dos artistas e das questões relacionadas com a criatividade, e com a maneira como os artistas funcionam.
«Como estou a trabalhar coisas sensíveis e como os processos acarretam alguma dor, gosto de estar rodeada de pessoas que têm sensibilidade para aceitar estas vulnerabilidades.»
E é sempre bom lermos coisas que nos fazem sentir que somos mais saudáveis do que aquilo que achamos (risos). O teatro não corrói, mas fazer objectos em que, por um lado, estou a verter as minhas dores para o teatro, isso é doloroso. Mas também é sempre bom, porque é quase construir uma coisa a partir de problemáticas que me inquietam. É bom poder operar sobre isso criativamente.
Na senda do trabalho autoficcional que realizas, já consegues identificar direcções futuras? O que te propões explorar em novos trabalhos?
Eu gostava de não ficar presa a nada, no fundo, ter a liberdade de fazer o que quiser e de poder fazer outras coisas. Também temos [nas Razões Pessoais] um projecto escolar, fizemos uma versão de Frei Luís de Sousa em 2024, que vamos repor para o ano. Estamos a trabalhar textos dramáticos que são dados na escola e a questionar a maneira como, através do teatro e do espectáculo, podem ser apesentados. E daqui a um ano estreamos um Auto da Barca nos mesmos moldes. Portanto, isso também são projectos que depois têm outra natureza e são muito cativantes, porque é muito giro ver um público juvenil a vibrar e fazer um Frei Luís de Sousa que destraumatiza Frei Luís de Sousa (risos), foi mesmo especial. Quanto ao trabalho mais autoral, logo se vê.
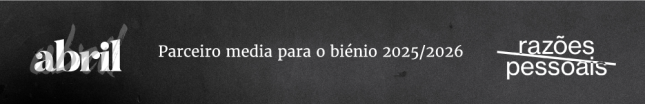
Contribui para uma boa ideia
Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz.
O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença.
Contribui aqui

